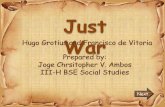Vitoria e o Porto
-
Upload
raul-felix -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
description
Transcript of Vitoria e o Porto
-
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010
A cidade de Vitriae o porto nos princpios modernos
da urbanizao no incio do sculo XX
The city of Vitoria and the port in the early modernurbanization at the beginning of the 20th century
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
ResumoAs principais iniciativas de reforma urbana ocorri-
das em Vitria no incio do sculo XX, no iderio
do poder pblico, aliaram saneamento, circulao
e remodelao da cidade. A noo de conferir a
Vitria um carter moderno, no sentido do pro-
gresso e da civilidade, apoiou-se nos discursos
sanitaristas que direcionaram o projeto moder-
nizador. Assim foi concebido um plano em trs
dimenses: as obras de estruturao e aparelha-
mento do porto, saneamento da cidade e a refor-
ma urbana. Seguindo o novo modelo urbanstico
que predominava no Brasil em fins do sculo XIX
e incio do sculo XX, nos princpios da higieniza-
o/modernizao europeia, Vitria aliou s refor-
mas urbanas as obras do porto, enquanto agente
maior do progresso do Estado e da modernizao
da cidade.
Palavras-chave: cidade; porto; modernizao; ur-banizao; discurso poltico.
AbstractThe major initiatives of the urban reform project occurred in the city of Vitria at the beginning of the 20th century, considering the idea that the public power had regarding the urban action on the city combining sanitation, traffic, and urban remodeling. The intention of attributing Vitria a modern character according to the progress ideals and on behalf of the civilization development was supported by the hygienists speeches that gave meaning to these reforms. In this context a plan was designed in three dimensions: the structure outworks and the port rigging, the citys sanitation and urban reform. Following the new predominant town planning model in Brazil at the end of the 19th century and during the first half of the 20th century, influenced by European sanitation/modernization ideas, Vitoria bounded the port recast to the urban reforms, as the major agent of the state progress and city modernization.
Keywords : t own ; po r t ; modern i za t ion ; urbanization; political speech.
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010566
Introduo
O grande desenvolvimento das cidades, princi-
palmente a partir do final do sculo XIX e incio
do XX, tornou-se um dos principais fenmenos
que caracterizam o mundo contemporneo. A
modernidade se alojou nas cidades, transfor-
mando-as em espao perfeito para reproduo
de sua prtica, suas inovaes e suas contra-
dies. Nesse sentido, cidade e modernidade
sero o verso e o reverso de um novo tempo,
marcado, simultaneamente, por um lado, de
novos conflitos e, por outro, em meio a uma
desconcertante abundncia de possibilidades
(Berman, 1997, p. 21).
Para Berman (ibid.), o sculo XX marca a
ltima fase do projeto sociocultural da moder-
nidade (iniciado em meados do sculo XVI),1 na
qual se d uma grande expanso do processo
de modernizao, abarcando o mundo todo, e
a cultura mundial da modernidade alteraria,
com triunfo, as condies econmicas, sociais
e o pensamento humano, sob novos conceitos
de poltica e valores. Nesse percurso histrico,
a cidade vivenciou os paradigmas do moder-
no e o iderio da modernidade em contraste
com o antigo e com o tradicional, principal-
mente na Europa Ocidental, onde essa noo
representava o que estava estabelecido antes
da industrializao, de sua expanso e de seus
benefcios.
A modernidade colocava novas pers-
pectivas no processo de desenvolvimento das
sociedades, principalmente a partir do sculo
XVIII, com o movimento intelectual e cultural
do Iluminismo, que exerceu profunda influn-
cia no pensamento e nas aes da humanida-
de, em dimenses filosficas, polticas, sociais,
econmicas e culturais. No campo do saber, a
razo, como exigncia universal, promove o
desenvolvimento do saber cientfico e a racio-
nalidade para explicar o mundo. Sob a tica do
progresso e da modernidade, o europeu avana
para o sculo XX expandindo o sentimento de
civilidade expresso, principalmente, nas formas
modernas de interaes sociais; agir, pensar e
se sentir de forma moderna, ou seja, estabilizar
e propagar a cultura do moderno (Rouanet,
1999).
na cidade que se d a realizao das
mudanas promovidas pela modernidade, em
um movimento dinmico, abrangente aos di-
versos segmentos da sociedade: civil, poltico,
econmico e religioso, estendendo-se aos de-
mais grupos que nela vivem e sobrevivem. Sua
infraestrutura urbana, alm de fundamental
para o desenvolvimento econmico, promove a
construo diversa de representaes refletindo
a realidade socioeconmica, cultural e poltica.
Nessa perspectiva, a ideia do progresso
vai caminhar aliada ideia de civilidade, ne-
cessria fora modernizadora que ultrapassa
os limites do tradicional atraso, derrubando
padres e valores antigos, dando lugar a no-
vos paradigmas universais de pensamento e
ao.
Nessa trajetria, as cidades mudam e, no
Brasil, a partir do final do sculo XIX e incio do
XX, essa fora modernizadora ganha destaque
quando se colocam em prtica aes de um dis-
curso no qual se privilegiam a urbanizao e a
higienizao das cidades, delimitando os distin-
tos espaos urbanos; o poltico, o econmico, o
habitacional e o cultural na funcionalidade da
urbe. Aqui se estabelece o grande momento de
mudana das cidades brasileiras, com destaque
para as cidades porturias.
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 567
Historicamente os portos so a entrada
de mercadorias, costumes e valores, ou desva-
lores, pensamento comum desde a antiguidade
clssica. Os portos as cidades porturias tm
desempenhado, ao longo dos tempos, um pa-
pel determinante no desenvolvimento do mun-
do moderno, constituindo-se como os principais
"ns" de uma rede de fluxos comerciais, finan-
ceiros, de mercadorias e de informao, em es-
cala global (Dal Ri Jnior, 2004). A identidade
porturia e martima das cidades sempre repre-
senta fator estratgico de desenvolvimento e o
porto, naturalmente, integra-se paisagem da
cidade como uma referncia de vida urbana.
no contexto dessas questes que de-
senvolvemos nosso trabalho, tendo como lcus
de pesquisa a cidade de Vitria (capital do Esp-
rito Santo, situado no Sudeste do Brasil), e seu
porto, na lgica da modernizao urbana do
incio do sculo XX.
A cidade e as mudanas urbanas no Brasil
Desde o incio do sculo XIX, com a transfern-
cia da sede do governo portugus para o Brasil
e a abertura dos portos, em 1808, promovendo
o rompimento do sistema de monoplio at en-
to predominante, e a Independncia, em 1822,
criaram-se novas condies para o processo de
urbanizao. De acordo com Costa (2007, p.
186), a interao do Brasil em movimentos in-
ternacionais de comrcio,
[...] eliminando a mediao portuguesa, numa fase em que o mercado internacio-nal se achava em plena expanso graas ao crescimento da populao, maior
distribuio de riquezas e melhoria do sistema de transporte, daria novo incen-tivo s funes comerciais dos ncleos urbanos, estimulando o desenvolvimento dos portos.
A partir da segunda metade do sculo
XIX, comeam a ocorrer, no Brasil, alguns mo-
vimentos importantes que vo criar novas
perspectivas na estrutura econmica e social
do pas, contribuindo para o desenvolvimento
relativo do mercado interno e estimulando o
processo de urbanizao. Nesse quadro inicial
de mudanas se incluem, num contexto refor-
mador, a transio do trabalho escravo para o
trabalho livre, a instalao da rede ferroviria,
a entrada de imigrantes estrangeiros, o movi-
mento republicano, as tentativas de industriali-
zao e o desenvolvimento do sistema de cr-
ditos. Esses movimentos derrubaram obstculos
na trajetria do Brasil para a modernidade e
para a urbanizao (ibid.).
O grande incremento urbano pelo qual
passavam determinados pases europeus a par-
tir do final do sculo XIX, refletidos nos aspec-
tos econmico, cientfico, cultural e material,
expressos no ideal da Belle poque,2 caracteri-
zado por uma nova maneira de o homem ver e
pensar o mundo, refletia-se no mundo ociden-
tal e, principalmente, no Brasil, que buscava se
inserir no contexto do moderno procurando
estabelecer no pas modelos que simbolizas-
sem civilidade dos centros mais desenvolvidos
da Europa, que representavam o centro dinmi-
co da modernidade e das reformas urbanas.
No Brasil, o processo de europeizao se
d pela importao de noes fundamentais
do mundo moderno, ainda que inicialmente
pelo vis da dimenso comercial. A chegada
da modernidade europeia, pautada nas bases
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010568
capitalista, tardia no Estado brasileiro. No en-
tendimento de Souza (2000), as ideias burgue-
sas e os valores universais entram no Brasil no
sculo XVIII atravs do movimento mercantil,
que trazia tambm noes de civilidade a mo-
dernidade chega ao Brasil de navio, na esteira
da troca de mercadorias (ibid., p. 245).
Essas consideraes nos remetem ao
pen samento clssico de que os portos so a
entrada de mercadorias, costumes e valores.
No Brasil, esse movimento vai estabelecer o
iderio da modernidade, aquele da Europa Mo-
derna e no ibrica, que desembarca no incio
do sculo XIX com a chegada da Famlia Real
e que traz elementos importantes de uma or-
dem moderna. As mudanas que passam a se
processar no Brasil desde o incio do sculo
XIX perpassam a noo de modernidade, im-
pulsionando mudanas culturais, econmicas,
ideias liberais e de conhecimento, mas como
resultado de uma forma especfica de euro-
peizao ou reeuropeizao. Trata-se de uma
revalorizao de valores ocidentais da cultura
europeia (Freire, 1990). Esse processo ganha
vulto nas principais cidades brasileiras, a partir
da independncia (1822), principalmente com
a instaurao dos princpios de uma nova cul-
tura urbana, que passa a considerar a oposio
entre valores locais tradicionais e os valores
europeus, mais universais e modernos, inicial-
mente estabelecidos na cidade do Rio de Janei-
ro, ento capital do Brasil.
At o final do sculo XIX, as noes de
modernidade e a modernizao, aliadas ur-
banizao, fizeram-se dentro dos limites das
cidades poltico-econmicas mais importan-
tes do pas. As principais funes urbanas se
concentraram nos centros exportadores, que
assimilavam os princpios de modernidade
como um cdigo de valores que implementa-
va um modelo, na gide da civilidade europeia,
materializando-se, sobretudo, na Inglaterra e
na Frana. As mudanas que se processavam
no Brasil desenvolvimento das redes de
transportes; abolio da escravatura; imigrao
e industrializao , enquanto agentes prticos
que simbolizavam modernidade, estimularam
a urbanizao, mas no foram suficientes para
alterar de forma efetiva a orientao da econo-
mia (Costa, 2007).
Assim, os padres tradicionais de urba-
nizao tambm no sofriam alteraes, com
exceo dos principais centros porturios ex-
portadores. As cidades permaneciam com suas
funes urbanas limitadas e pouco se trans-
formavam. A historiografia registra o grande
contraste que havia entre as cidades porturias
mais movimentadas e mais modernizadas e os
ncleos urbanos do interior, que se mantinham
na condio de extenses das zonas rurais. No
final do sculo XIX e incio do XX, a industriali-
zao viria promover a ampliao das funes
urbanas e alterar o perfil de algumas cidades,
incluindo cidades no porturias, mas que se
destacavam pela existncia de um mercado
interno mais desenvolvido e com melhor in-
fraestrutura na rea de transporte, principal-
mente ferrovirio. A ideia do progresso aliada
indstria, embora em estgio principiante,
passa a ganhar espao ao lado da prosperida-
de promovida pela dinmica da economia ca-
feeira (ibid.).
Nesse contexto, novos fatores viriam a se
somar aos j existentes, promovendo mudanas
sociais, econmicas e urbanas nas mais impor-
tantes capitais brasileiras, sobretudo naquelas
de crescimento emergente, localizadas na re-
gio Sul e Sudeste do pas.3
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 569
As cidades iniciaram, na ultima dcada
do sculo XIX, um processo de modernizao
que priorizou, notadamente, at os anos de
1930, a infraestrutura, o saneamento/higieni-
zao e o embelezamento urbano dos antigos
centros, na busca pelo iderio do moderno e ci-
vilizado. Os grandes centros urbanos brasileiros,
num movimento sincronizado, vo perdendo as
suas vestes arcaicas que trazem desde os tem-
pos coloniais. Nesse movimento, observamos
que na passagem do sculo XIX para o XX, no
conjunto da modernizao urbana, a reforma
porturia e o saneamento urbano entram em
pauta como signos do progresso econmico e
da instalao da modernidade. Exemplos des-
te processo so a cidade do Rio de Janeiro e
a cidade porturia de Santos, modelo seguido
pelas demais cidades porturias do Brasil.
O progresso cientfico na rea da sade
contribuiu muito para a prtica higienista que
acompanhou as transformaes implementa-
das no espao urbano e na habitao popular
coletiva (estalagens, cortios, casas de cmo-
dos e vilas) que apresentavam um quadro de
insalubridade no qual se agravavam peridicos
surtos de epidemias que atingiam as principais
cidades brasileiras. Para a adoo dos princ-
pios sanitaristas nas prticas urbanas, as inicia-
tivas exigiam, num primeiro plano, demolies
e saneamento de reas inundveis, degradadas
e insalubres, para promover a abertura de es-
paos pblicos disponveis para novos investi-
mentos urbanos, a eliminao de focos de con-
centrao de epidemias e o estabelecimento de
normativas para as construes. A incluso de
alguns sistemas de infraestrutura, como redes
de gua e de esgoto, so exemplos em que se
percebe a incluso conectada modernizao
urbana.
Foi inegvel a crescente fora da ideolo-
gia da higiene sobre alguns setores da socieda-
de brasileira da poca, noo que vai percor-
rer o ideal de reforma urbana at meados do
sculo XX, aliando o pensar mdico e o saber
tcnico da engenharia. A higiene das cidades
tornara-se um tema para a administrao p-
blica e os engenheiros sanitaristas se transfor-
maram ento nos grandes pensadores urbanos
do pas (Abreu, 2002).
Nas cidades litorneas, essa poltica tam-
bm se desenvolvia acompanhada de projetos
de ampliao e modernizao das instalaes
porturias, para adequ-las economia agro-
exportadora e para inserir as cidades nos fluxos
globais ligados ao movimento comercial. Assim,
os planos de urbanizao se apoiavam em trs
vertentes: a primeira, a do enfrentamento e eli-
minao de epidemias com aes sanitaristas;
a segunda, das medidas que visavam ao remo-
delamento do espao urbano e a terceira, a da
modernizao das estruturadas porturias.
Os Cdigos Municipais estabeleciam as
regras para a higienizao das propriedades
pblicas e privadas e para a limpeza pblica da
cidade. No que se refere fiscalizao, o poder
pblico estabelecia Inspetorias Sanitrias, con-
tando com fiscais do Servio Sanitrio do Esta-
do, para o trabalho de inspeo das condies
higinicas e para fazer cumprir as determina-
es previstas na legislao. Nessa perspecti-
va, leis e normas apoiadas na necessidade de
limpar a cidade, abrir espao de circulao, are-
jamento e no combate as doenas epidmicas
que no representavam novidade para a po-
pulao brasileira, ganham atualidade e so
combinadas com as mais modernas descober-
tas cientficas do campo biolgico (Bertucci,
1996, p. 83).
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010570
A ideia da salubridade, como meio de ga-
rantir e prevenir doenas contagiosas, aliada
interveno transformadora no espao urbano,
passava de forma articulada entre os planos
de reformulao e ordenamento do espao e
os projetos das obras de desenvolvimento do
porto. O espao de circulao comercial, de en-
trada e sada de mercadorias, obrigatoriamente
deveria ser higienizado, afastando as condies
de insalubridade e precariedade. nesse con-
texto que o projeto de salvar a cidade de epide-
mias que ameaavam a sade pblica priorizou
as reformas urbanas no final do sculo XIX e
incio do XX, em nome da modernidade.
As cidades porturias sempre constitu-
ram um suporte fundamental no processo de
desenvolvimento. Com as exigncias s novas
estratgias da reformulao urbanstica, as
mesmas deveriam estar em sintonia com os ob-
jetivos comuns conjugados na relao cidade-
porto. Relao onde se cruzam, no mesmo es-
pao de interesses interligados em favor do de-
senvolvimento, o porto (com seu componente
maior orientado para as relaes econmicas,
principalmente externas, projetando a cidade
em mbito nacional e internacional) e a cidade
(voltada para a promoo do bem-estar de sua
populao, conciliando o desenvolvimento eco-
nmico com as condies de vida urbana).
A interdependncia porto-cidade, que
se estabelece nas cidades porturias, e a for-
ma como ambos se afetam mutuamente em
termos de uso do espao sempre exigiu a de-
finio de estratgias urbansticas promovendo
uma harmonia e uma cooperao entre o porto
e a cidade, conciliando o movimento porturio
e a diversidade da vida urbana.
Nessa perspectiva, o discurso sanitaris-
ta/higienista vai dar forma e sentido a essas
reformas, na lgica do progresso e em nome
do alcance da civilizao. Esse discurso estar
presente em todas as capitais brasileiras, pro-
movendo as reformas urbanas, com influncia
europeia para pautar a urbanizao, os melho-
ramentos e o embelezamento das cidades.
No mbito das intervenes do planeja-
mento urbano, os princpios da cidade moderna
nas propostas para as reas centrais porturias
estaro diretamente associados higienizao
do espao urbano e medicina urbana, dian-
te do rpido crescimento comercial dos portos,
em funo da dinmica da economia cafeeira,
que expandia as atividades e o movimento
porturio para alm dos limites predefinidos
tradicionalmente no espao urbano, fato que
intensificava a associao funcional e espacial
direta entre cidade e porto.
De acordo com Pechman e Fritsch (1985,
p. 142)
A descoberta da insalubridade estava detrs da crise que se desenvolvia nas ci-dades em franco processo de crescimento [...] iria levar fundao da urbanstica moderna. A higienizao das cidades de-mandava a adoo de medidas to am-plas em seu tecido urbano que, no fim e ao cabo, sane-las acabava por significar reform-las em toda sua amplitude [...] tratava-se, em verdade, de replanejar as cidades, de escor-las em novos funda-mentos, de submet-las a novas formas de organizao.
No incio do sculo XX, a cidade do Rio
de Janeiro, principal porta de entrada do pas,
maior centro urbano nacional e capital do Bra-
sil, abrigava o mais importante porto brasileiro
(Follis, 2004) e materializou todo o interven-
cionismo urbano, sobretudo nas obras de me-
lhoramentos do porto no aterro de pntanos,
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 571
na construo do sistema de esgoto sanitrio,
na condenao das habitaes coletivas, e no
apoio a um urbanismo que promovia a cons-
truo de ruas largas e de casas higinicas
(Abreu, 2002, p. 168), que o processo de mo-
dernizao urbana colocou em marcha. A
capital superava o urbano modesto do sculo
XIX, avanando na modernizao tcnica do
sistema urbano e na construo de um cenrio
burgus.
A partir do incio do sculo XX, esse pro-
cesso de modernizao urbana, que j vinha
sendo implementado de forma tmida, passou
a sofrer intensas alteraes nas cidades, onde
o poder pblico passou a colocar em prtica
critrios tcnicos aliados ao iderio higienista,
viabilizando as grandes reformas urbansticas.
Reis Filho (2000, p. 100) diz que:
As mudanas institucionais estabelecidas pela Repblica, principalmente a comple-ta [...] liberdade de organizao empresa-rial que permitiu em curto prazo o incio da explorao dos recursos tecnolgicos j disponveis no mercado internacional e a concesso de autonomia aos esta-dos e municpios, para a instalao de infra-estrutura [...] foram de fundamen-tal importncia e necessrias [...] para a modernizao tcnica do sistema urbano e dos padres urbansticos das cidades brasileiras [...].
No final do sculo XIX e incio do XX,
o aperfeioamento e a expanso do sistema
ferrovirio simbolizavam o progresso no pas,
marcando as inter-relaes entre economia
cafeeira-ferrovia-porto. Se, de certa forma, no
plano nacional a ampliao das ferrovias vi-
sava atender s necessidades de integrao
nacional, nas cidades porturias essa iniciativa
seria coroada por razes de ordem econmica,
era fundamental escoar o caf das distantes
fazendas at os portos. A construo das fer-
rovias dinamizou a comercializao do caf e
os servios de melhoramentos dos portos. Esse
processo veio promover as primeiras iniciati-
vas para as novas intervenes urbanas, que
passariam a mudar o perfil das cidades que se
despiam das antigas configuraes coloniais
e ganhavam um perfil urbano mais moderno,
marcando a emergncia de um urbanismo liga-
do ao sanitarismo e engenharia (ibid.).
Nessa perspectiva histrica, as cidades
porturias brasileiras, principalmente enquan-
to espao de intercmbio comercial interno e
externo, desenvolveram uma estreita relao
entre o cotidiano urbano e o porto no contexto
das reformas urbanas e os ideais de moderni-
dade e do capitalismo.
Em Vitria, a construo do porto e o sa-
neamento da cidade no incio do sculo XX fo-
ram obras interligadas no quadro de transfor-
mao urbana e fizeram parte de um processo
atravs do qual se reorganizaram o espao e a
prpria face da cidade, num plano que articulou
as obras de estruturao e o aparelhamento do
porto, o saneamento da cidade e as primeiras
iniciativas de reforma urbana.
A cidade de Vitria e o porto
No final do sculo XIX, Muniz Freire,4 presiden-
te do estado do Esprito Santo, assim se referia
capital (Vitria) e ao porto:
Vitria, cidade velha de aspecto colonial, pessimamente construda, sem alinha-mento, sem esgoto, sem arquitetura, se-guindo os caprichos do territrio, apertada
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010572
entre a baa e um grupo de montanhas, no tem campo para desenvolver-se sem a dependncia de grandes despesas. En-tretanto possui um porto em condies admirveis, indiscutivelmente muito supe-rior a todos os outros do Estado e um dos melhores do Brasil. (Freire, 1896, p. 17)
A cidade de Vitria5 teve seu desenvolvi-
mento inicial nas proximidades do porto. Junto
ao porto, em terrenos conquistados com ater-
ros, surgiram as primeiras ruas de comrcio da
parte baixa, onde se instalaram os trapiches. Do
lado da colina, voltadas para o interior, havia
algumas outras ruas ao redor de uma pequena
enseada, aonde chegavam pequenas embarca-
es. At o final do Imprio, as ruas estreitas, o
porto desorganizado com trapiches, um simples
cais de madeira, o trnsito de centenas de car-
roas e as epidemias marcavam o espao urba-
no da capital capixaba, que mantinha um perfil
tipicamente colonial.
A partir desse contexto, podemos visua-
lizar como ocorreram as mudanas urbanas
iniciais em Vitria, apoiadas nos marcos da
modernidade, em princpios capitalistas e em
valores burgueses que viriam a orientar a evo-
luo urbana da cidade ao longo do sculo XX.
Nessa perspectiva, estruturou-se um plano de
reformulao urbana em trs dimenses; as
obras de estruturao e o aparelhamento do
porto, o saneamento da cidade e a reforma
urbana, aspectos que marcaram o perfil socio-
espacial da cidade, dinamizado pelo comrcio
do caf que direcionava as relaes cidade-
porto. O crescimento da economia cafeeira
mostrava o que era preciso para o desenvol-
vimento da produo e comercializao do
caf e alertava os governos do Estado quanto
ausncia de infraestrutura socioeconmica
e de transporte estadual e urbana da capital
(Siqueira, 1995).
Apesar de toda a deficincia dos mto-
dos de produo e dos meios de transporte, no
final do Imprio, o Esprito Santo j marcava
sua presena como um dos grandes produto-
res nacionais de caf, enquadrando-se na con-
juntura econmica brasileira, tradicionalmente
estruturada na produo de poucos produtos
para exportao. A agricultura de exportao
constitua a base da econmica no Brasil, sen-
do o caf o produto principal e maior gerador
de rendas e riquezas, marcando a economia
nacional, desde o incio do sculo XIX at a d-
cada de 1930, quando o Brasil inicia seu pro-
cesso de desenvolvimento industrial. Processo
esse que vai superar a agricultura na compo-
sio do Produto Nacional Bruto somente em
meados dos anos de 1950 (Fausto, 2008).
No Brasil, o desenvolvimento e a moder-
nizao dos principais portos esto, ao longo
da histria, intimamente ligados economia
cafeeira. Em Vitria, como nas demais cidades
porturias e exportadoras de caf, os portos
cresceram se mantendo por muito tempo em
condies insalubres, com o mnimo de meca-
nizao e espaos desorganizados. Alm desse
quadro de precariedade, as condies de higie-
ne e salubridade do porto e da cidade compro-
metiam o trnsito socioeconmico urbano, pro-
piciando o aparecimento de doenas de carter
epidmico. Esse cenrio, principalmente nos
portos de Santos e do Rio de Janeiro, comea a
sofrer algumas alteraes a partir da indepen-
dncia (1822).
Desde o meado do sculo XIX que come-
aram a se delinear planos de melhoramentos
dos portos, visando atender as necessidades
sempre crescentes do movimento comercial
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 573
martimo, principalmente em funo da expor-
tao do caf, produto que comandava as ex-
portaes do pas e que naturalmente passaria
a exigir melhoramentos nas precrias condi-
es de atracao e operacionalidades dos por-
tos. Nessa tendncia, o porto do Rio de Janeiro,
principal porto brasileiro e maior exportador de
caf do pas, seguido pelo porto de Santos, so
os marcos iniciais do processo de moderniza-
o (organizao e aparelhamento) porturia
nacional no final do sculo XIX. O porto de Vi-
tria vai iniciar esse processo somente a partir
de 1908.6
Nos primeiros tempos da Repblica at
a primeira dcada do sculo XX, Vitria ainda
no havia sofrido alteraes em seu espao
urbano, mantinha seu traado colonial, regis-
trado nos trapiches e pequeno cais de madei-
ra que atendiam ao porto, nas ruas estreitas
e desalinhadas, nas edificaes, nas ladeiras
e escadarias ligadas parte plana beirando o
mar, a cidade alta, que concentrava a elite, e
o poder local (poltico e religioso), na falta de
saneamento e no contexto socioeconmico. Os
morros e o mar marcavam os limites permitin-
do a ocupao em uma estreita faixa na parte
baixa da cidade expandindo-se para a parte al-
ta fronteira ao mar. O maior problema urbano
centrava-se na questo do saneamento. No
se registrava nenhum tipo de infraestrutura,
gua, esgoto e energia (Derenzi, 1965).
Vitria abrigava em 1900 um total de
11.850 habitantes, e as relaes de trabalho se
concentravam principalmente nas funes ad-
ministrativas, no comrcio e em poucas ativi-
dades liberais (Oliveira, 2008). Todo movimen-
to se dava no centro, nas mediaes do porto,
notadamente na Rua da Alfndega e na Rua
do Comrcio.7
No incio da Repblica (1889), teve in-
cio um modesto processo de desenvolvimento
da cidade de Vitria, com a construo de pr-
dios pblicos, tendo como modelo as linhas do
urbanismo francs, alargamento de ruas para
abrigar as novas casas comerciais e as empre-
sas de importao e exportao de caf. A au-
sncia de infraestrutura agravava o quadro das
constantes epidemias que se mantinham pre-
sentes na capital, sendo, nesse sentido, e com
o objetivo de afastar focos de doenas, que se
buscou alargar as ruas centrais prximas ao
porto, onde se concentravam o comrcio, as
primeiras casas de importao e exportao e
a sociabilidade urbana. Entretanto, o problema
persistia e as intervenes seguintes realiza-
das at o final do sculo XIX e incio do s-
culo XX, principalmente aquelas realizadas no
primeiro governo de Muniz Freire (1892-1896),
direcionavam-se a intervir na urbanizao do
centro da cidade com o propsito de mudar
as condies de precariedade com obras de
saneamento e aterros de reas pantanosas e
alagadias, aliando aos trabalhos, as primeiras
tentativas de estruturao do porto de Vitria
(Pires, 2006).
Apesar das crises de mercado e de pro-
duo que atingiam a economia cafeeira, a
expanso e a prosperidade desse produto agr-
cola, aliadas grande demanda e ao aumento
de preos no mercado externo, diversificavam
os comrcios locais. Em Vitria, as atividades
comerciais relacionadas ao caf/movimento
do porto, intensificavam a funo comercial
da cidade. E foi para acolher e dinamizar esse
comrcio que se desenvolveram as primeiras
obras de aterros na parte plana da cidade, pr-
xima ao porto, alargando e aproximando ruas
at as mediaes do cais do Imperador.8
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010574
A antiga aspirao poltica de transfor-
mar Vitria em um grande centro comercial,
em funo do seu porto, vai comear a se ma-
terializar a partir de 1908, no incio do governo
de Jernimo Monteiro (1908-1912). No sentido
de que o porto traz tradies, novos conceitos
e negociaes, e que essa tradio divulga o
porto e consequentemente a cidade de origem,
Vitria, a partir desta poca, comea a se es-
truturar num plano de urbanizao aliando
cidade/porto. A emergncia no estava apenas
em urbanizar a cidade, e sim em urbanizar pro-
movendo condies para o desenvolvimento e
expanso do porto.
O crescimento do porto estabeleceu a
necessidade de uma remodelao urbana, nu-
ma concepo que envolvia aes de sade
pblico-sanitria, medidas vinculadas aos no-
vos pressupostos de higienizao que se alia-
vam ao projeto de tornar o porto moderno e
organizado, buscando eficincia comercial e
operacional, pautada no binmio civilizao e
progresso. Princpios que envolviam o plano de
urbanizao da cidade em vrios aspectos.
Nesse contexto, as principais cidades
brasileiras no final do sculo XIX e incio do
XX, preparavam-se para dar passagem a um
processo de transio para uma cidade capi-
talista. Embora a predominncia estivesse
sob domnio do capital mercantil, a nova po-
ltica econmica republicana era determinante
quanto necessidade de mudanas urbanas,
adequando as cidades ao crescimento eco-
nmico e s atividades de exportao. Em
Vitria, a reestruturao do espao urbano
vai atender aos ideais da economia mercantil
pautada num iderio universal de que as ci-
dades representavam, o locus da modernidade
e lugar de culminncia de novas sociabilidades
e abrigo natural de novas ideias de progresso,
melhoramentos e mudanas.
As mudanas que se processaram a partir
do governo de Jernimo Monteiro seguiram um
novo e amplo conjunto de reformas urbanas,
buscando incorporar capital um modelo mo-
derno de hbitos e urbanizao, tendo o centro
da cidade como referncia maior para implan-
tao de obras, diante da emergncia de aes
pblicas em investimentos em infraestrutura
urbana.
A centralidade da cidade, enquanto por-
to, estava atraindo comerciantes e alterando o
perfil da populao. Os antigos problemas ur-
banos viam-se ampliados com o movimento do
porto que, sem nenhuma estrutura e/ou siste-
ma de vigilncia sanitria, agravado com a si-
tuao urbana de insuficiente sistema de gua
e esgoto e moradias precrias, fazia com que a
cidade fosse constantemente assolada por epi-
demias (Monteiro, 1909).
Tendo como prioridade as obras de sa-
neamento pblico da capital, os trabalhos se
desenvolveram no sentido de estabelecer um
sistema de gua, esgoto, energia e, inclusive,
bondes eltricos, aterro de mangues, cons-
truo de parques, construo de novas ruas,
alargamento e calamento de ruas antigas,
construo de edifcios pblicos, da Santa
Casa de Misericrdia e enterramento de ce-
mitrios localizados no centro da cidade per-
tencentes s irmandades religiosas existentes
na capital,9 construo de um novo cemitrio
pblico, em local distante do centro e das
mediaes da rea comercial e residencial, o
existente ficava em anexo ao Convento de So
Francisco, na cidade alta. Monteiro elaborou
os primeiros processos transformadores de ur-
banizao ocorridos em Vitria e preparou a
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 575
cidade para um projeto maior de urbanizao
moderna, ocorrida posteriormente no governo
de Florentino vidos (1924-192) (Siqueira,
1995, p. 79). A Figura 1 mostra a cidade e o
porto em 1910.
Toda essa preocupao relacionada
questo de higiene na capital inseria-se num
contexto de saneamento material e ideol-
gico que se buscava impor aos habitantes de
Vitria. Seria necessrio no s dotar a cida-
de de infraestrutura, mas tambm moldar com
hbitos higinicos as camadas sociais, desde
as mais humildes, pois Vitria se apresentaria
como carto postal do estado, devendo estar
limpa e saneada em todos os aspectos (Pa-
lcios, 2007, p. 136). Neste caso, percebemos
que as aes se realizavam no por uma mo-
tivao unicamente poltica e econmica, mas
tambm pela relevncia do carter ideolgico
do projeto modernizador da cidade, que funda-
mentou a gesto do governo de Monteiro, num
projeto pblico voltado para a reformulao do
espao urbano, buscando atender um conjunto
de demandas socioeconmicas e polticas in-
terligadas num quadro de mudanas gerais da
capital.
Figura 1 Cidade e porto em 1910
Fonte: Acervo da Biblioteca Pblica Estadual. Vitria.ES. Vista de Vitria em 1910. Cais do Imperador e Cais da Alfndega.
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010576
O perfil urbano de Vitria muda a partir
da primeira dcada do sculo XX, reforando as
funes urbanas da cidade no sentido comer-
cial. At os anos 1950, Vitria vai manter sua
funo administrativa, enquanto sede poltica
do governo estadual, aliada funo comer-
cial e de prestao de servios. O espao
urbano expressava a modelao impressa pela
lgica comercial (Campos Jnior, 2002, p. 45).
A dinmica econmica local dava-se pelo mo-
vimento comercial do porto voltado, eminente-
mente, para o comrcio exportador do caf.
A funo de porto natural da capital
capixaba permitia acessibilidade do caf, em
princpio s da regio central e posteriormente
de todo estado, a outras regies do pas e ao
mercado externo. Tal condio dava a Vitria
a especificidade para desenvolver os servios
porturios atrelados funo comercial (ibid.,
p. 46).
Para isso, foram projetados inicialmente
os aterros de mangues e reas alagadias da
regio central da cidade e aterros ao longo da
parte fronteira ao Palcio do Governo (regio
de abrigo do Cais do Imperador), para alarga-
mento de ruas, possibilitando as obras do porto
de Vitria. Regio nobre e privilegiada da cida-
de, a rea do cais do porto completava o ce-
nrio composto pelo antigo conjunto arquite-
tnico, a escadaria, o palcio e a Igreja de So
Tiago, aglomerado na cidade alta em frente ao
mar. Esse conjunto foi despido do simples estilo
colonial para receber uma nova roupagem com
a completa reconstruo do Palcio do Gover-
no e seu conjunto, seguindo um estilo fran-
cs, nobre, moderno e suntuoso (Bittencourt,
Figura 2 Palcio Anchieta e escadaria 1908
Fonte: Arquivo Pblico Estadual. Vitria. ES. Palcio Anchieta e escadaria em 1908. Em frente ao Cais do Imperador.
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 577
2006).10 Nesse plano de reconstruo, a fren-
te do palcio se transporta da lateral (lado da
Igreja So Tiago para a parte fronteira ao Cais
do Imperador, ficando o ponto nobre da cida-
de assim composto: palcio/escadaria/porto.
A Figura 2 mostra o palcio e a escadaria em
1908.
Das principais reas alagadas do centro,
a regio do Campinho recebeu drenagem e
aterro e no seu lugar se estabeleceu a principal
rea de lazer da cidade o Parque Moscoso,
local de grande empreendimento paisagstico,
preferido para residncias das elites mais abas-
tadas da capital.
Aliadas aos projetos de melhoramentos
urbanos, tinha seguimento as obras de constru-
o do porto. Em maio de 1910, a Companhia
Porto de Vitria assinou contrato com a firma
C.H.Walker & Cia., que deu incio s obras do
porto, em 1911, com trabalhos de drenagem
do banco do porto e aterros s margens do
canal, a fim de expandir o espao fsico para
construo da primeira seo e segunda seo
do cais, devendo formar uma plataforma on-
de seriam construdos seis armazns de 75 por
15 metros cada um. Trs dos armazns seriam
destinados exclusivamente exportao de
caf, e os outros dois destinados importao
e exportao diversa. As duas estradas de fer-
ro, a Estrada de Ferro Sul do Esprito Santo e a
Estrada de Ferro Vitria Minas Gerais construi-
riam, nesta plataforma, uma estao para em-
barque e desembarque de suas mercadorias. O
porto seria dotado de equipamentos tcnicos e
mecnicos modernos, para o servio de carga e
descarga de mercadorias (Siqueira, 1995).11 A
Figura 3 mostra o cais e os trapiches do porto
em 1911.
Figura 3 Porto de Vitria e trapiches 1911
Fonte: Arquivo da Codesa. Vitria. ES. Porto de Vitria e trapiches em 1911.
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010578
Entre 1911 e agosto de 1914, os trabalhos
de melhoramentos do porto desenvolveram-se,
com obras internas no canal, e externas, ini-
ciando o lanamento de concreto nos alicerces
do cais, quando foram interrompidos devido
crise financeira provocada pela Primeira Guerra
Mundial, permanecendo paralisadas at 1924.
A Figura 4 mostra parte do cais e condies das
obras em 1914.
At o final de 1912, Vitria torna-se mais
habitvel quanto s condies sanitrias, com
servio de gua, energia pblica e domstica,
esgoto, servio regular de limpeza pblica, hos-
pital, isolamento para doenas contagiosas,
cemitrio pblico, polcia domiciliria, casas
populares, ruas pavimentadas, praas e jardins
pblicos, o Palcio do Governo Estadual e sua
escadaria reformados com nova arquitetura. O
transporte urbano, antes de trao animal, foi
eletrificado, estendendo-se ao longo da cida-
de, atingindo bairros prximos ao centro e as
obras do porto em pleno desenvolvimento (Pa-
lcios, 2007).
Num curto espao de tempo, a cidade
ganha um novo perfil urbano, num cenrio de
cidade civilizada, com ares de modernidade.
Reinava a celebrao do novo, num iderio de
urbanizar e civilizar, em um conjunto de mu-
danas que buscava atender princpios moder-
nos de esttica, urbansticos e econmicos.
Fonte: Acervo do Arquivo Pblico Estadual. Vitria. ES. Avenida Capixaba no final da dcada de 1930.
Figura 4 Cais e condies das obras 1914
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 579
At 1924, os novos governos do Estado
no conseguiram manter o ritmo dinmico dos
investimentos na conduo das obras pblicas,
principalmente aquelas relacionadas urbani-
zao e ao porto. No incio dos anos 20, a pro-
duo de caf estadual elevou o Esprito Santo
ao 3 lugar na produo nacional, enquanto
Vitria, o principal centro de comrcio do ca-
f, permanecia em condies urbanas difceis
e insuficientes, e com precria infraestrutura
porturia. Em 1924, o caf, que mantinha um
movimento crescente, estava gerando 90% das
rendas estaduais, exigindo novos investimentos
urbansticos para sua crescente movimentao
comercial. Nesse contexto, assume o gover-
no do estado o engenheiro Florentino Avidos
(1924-1928), com uma viso de progresso e de
evoluo frente de seu tempo (Bittencourt,
2006).
Com uma situao econmica mais fa-
vorvel e com apoio tcnico da Secretaria de
Servios de Melhoramentos Urbanos, criada
em 1923, o novo governo procurou orientar
sua poltica para o caminho das grandes obras
urbanas aliadas s obras do porto. Nesse senti-
do, as metas polticas para a continuidade das
obras que at ento permaneciam sem inves-
timento pblico em Vitria, concentraram-se
em quatro reas prioritrias: melhoramento
urbano e remodelao da capital; servios de
obras do porto e ponte metlica para ligao
do porto ao continente, estabelecendo a comu-
nicao ferroviria at a plataforma do cais;
ampliao dos servios de gua, esgoto e ener-
gia, destacando os servios de saneamento b-
sico da cidade e o transporte enquanto agente
prioritrio para o bom funcionamento do porto.
Procurou incrementar a consolidao da base
econmica (cafeeira), e os interesses do setor
agrrio exportador, que estava consolidando o
capitalismo internacional e integrava o Esprito
Santo na conjuntura econmica nacional.
Foram reiniciados os servios de melho-
ramentos urbanos da cidade e as obras do por-
to, que constavam de duas naturezas: internas
e externas, como concluso de obras no canal
da baa de Vitria e estruturao natural e
tcnica para encostamento de navios no cais,
concluso da primeira seo do cais com sua
devida infraestrutura tcnica e mecnica. A in-
fraestrutura da ponte seria o saneamento dos
encontros norte e sul (cidade x continente) com
o assentamento dos pilares sob o canal e da
superestrutura metlica da ponte, juntamente
com as obras de urbanizao e infraestrutura
bsica da rea que permeava a regio da ponte
dando seguimento ao porto.12
Das obras de urbanizao da cidade, Flo-
rentino Avidos conclui e ampliou os trabalhos
que davam forma ao projeto modernizador
iniciado por Jernimo Monteiro, seguindo prin-
cpios sanitaristas, urbansticos e de embeleza-
mento, notadamente sob a grande influncia
que exercia as ideias do urbanismo europeu,
principalmente o francs.
Das obras do porto, foram concludas a
ponte ligando Vitria ao continente, os servi-
os de saneamento da regio do porto, obras
internas no canal de acesso,13 alargamento da
primeira seo do cais e aterros para continui-
dade da extenso do cais e posterior constru-
o dos armazns. A Figura 4 mostra a baa de
Vitria, o porto e a cidade ao longo da Avenida
Capixaba no final da dcada de 1930.
A partir deste perodo, no houve mais
interrupes nas obras do porto e da urbani-
zao da cidade. Gradativamente, os trabalhos
foram sendo concludos e, no incio da dcada
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010580
de 1930, estavam construdos os armazns I, II
e III da primeira seo do cais, sendo que esse
cais foi concludo em 1937, quando apresentou
condies operacionais e tcnicas, permitindo
a segura operao dos navios diretamente no
porto. Entretanto, apenas em 1940 ocorreu a
concluso geral do porto, com o acabamento
da plataforma interna e seu aparelhamento
tcnico, sendo inaugurado o Cais Comercial
de Vitria, assinalando o comeo do atual
complexo porturio do Esprito Santo.14
Consideraes finais
Nas primeiras dcadas do sculo XX, no Bra-
sil, o iderio de urbanizao se pautava em
projetos influenciados por modelos europeus,
respaldados pela teoria higienista, atravs de
planos integrados de saneamento, criando o
cenrio de modernidade urbana. A lgica da
poltica higienista e do projeto modernizador
materializam um amplo plano de reformulao
urbana e embelezamento das cidades, marcan-
do um novo tempo na sociedade brasileira. A
cidade, lcus da dinmica mercantil da econo-
mia, enfrentaria mudanas urbanas capazes,
principalmente, de promover o desenvolvimen-
to do complexo agrrio-exportador. Nesse sen-
tido, tanto no final do Imprio quanto na Re-
pblica, passaram a priorizar as infraestruturas
de circulao, o saneamento e a urbanizao
das cidades porturias, objetivando garantir a
salubridade da regio que permeava os portos
e a maior eficincia do movimento comercial
porturio. As grandes transformaes urba-
nas so realizadas procurando, entre outros
objetivos, dinamizar o funcionamento dos
portos, evitando a proliferao de doenas
contagiosas.
Apoiados principalmente na legislao
de concesso dos servios pblicos, voltados
para transporte, saneamento, infraestrutura e
servios porturios, a poltica urbana atuou na
direo de prover as cidades de instrumentos
que viabilizassem seu melhor funcionamento
econmico e sociourbano.
Em Vitria, as mudanas seguiram a lgi-
ca da reforma urbanstica nacional, sobretudo
em relao ao importante elo entre a cidade
e o porto. As obras de urbanizao e organi-
zao porturia demarcaram as novas funes
da cidade e de seus espaos para novas de-
mandas sociais e econmicas que emergiam
na capital, principalmente em funo da eco-
nomia cafeeira.
No contexto das transformaes urba-
nas, o porto mudou o stio primitivo da cidade
e, na dcada de 1920, o cais do porto e a pon-
te sobre a baa deram a Vitria uma nova fisio-
nomia urbana, intimamente relacionada com
as atividades porturias, marcando a grande e
longa parceria entre a cidade e o seu porto.
Maria da Penha Smarzaro SiqueiraHistoriadora Econmica e Sociloga. Universidade Federal do Esprito Santo. Vitria, Esprito Santo, [email protected]
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 581
Notas
(1) O projeto sociocultural da modernidade, iniciado em meados do sculo XVI e que vai se consoli-dar no sculo XVIII, representa a primeira fase da modernidade, na qual a sociedade comeava a experimentar a vida moderna, mas sem percepo do contexto e sem ideia do que as atingia.
Uma segunda fase vai ser marcada pela revoluo francesa e se estender at o incio do sculo
XX, fase revolucionria que d vida a um grande pblico moderno e se expressar tambm na
forma de viver e de ver o mundo. No sculo XX, terceira e ltima fase, o processo de moderni-dade se expande de forma universal, a cultura mundial do modernismo vai atingir as sociedades
em toda sua dimenso. Ver Berman (1997).
(2) A Belle poque o perodo caracterizado pela expresso de grande entusiasmo vinda do triunfo
das conquistas materiais e tecnolgicas, entre outras invenes, nas ltimas dcadas do sculo
XIX e primeiras do XX. A poca tambm marcada pela ampliao das redes de comrcio inter-nacional e pela crena de que o progresso trazido pelo avano tecnolgico equacionaria tecni-camente os problemas da humanidade. As cidades tornam-se o local privilegiado desse momen-to e passam a se modernizar esteticamente, renovando suas feies de modo a se mostrarem
progressistas e civilizadas, termos comuns no perodo. A modernizao urbanstica tem como
marco inaugural a grande reforma urbana implementada em Paris pelo baro Georges Eugne
Haussmann, entre 1853 e 1869, que tornou a cidade o modelo urbano para varias regies do
mundo. Ver Follis (2004).
(3) Com destaque para a capital federal Rio de Janeiro , as capitais de So Paulo (So Paulo), Minas Gerais (Belo Horizonte), Paran (Curitiba) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre). O Esprito Santo,
embora localizado na regio geoeconmica mais dinmica do pas (Sudeste), produtor de caf, e
sendo sua capital Vitria cidade porturia, a mesma no se destacava enquanto cidade com
potencial de crescimento emergente, pela deficincia dos mtodos de produo no estado, dos
meios de transporte, da infraestrutura, pela condio de dependncia do Rio de Janeiro e inex-pressivas articulaes polticas com o poder central. Ver Siqueira (1995).
(4) Jos de Melo Carvalho Muniz Freire, jornalista e advogado, foi presidente do estado do Esprito
Santo em dois governos, o primeiro no perodo: 1892-1896 e o segundo: 1900-1904. Inauguran-do no seu primeiro governo a fase inicial de reformas urbanas na cidade de Vitria, com obras
de saneamento e a elaborao do projeto Novo Arrabalde (um novo bairro), prevendo abrir
espao para expanso urbana da cidade, anexando uma rea cinco vezes maior que aquela que
abrigava a capital (Oliveira, 2008).
(5) A conformao geofsica da cidade de Vitria ilha montanhosa de reduzida extenso ( uma das
de menor territrio do Brasil), com rea de apenas 93,381 km. Desenvolveu-se de forma con-gestionada entre as orlas, os morros e o brao de mar (seu porto). Siqueira (2001).
(6) O marco oficial da inaugurao do Porto de Santos 2 de fevereiro de 1892, quando a ento
Companhia Docas de Santos CDS, entregou navegao mundial os primeiros 260m de cais
organizado. O porto do Rio de Janeiro foi oficialmente inaugurado em 20 de julho de 1910, com
armazns e equipamentos em 800 metros de retrorea. O porto de Vitria oficialmente organi-zado foi inaugurado em 1940, colocando em condies tcnicas e operacionais o Cais Comercial
de Vitria. Veja Siqueira (1995). O Porto e a Cia. Docas de Santos. Santos, CDS, 1997. Cia.Docas
do Rio de Janeiro. Inaugurao do Porto do Rio de Janeiro. 20 de julho de 1910.
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010582
(7) Rua da Alfndega, atual Avenida Jernimo Monteiro e Rua do Comrcio, atual Avenida Florentino
vidos, ruas principais do centro da cidade.
(8) Cais do Imperador, construdo em 1859, para o desembarque do Imperador D. Pedro II, quando o
mesmo veio pela primeira vez veio visitar a Provncia do Esprito Santo, ficando assim denomina-do. Mattos (1864). Este cais originou o Cais Comercial de Vitria antigo cais do Imperador.
(9) A Irmandade da Misericrdia, Irmandade do Rosrio e Irmandade do Carmo. No Convento de So
Francisco foi estabelecido o primeiro cemitrio pblico de Vitria, todos com funcionamento
em condies precrias, motivo de preocupao das autoridades pblicas desde metade do s-culo XIX. A Santa Casa da Misericrdia foi construda seguindo as noes higienistas da poca,
em local de nvel elevado aos mangues, permitindo segurana em relao sade pblica (Piva
(2005). O cemitrio pblico foi inaugurado em 1912, no distante arrabalde de Santo Antonio,
extremo oposto no contorno da ilha, como outra medida de carter saneador, obra que deu fim
aos enterramentos nos antigos cemitrios localizados no centro da cidade (Palcios, 2007).
(10) O projeto de reconstruo do palcio do governo foi desenvolvido pelo engenheiro francs Jus-tin Norbert, constando no mesmo contrato a construo da Escola Normal e a reconstruo
da escadaria de acesso ao Palcio, obedecendo aos mesmos traos de arquitetura do Palcio
(Bittencourt, 2006).
(11) A primeira seo do cais, num trecho 355m de extenso, e a segunda com 500m de extenso.
Guindastes, guinchos, escadas, bollards, rampas, equipamento de segurana (Monteiro, 1912).
(12) No cabe neste trabalho analisar e dissertar sobre as questes financeiras referentes s obras
em questo, bem como aos projetos tcnicos e contratos nacionais e internacionais que impli-caram esse empreendimento. Nosso artigo pretende mostrar a relao direta do processo de
modernizao e urbanizao da cidade de Vitria com o desenvolvimento do seu porto.
(13) Reviso da dragagem do canal de acesso, dragagem dentro do ancoradouro e desmonte de ro-cha submarina, num volume de total de 27.000m (Avidos, 1928).
(14) Cais Comercial de Vitria, antigo Cais do Imperador construdo em madeira em 1859, deu ori-gem ao atual Complexo Porturio do Esprito Santo, que chegou ao final do sculo XX como o
maior em movimentao de cargas e nmero de portos do Brasil e da Amrica Latina.
-
A cidade de Vitria e o porto...
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010 583
Referncias
ABREU, M. de A. (2002). Pensando a cidade no Brasil do passado. In: CASTRO, I. E. de et al. (orgs.)
Brasil: questes atuais da reorganizao do territrio. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
AVIDOS, F. (1928). Mensagem do Presidente do Estado do Esprito Santo. Victria, Typographia do
Dirio da Manh.
BERMAN, M. (1997). Tudo que slido desmancha no ar. A aventura da modernidade. So Paulo, Cia.
das Letras.
BERTUCCI, L. M.(1996). As transformaes urbanas na imprensa operria: So Paulo, na virada do
sculo XX. In: RIBEIRO, L. C. de Q. e PECHMAN, R. (orgs). Cidade, povo e nao. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira.
BITTENCOURT, G. (2006). Histria do Esprito Santo. Do engenho colonial ao complexo fabril-porturio. Vitria, Multiplicidade.
CAMPOS JUNIOR, C. T. (2002). A construo da cidade. Formas de produo imobiliria em Vitria. Vitria, Flor&Cultura.
COSTA, E. V. da (2007). Da monarquia Repblica: momentos decisivos. So Paulo, Unesp.
DAL RI JNIOR, A. (2004). Histria do direito internacional: comrcio e moeda; cidadania e nacionali-dade. Florianpolis, Fundao Boiteux.
DERENZI, L. S. (1965). Biografia de uma ilha. Rio de Janeiro, Pongetti.
FAUSTO, B. (2008). Histria do Brasil. So Paulo, Edusp.
FOLLIS, F. (2004). Modernizao urbana na Belle poque paulistana. So Paulo, Unesp.
FREIRE, G. (1990). Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro, Record.
FREIRE, J. de M. C. M. (1896). Relatrio do Residente do Estado do Esprito Santo. 1892-1896. Victoria, Typographia Nelson Costa & Comp.
MATTOS, E. P. ((1864). Relatrio do Presidente da Provncia do Esprito Santo. Vitria, p. 26.
MONTEIRO, J. de S. (1909). Mensagem do Presidente do Estado do Esprito Santo. Victoria, Imprensa Official.
______ (1912). Relatrio do Presidente do Estado do Esprito Santo. Victoria, Imprensa Official.
OLIVEIRA, J. T. de (2008). Histria do Estado do Esprito Santo. Vitria, Arquivo Pblico do Estado do Esprito Santo/Secretaria de Estado da Cultura.
PALCIOS, W. D. C. (2007). A expanso dos espaos perifricos em Vitria durante o processo de urba-nizao na primeira republica (1889-1930). Dissertao de Mestrado. Vitria, UFES.
PECHMEN, S. e FRITSCH, L. (1985). A reforma urbana e seu avesso: algumas consideraes a propsito
da modernizao do Distrito Federal na virada do sculo. Marco zero, v. 5, n. 8/9. So Paulo.
PIRES, M. da C. F. (2006). Vitria no comeo do sculo xx: modernidade e modernizao na construo
da capital capixaba. Saeculum, n. 14. Revista de Histria. UFPB/Joo Pessoa.
PIVA, I. M. da P. (2005). Sob o estigma da pobreza. A ao da Irmandade da Misericrdia no atendi-mento pobreza em Vitria. Dissertao de Mestrado. Vitria, UFES.
-
Maria da Penha Smarzaro Siqueira
Cad. Metrop., So Paulo, v. 12, n. 24, pp. 565-584, jul/dez 2010584
REIS FILHO, N. G. (2000). Urbanizao e modernidade: entre o passado e o futuro (1808-1945). In:
MOTA, C. G. (org.). Viagem incompleta: a experincia brasileira (1500-2000): a grande transao. So Paulo, Senac So Paulo.
ROUANET, S. P. (1999). O mal-estar da modernidade. So Paulo, Cia. das Letras.
SIQUEIRA, M. da P. S. (1995). O desenvolvimento do porto de Vitria 1870-1940. Vitria, Codesa.
______ (2001). Industrializao e empobrecimento urbano: o caso da Grande Vitria, 1950-1980. Vi-tria, Edufes.
SOUZA, J. (2000). Modernizao seletiva: uma reinterpretao do dilema brasileiro. Braslia, UnB.
Texto recebido em 4/fev/2010 Texto aprovado em 19/maio/2010