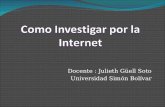UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA … · 2014-12-17 · lenguajear dentro de la biología del...
Transcript of UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA … · 2014-12-17 · lenguajear dentro de la biología del...
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
CAMPUS DE JOAÇABA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO
ELSON CESAR FACIN
LINGUAJEAR: IMPLICAÇÕES EM PROCESSOS
DE APRENDIZAGEM E FORMATIVOS
Joaçaba ▪ (SC) 2014
e-mail para contato « [email protected] »
ELSON CESAR FACIN
LINGUAJEAR: IMPLICAÇÕES EM PROCESSOS
DE APRENDIZAGEM E FORMATIVOS
Dissertação apresentada ao Programa de
Mestrado em Educação da Universidade
do Oeste de Santa Catarina – Campus de
Joaçaba – como requisito parcial para a
obtenção do título de Mestre em
Educação.
Orientador: Profº. Dr. Roque Strieder
Joaçaba ▪ (SC) 2014
F141l Facin, Elson Cesar
Linguajear: implicações em processos de aprendizagem e
formativos. / Elson Cesar Facin. UNOESC, 2014.
98 f.; 30 cm.
Dissertação (Mestrado) – Universidade do Oeste de
Santa Catarina. Programa de Mestrado em Educação,
Joaçaba,SC,2014.
Bibliografia: f. 84 – 88.
1. Ensino - Aprendizagem. 2. Conhecimento. I. Título
CDD- 372.28
Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Alvarito Baratieri – CRB-14º/273
AGRADECIMENTOS
Ainda bem lá no início, antes mesmo de eu
participar do processo de seleção do mestrado,
precisei contar com a compreensão e ajuda de
algumas muitas pessoas... E durante os meus
estudos não foi diferente.
Que a memória não me tenha falhado... Familiares, amigos, colegas,
aprendentes, professores, orientadores... muitíssimo obrigado!
ASSUNTA CATARINA BAZZO FACCIN CLARIMUNDO ANTÔNIO FACCIN
JOÃO NILSON PEREIRA DE ALENCAR ALCIDES ANTONIO FACIN GELTRUDES LUCIA FACIN
VILSON SARTORI MÔNICA FACCIN SARTORI LUCIMAR FACIN SABRINA FACIN THIBES
HEITOR SARTORI FERNANDO FACIN EMANUELA MARTINI FACIN
CLAUDEMIR ELCIO LOHMANN MARIA CLARA MARTINI FACIN CATARINA MARTINI FACIN
ADRIANA FACIN LOHMANN VICTOR ARTHUR LOHMANN “BILY” ▪ “SCOOBY”
ARLENE MARIA FERRI ELCIRA MARGARETH PINTO
ROQUE STRIEDER IVANA DE FÁTIMA SILVA MACHADO JANETE ZANATTA
JUÇARA EDITH STEFANES
ALISSON GARÇOA DE JESUS BRUNA EDUARDA DA CRUZ VANIA MARIA ALVES
ANA LAURA KATCHOR CARLA FATIMA DE OLIVEIRA GISELLE THAIS NERES CORSO
CAMILA PINHEIRO BORGES DANIEL BONETTI DE SOUZA
CHAIANE LETICIA TEIXEIRA DIANA DANIELA DA SILVA
GABRIELA IANK GARCIA DOS ANJOS DOUGLAS MANTOVANI
GUILHERME BOGONI MASCARELLO FABIOLA DA SILVA XAVIER
GUSTAVO HERNANY AMPOLINI FRANCIELE VOSS
JOAO GABRIEL FACHINELLO GABRIEL RODRIGUES PEGORARO
JOAO VICTOR HUGEN GUILHERME PISSOLI LEVANDOSKI
JOAO VITOR RUSKY MIGUELAO GUILHERME SANTANNA PARIZOTTO
KAMILY DACAZ GUILHERME TERMANN STEFANES
KEMILY RAQUEL LEITE ISABELA SAVARIS DOS SANTOS
LEONARDO NERES CORSO JACQUELINE MINELLA
LETICIA PEREIRA DUARTE KARINA KUHL
LISANDRA DALA LASTA LUANA RAMOS
LUANA LETICIA DOS SANTOS BERNARDINI LUCAS DOS SANTOS LEMOS
MARIA EDUARDA BISSANI MAIKY DA ROSA DA SILVA
MATHEUS MOLIN THAYNA DE OLIVEIRA
PATRICIA SCHUMANN VITTOR HENRIQUE DA SILVA
RAMON LUCAS FERRANDIN WILLIAN MATHEUS COSTENARO LEILA NOVELLO
WENDER LUCAS DE PAULA MARILENA ZANOELLO DETONI
WILLIAN ALEX BETTONI ELTON LUIZ NARDI
ORTENILA SOPELSA MARILDA PASQUAL SCHNEIDER
PAULINO EIDT LUIZ CARLOS LUCKMANN
CLENIO LAGO LEDA SCHEIBE MARIA TERESA CERON TREVISOL
LUIZA HELENA DALPIAZ MAURÍCIO JOÃO FARINON
LUIZ CARLOS BOMBASSARO
5
INGO BURCKHARDT
VALCÍRIA LICKS
GUSTAVO SIDNEI DE OLIVEIRA FOUNTOURA ANDRÉ DOS SANTOS
CLEUSA MORANDINI
THIAGO VENDRAME
ALETEONIR JOSÉ TOMASONI JÚNIOR ALINE SARTOREL
CAMILA REGINA ROSTIROLA
CASSIANE KNEBEL
DANIELI VIECELI DANIELE GALVÃO RODRIGUES
DURLEI MARIA BERNARDON REBELATTO
GABRIELA FRIZZO PATRÍCIO GEORGETE FERRONATO
JOSÉ GILVANE LAUER
JULIANA AMPESE LAZZAROTTI DIAS JULIO CESAR POZO DA FONSECA
KELLI REGINA GONSALVES DOS SANTOS ASSUNÇÃO LIZETE CAMARA HUBLER
LUIZ CARLOS CAMARGO
MAGDA CRISTIANE DETSCH DA SILVA
PAULA CRISTINA KLAHOLD RODRIGUES DOS REIS RENATO FRANKE
ROBERTA APARECIDA MARTINEZ
SANDRA CRISTIANE ENGEL VILA REAL SÉRGIO CORDEIRO RIGHI
SIRLANDA MARIA RODRIGUES PASINATO SUELI PERAZZOLI TRINDADE
TIAGO JOSÉ TEODORO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY
que
somos? O que é
humano? Habitualmente pensamos no
humano, no ser humano, como um ser racional,
e frequentemente declaramos em nos-
so discurso que
o que distingue
o ser humano
dos outros
animais é seu
ser
racional.
[...] Dizer
que a razão
caracteriza o
humano é um
antolho, porque
nos deixa cegos
frente à emoção,
que fica desvalorizada
como algo animal ou como algo que nega o racional.
HUMBERTO MATURANA ▪ Emoções e
linguagem na Educação e na política
"Umuntu ngumuntu ngabantu", which literally means
that a person is a person through other people. http://www.guardian.co.uk/theguardian/2006/sep/29/ features11.g2
Eu vos pergunto: – Qual é o peso da luz? [...] Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas – mas eu também?! Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim.
CLARICELISPECTOR ▪ A hora da estrela
TUDO QUE CESSA é morte, e a morte é nossa Se é para nós que cessa. Aquele arbusto Fenece, e vai com ele Parte da minha vida. Em tudo quanto olhei fiquei em parte. Com tudo quanto vi, se passa, passo, Nem distingue a memória Do que vi do que fui.
RICARDOREIS ▪ heterônimo de
FERNANDOPESSOA
RESUMO
Vinculada ao curso de Mestrado em Educação da Universidade do Oeste de Santa
Catarina – Unoesc – e guiada a partir da linha de pesquisa processos educativos, a
presente produção nasceu gestada e nutrida por importantes ideias do neurobiólogo
chileno Humberto Maturana Romesín. Ideias deste autor sobre o vivo e sua congruência
com o meio como a autopoiese, a biologia do conhecimento, a biologia do amor e,
especialmente, o linguajear são trazidas a partir de uma pesquisa bibliográfica para
reflexões a respeito dos processos de aprendizagem, formativos e de ensino. Essa
produção acadêmica surgiu da inquietação a respeito de como o linguajear poderia
contribuir para dinamizar processos de ensino e aprendizagem e a pesquisa bibliográfica
foi elaborada a partir de Maturana & Varela (1995, 1997), Maturana (2005, 2006),
Maturana & Verden-Zöller (2011b), Montagu (1988), Restrepo (2001), Waal (2010), além
de outros. No seu desenvolvimento, a pesquisa bibliográfica e a presente produção foram
orientadas à satisfação de três questões: compreender o linguajear no âmbito da biologia
do amor e da biologia do conhecimento, investigar possíveis contribuições do linguajear
como estratégia em processos de aprendizagem e formativos e refletir sobre as
possibilidades, no âmbito dos espaços educacionais, de o linguajear fecundar práticas
educativas mais afinadas às ideias do neurobiólogo Humberto Maturana. O curso de
reflexões desenvolvido nessa produção aponta para salutares viveres mais humanizados
no quefazer pedagógico ao se considerar as ideias que fundamentaram a pesquisa e
essa produção. Alguns exemplos desses viveres mais salutares nos espaços
pedagógicos apontados são: o linguajear como importante elemento modulador de falas
e condutas no dinamismo do conhecer, o tocar afetivo como fator de desenvolvimento
físico e psicológico do ser e a biologia do amor como promotora, por meio das ideias de
aceitação e validação do outro, de um fluxo recíproco entre educador e aprendente(s)
nos processos do conhecer.
Unitermos: Educação; Autopoiese; A Biologia do Conhecimento; Linguajear; A Biologia
do Amor.
ABSTRACT
This thesis is linked to the Master in Education course at Universidade do Oeste de Santa
Catarina – Unoesc – and guided from the line of research educational processes. It was
born gestated and nourished by important ideas of the Chilean neurobiologist Humberto
Maturana Romesín. The ideas of this author about the living and its congruence with the
environment as the autopoiesis, the biology of cognition, biology of love and especially the
languaging are brought from a literature research for reflections on the learning, human
development and teaching processes. This thesis arose from concerns about how the
languaging could help to stimulate teaching and learning processes and the literature
research was elaborated from Maturana and Varela (1995, 1997), Maturana (2005, 2006),
Maturana & Verden-Zöller (2011b), Montagu (1988), Restrepo (2001), Waal (2010),
among others. In its development, the literature research and the present thesis were
oriented to satisfying three issues: to understand the languaging within the biology of love
and the biology of cognition context, to investigate possible languaging contributions as a
strategy in learning and human development processes and to reflect on the possibilities
in the context of the educational spaces, of the languaging to fertilize educational
practices more in line to neurobiologist Humberto Maturana ideas. The course of
reflections developed in this thesis points to healthy living more humanized in pedagogical
making when considering the ideas that motivated this research and this thesis. Some
examples of these healthiest living in the mentioned educational spaces are: the
languaging as an important modulator element of speeches and conducts in the
dynamism of knowing, the affective touch as physical and psychological development
factor of the being and the biology of love as a promoter, through the acceptance and
validation ideas of the other, of a reciprocal flow between educator and learner(s) in the
processes of knowing.
Keywords: Education; Autopoiesis; Biology of Cognition; Languaging; Biology of Love.
RESUMEN
Vinculada al curso de Maestría en Educación de la Universidade do Oeste de Santa
Catarina - Unoesc - y guiada desde la línea de la investigación los procesos educativos,
esta producción nació gestada y alimentada por las ideas importantes del neurobiólogo
chileno Humberto Maturana Romesín. Las ideas de este autor sobre la vida y su
congruencia con el medio como autopoiesis, la biología del conocimiento, la biología del
amor y sobre todo el lenguajear son llevados de una búsqueda en la literatura para la
reflexión sobre los procesos de aprendizaje, formación y enseñanza. Esta disertación
surgió de la preocupación por la forma en que el lenguajear podría ayudar a agilizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje y la literatura se extrajo de Maturana & Varela
(1995, 1997), Maturana (2005, 2006), Maturana & Verden-Zöller (2011b), Montagu
(1988), Restrepo (2001), Waal (2010), entre otros. En su desarrollo, la literatura y la
producción actual se orientaron a satisfacer tres cuestiones: la comprensión del
lenguajear dentro de la biología del amor y la biologia del conocimiento, para investigar
las posibles contribuciones del lenguajear como una estrategia para los procesos de
aprendizaje y de formación y reflexionar sobre posibilidades dentro de los espacios
educativos del lenguajear fertilizan las prácticas educativas más en sintonía con las ideas
del neurobiólogo Humberto Maturana. El percurso reflexivo desarrollado en esta
producción es dirigido hacia exposiciones más saludables e humanizadas en la práctica
pedagógica cuando se lleva en consideración las ideas que fundamentaran la
investigación y esta producción. Algunos ejemplos de estos enseñanza más sana que
vive en las áreas mencionadas son: lenguajear como un importante elemento modulador
de líneas y tuberías en el dinamismo del conocimiento, juego afectivo como factor de
desarrollo físico y psicológico del ser y la biología del amor como un promotor, a través
de las ideas de la aceptación y validación de la otra, un flujo recíproco entre el educador y
el alumno(s) en los procesos de conocimiento.
Palabras clave: Educación; Autopoiesis; La Biología del Conocimiento; Lenguajear; La
Biología del Amor.
SUMÁRIO
CONSIDERAÇÕES PRIMEIRAS .............................................................................. 14
SEÇÃO I
LITERATURA (RE)VISITADA: CORPO, AFETO, EMOÇÃO, EDUCAÇÃO ............ 26
2.1 Analfabetismo afetivo .......................................................................................... 26
2.2 Carícia linguageira para com o conhecimento .................................................... 31
2.3 Mãos e dedos benditos ....................................................................................... 34
2.4 Pedagogia do tato: um (leve) roçar reflexivo... .................................................... 39
2.5 Resgate histórico: teorias da aprendizagem, modelos epistemológicos .............. 42
2.6 Dinamismo cíclico e autorreferencialidade no ser/existir: a autopoiese (o fazer- se a si mesmo) .................................................................................................... 47
2.7 Tênue entrelaçar de olhares entre modelos epistemológicos tradicionais e a teoria da autopoiese ........................................................................................... 53
SEÇÃO II
A BIOLOGIA DO CONHECIMENTO E A BIOLOGIA DO AMOR ABRAÇANDO O SER E O VIVER PEDAGÓGICO ........................................................................... 58
3.1 Passeio breve pelo mundo de Humberto Maturana ............................................ 58
3.2 Nas asas da Biologia do Conhecimento .............................................................. 60
3.3 No abraço da Biologia do Amor ........................................................................... 66
3.4 Mirando o linguajear com uma perspectiva fomentadora nos processos de en- sino e aprendizagem e também formativos ........................................................ 73
SEÇÃO III
SINTETIZANDO APONTAMENTOS ......................................................................... 79
4.1 Em afinidade com ideias apresentadas nessa produção ..................................... 79
4.2 Em afinidade com minhas vivências .................................................................... 82
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 84
APÊNDICES .............................................................................................................. 89
APÊNDICE 1: “Não vemos que não vemos” ............................................................. 90
APÊNDICE 2: A “Árvore Maturana” .......................................................................... 91
APÊNDICE 3: O cordeirinho e o contato materno ..................................................... 92
APÊNDICE 4: Formiga e mancha de tinta ................................................................ 93
APÊNDICE 5: A minha formiga ................................................................................. 94
APÊNDICE 6: A gatinha aqui de casa ....................................................................... 95
APÊNDICE 7: Bily ..................................................................................................... 96
11
APÊNDICE 8: A linguagem: exemplo para reconhecimento de coordenações consensuais de coordenações consensuais de ações ........................ 97
APÊNDICE 9: “Receita pra lavar palavra suja” – Viviane Mosé .................................. 98
Notas O que quero agora é convidar leitor, leitora, para um cum versare inicial. Cum versare, conforme Maturana (2003, p. 167), é um “dar voltas juntos” (com o outro); um passear na linguagem. Então, meu convite aqui neste território das notas é para um breve passeio na linguagem com o desejo meu de falar sobre algumas peculiaridades – se assim posso chamá-las – a respeito desta minha produção.
LINGUAJEAR A matéria física (visual e sonora), bem como as dimensões semânticas das palavras representam universos de possibilidades de concretizações, materializações, realiza-ções... Assim, a escolha consciente, fortuita, determinada, inconsciente... de uma ou de outras delas, creio, paira igualmente neste universo de possibilidades no aguardo de um convite nosso para concrematerializar-se... Assim, dentre as possibilidades de o neologismo “linguajear”, do espanhol “lenguajear” – Maturana (1993, p. 09), Maturana (2001, p. 12) – materializar-se na língua portuguesa como “linguajar”, conforme edições brasileiras das ideias de Humberto Maturana [favor conferir, por exemplo, Maturana (2006, p. 178), Maturana (2005, p. 21), Maturana (1998, p. 80)], eu desejei utilizar nesta minha produção acadêmica a grafia “linguajear”. Minha escolha visa a primeiramente manter um distanciamento do significado que conotamos à palavra “linguajar” na língua portuguesa: “falar muito; tagarelar...”; e também para resguardar espaço em relação a outro significado desta mesma palavra: “modo falar de características regionais; dialetos...” Assim, amparado numa edição de Maturana na língua portuguesa que muito me agradou, resolvi abrir presença em meu texto para a existência da grafia “linguajear” – Maturana (2011B, p. 09). Ainda, quero registrar buscas (25.out.2014) dos vocábulos “linguajar”, “linguajear”, “linguagear” e “maturana” (com ou sem combinações) num motor de pesquisa na internet em páginas brasileiras que trouxeram como resultados os seguintes dados: a) “linguajar”: Aproximadamente 631.000 resultados (0,11
segundos); b) “linguajear”: Aproximadamente 738 resultados (0,12
13
segundos); c) “linguagear”: Aproximadamente 586 resultados (0,11
segundos); d) “linguajar”+“maturana”: Aproximadamente 3.590
resultados (0,36 segundos); e) “linguajear”+“maturana”: Aproximadamente 623
resultados (0,36 segundos); f) “linguagear”+“maturana”: Aproximadamente 370
resultados (0,35 segundos).
“Transgressão”, preciso confessar que esta foi a primeira palavra que me encontrou numa conversa com um amigo quando lhe mostrei um esboço do leiaute que eu gostaria de dar a esta minha produção, já que, visivelmente (e visualmente) se percebe um não caminhar dela (tão) de mãos dadas com as normas técnicas que regem as orientações para apresentação e publicação de trabalhos acadêmicos, científicos... Se me for possível manter a originalidade formal de minha produção, esta nota que a acompanha tentará justificar o leiaute adotado: a) tentativa de tornar mais agradável a leitura desta produção,
bem como ser um convite à sua leitura; b) busca para exibir a escrita como (quase, se não) uma
extensão do corpo e do pensamento do autor, por isso os “arabescos” e “volteios gráficos” próximos (talvez) à feição de gesticulações da oralidade da fala;
c) esforço para dar uma aparência mais dinâmica às dimensões da palavra grafada, procurando modular as ideias e reflexões aqui apresentadas às expectativas da leitora, do leitor.
d) por fim, proponho um convite à reflexão: quando escolhemos um alimento, comer uma fatia de bolo, por exemplo, nossa escolha por uma ou outra fatia dele seguiria motivada pelo fato de ser bolo e ter o sabor que nos agrada ou levaríamos em consideração também a maneira como a fatia se nos fosse apresentada?
ORGANIZAÇÃO
FORMAL
(LEIAUTE) DESTA
PRODUÇÃO
FIO DE TOM
NARRATIVO QUE
AUXILIA A
URDIRA DESTA
PRODUÇÃO
CIENTÍFICA
A leitora ou o leitor que me acompanhar no passeio de reflexões que faço nas linhas tecidas da presente produção notará facilmente a presença de meada formada por tom narrativo: mescla de história(s) de vida com relato(s) de experiências vivificadas. Quero justificar a adoção deste proceder primeiramente porque meu convite neste texto todo é para um cum versare, depois, porque considero que a dimensão das reflexões que trago para bailar com o universo da Educação assim convidam.
1
O viver a docência e a discência é um existir humano que antes de convergir para
um sentido estritamente formal de educação espraia-se na dimensão do comungar a
existência, do viver as relações sociais, do compartilhar-se e ser compartilhado. Porque,
a aprendizagem humana tem o amor como princípio epistemológico, como fundamento:
nós nos construímos humanos pela cooperação e não pela competição. O amor é a
emoção humana que faz com que a socialização aconteça (MATURANA, 2011B), com que a
Sociedade Humana exista. “O ser humano não vive só. A história da humanidade mostra
que o amor está sempre associado à sobrevivência. Sobrevive na cooperação. Se a mãe
não acolhe o bebê, ele perece. É o acolhimento que permite a existência” 1
.
Dessa maneira, o menor delineamento que seja da compreensão dos processos
de ensino e aprendizagem refuta qualquer visão que deixe de considerar esta dimensão
primeira de (com/re)partir, do relacionar-se. E, conforme pretendo2 investigar e criar
reflexões nesses meus estudos, o elemento humanizador desse processo
(com/re)partilhado está intensamente relacionado ao linguajear (entrelaçamento da
linguagem nas dimensões: emoção e ação) – conceito cunhado pelo neurobiólogo
chileno Humberto Maturana Romesín.
Para Maturana, nosso (con)viver humano na linguagem, na dinâmica do processo
comunicativo nosso de todo instante, é definido como linguajear. Conforme explicita
Augusto de Franco (2001, p. 24), esse neologismo “faz referência ao ato de estar na
linguagem, sem associar tal ato à fala, como ocorre quando empregamos a palavra
‘falar’”. O linguajear representa, antes, um estar-se na linguagem dentro de um fluxo de
“coordenações de coordenações comportamentais consensuais” (MATURANA, 2011B).
Na atualidade de reflexões sobre o vasto campo educacional, não me parece – e
não só a mim, mas a muitos estudiosos também – mais adequado conceber a educação
apenas como um processo humano que envolva os tradicionais três elementos:
educador-conhecimento-aprendente numa relação estritamente objetiva em que o
conhecimento é tratado como um elemento (quase) material distante e que não guarda
1 Humberto Maturana em entrevista à revista Bons Fluídos, edição 160 – julho/2012. Disponível em
http://casa.abril.com.br/materia/entrevista-humberto-maturana-e-a-importancia-do-amor. Acesso em: 07 de abr. 2014.
2 Meu texto se constrói com a conjugação verbal guiada na primeira pessoal do singular. Porém, o uso do
“eu” não implica produção desvinculada de um “nós” (orientador, colaboradores...), nem reflete pretensão de autoria/produção individuais; minha escolha por esta opção de voz é apenas um recurso de estilo.
15
nenhuma afinidade subjetiva com seu transmissor/mediador. Minhas ideias
compartilhadas nesta produção se afinam às de Barcelos (2006, p. 584) “defendo neste
texto, um olhar sobre a aprendizagem que privilegie a liberdade imaginativa; a
amorosidade na relação pedagógica; o cuidado de si, como pressuposto para a
aprendizagem de qualquer conhecimento; o reconhecimento do outro como legítimo na
sua diferença e em seu modo de ser e de estar no mundo...” Além disso, importa
destacar que o saber acadêmico está entrelaçado à emoção: “é impossível desconhecer
o papel da emoção como moduladora e estabilizadora dos processos de aprendizagem,
nem deixar de pensar na aventura pedagógica como uma busca afetiva de figuras de
conhecimento, compromisso passional que busca com afã afundar sua pegada na grade
intelectiva” (RESTREPO, 2001, p. 15).
A temática debruçada sobre a educação a respeito da qual me proponho a
investigar e refletir não é empreitada nova e tão original, mas o caminho a que me
disponho a seguir guarda menos rotas já trilhadas que os caminhos até então
construídos.
E como falar de educação é também falar de vida, de história de vida, apresento a
seguir um pouco do meu caminho vivi(construí)do até o meu despertar para este meu
presente estudo acadêmico e, quiçá, além...
O sonho de chegar ao curso de estudos em nível de mestrado para mim sempre
esteve muito distante; talvez nem se configurasse mesmo em sonho. Eu o tinha mais
como um leve delineio na vasta seara probabilística do futuro... Então, um dia – como
numa boa história de contos de fada de “era uma vez” – eu vislumbrei este sonho mais
próximo de mim na leitura da Clarice Lispector: «A hora da estrela». No quase final de
minha leitura eu me encontrei ao lado da Macabéa – a protagonista do livro da Clarice –
me encontrei num compartilhamento de suas angústias frente à vida; quase dei-lhe a
mão por simpatia, por amparo... Foi assim: eu encontro a moça saindo de uma visita a
uma cartomante (de sessão paga pela colega de trabalho como forma de compensar o
seu ‘roubo’ do namorado da amiga). Macabéa, na sessão com a cartomante, fica
deslumbrada com as previsões feitas pela sibila; resolve, então, tomar as rédeas guias de
seu futuro: ela mesma a partir daquele momento será a responsável por se conduzir na
sua existência; ela resolve acreditar em si, e acredita ser capaz de se responsabilizar
pela direção da sua vida, sonhando e realizando... Desta forma, estava eu no universo de
sonhos da Macabéa (de mãos dadas com ela na perspectiva de concretização de seu
futuro) quando recebi um e-mail da Universidade divulgando o seu curso de mestrado...
Foi muito curioso... Estimulado pela leitura da literatura que eu degustava, fui motivado a
16
acreditar em mim, em minha possibilidade de crescimento... Foi então que empreendi
esforços para a participação do processo seletivo do Curso de Mestrado em Educação...
Agora, em minha caminhada de crescimento, sou aqui... e com perspectivas
futuras tão mais venturosas que as da pobrezinha da Macabéa...
Ainda seguindo a linha do meu recordar(-me) de história de vida, recomponho
aqui levemente os primórdios de minha vida estudantil. Meus estudos primeiros foram em
escola pública de interior de município pequeno (na época): Ouro – SC. Não eram
estudos na modalidade de escola multisseriada, mas nem por isso escola avantajada de
bairro, de cidade, por exemplo...
Rememorando esses meus tempos idos de primeiras letras, primeiros cálculos,
primeiras experiências frente a uma educação formal, não são muitos os guardados em
minha memória que posso dizê-los belos de recordação; guardo uns poucos, raros
punhados... por exemplo, minha primeira ida à escola e o meu deslumbramento com um
relógio despertador sobre um armário cuja perna articulável do jogador num desenho
movimentava-se para-cima-para-baixo em ação de chutar uma bola desenhada... outra
lembrança boa é de um mimo recebido da minha primeira professora alfabetizadora: uma
camiseta tendo um elefantinho estampado, a querida professora Maria Luzia Vitorazzi, e
um elogio dela de eu ser um aluno com potencial... recordo-me também de um livro: «O
segredo da ilha» com dedicatória, ganho no final da quarta série (a antiga organização do
ensino fundamental desses anos iniciais); a professora Terezinha D’Agostini... fui abrir o
livro ainda comigo: – “Elson, Parabéns! Continue sempre esforçado e otimista; você vai
vencer na vida. Prof. Tere”. Obrigado, Prof. Tere, será que venço?... Que é vencer? Para
vencer é preciso estar em luta?... Ah, querida profe, então, simplesmente vivamos sem
vencer, sem perder... Gracias a la vida que me ha dado tanto / Me ha dado la risa y me
ha dado el llanto3... De outro tanto, a escola, contudo, se me configurava na época como
meu meio social – selvagem e agressivo, ainda por cima! E, no tempo dos anos 1980,
distante de haver reflexão em nossas escolas sobre o fenômeno conhecido na atualidade
por bullying... Em casa, a estrutura patriarcal comandada por meu avô (pobrezinho, não
julgo meu avô) estabelecia rígida hierarquia que fazia os laços afetivos ficarem flácidos,
invisíveis... as manifestações expressivas de ternura nem nada de vingarem em tão
agreste estrutura familiar... A adolescência também não se fez em profícuo vivenvificar...
assim, fiz-me o que era o mais fácil: refugiei-me em mim, de mim, de outros, das
pessoas... Por tudo isso, engraçada uma contradição minha: acabei enveredando para a
área das Ciências Humanas... Meu primeiro vestibular – era preciso alçar voo de casa,
sair do ninho – teve como opção principal Ciências Biológicas... A escola em minha vida
3 Versos da canção «Gracias a la vida» da cantora chilena Violeta Parra (1917-1967).
17
primeira, creio, com seus livros de ciências, deixou-me esse gosto por experiências
(‘científicas’), pela Ciência... mas não vingou essa minha primeira opção: houve vagas
disponíveis apenas para minha segunda opção do vestibular: Letras. Ainda bem!, porque
meu temperamento fraco frente ao perecimento de animais, ainda que de causa natural,
não me fariam dissecar um sapo nem mesmo se ele fosse de silicone!... Acolhido no
curso de Letras, em universidade particular, empreendi – o que julgo serem – duros
esforços para sustentar as mensalidades do curso... e, entre pausas nos estudos e
dificuldades financeiras, alcancei o término da formação superior... E tudo na vida se nos
é aprendizagem: dificuldades, ganhos, perdas, conquistas... E “[...] Tudo vale a pena / se
a alma não é pequena!” 4
Atualmente, minha caminhada na educação, nesse meu viver ‘profissional’
educador, soma um pouco além de dezesseis anos. E uma importante etapa de
crescimento pessoal e cognitivo se me irradiou (e continua a sê-lo) com o presente curso
de mestrado.
A entrada no curso de mestrado se me apresentou permeada de expectativas e
tensões... mas um estímulo importante e fator decisivo para eu estar no curso foi a
primeira aula da qual participei: «Epistemologia e Educação» com o professor Dr. Roque
Strieder. O professor Roque me encantou com as suas reflexões sobre o mundo, sobre o
ser humano, a ciência, as ciências, a Educação... e acima de tudo com seu enaltecimento
da Vida como dimensão suprema da grande rede de seres e matéria da qual somos
parte. E iniciado nesse proceder epistemológico de conceber a realidade a partir de uma
objetividade não mais sem, mas com parênteses5 (MATURANA, 2001, p. 31), já não consigo
interagir com o mundo à minha volta sem considerar as múltiplas faces do que se me
apresenta, do que vejo, ou melhor, do que penso que vejo...
Já neste ponto de meu texto, e a partir do que relatei, sinto-me obrigado a revelar
que mudei meu objeto de estudo apresentado como parte do processo de seleção do
mestrado. Meu tema primeiro estava relacionado à aquisição de uma consciência
ortográfica mais acurada da língua num contexto pedagógico escolar; contudo, a partir
das aulas do professor Roque e das leituras feitas – especialmente textos do
4 Versos do poema “Mar Portuguez” de Fernando Pessoa in BARBOSA, Frederico (sel. e org.). Fernando
Pessoa – Poemas escolhidos. Zero Hora / Klick Editora, 1998. p. 153. 5 A realidade vista a partir do olhar da ‘objetividade sem parênteses’, conforme Maturana (2006), caracteriza-
se por se apresentar como a única explicação válida (e soberana). O observador tem acesso privilegiado a ela e, portanto, ela é a única forma de a realidade ser concebida: “É assim que ela é, é assim que deve ser aceita.” Já no caminho do olhar de uma realidade da ‘objetividade entre parênteses’, uma afirmação cognitiva se torna válida apenas no contexto das coerências que a validam. Assim, a realidade não é acessível ao observador de forma privilegiada, já que ele não consegue distinguir na experiência entre ilusão e percepção. Sendo assim, há muitas realidades. “Há tantas realidades – todas diferentes, mas igualmente legítimas – quantos domínios de coerências operacionais explicativas, quantos modos de reformular a experiência, quantos domínios cognitivos pudermos trazer à mão” (MATURANA, 2006, p. 38).
18
neurobiólogo chileno Humberto Maturana – fui fisgado por uma nova proposta de estudo
lançada pelo professor como uma truta que não consegue fazer distinção entre o que é
real e ilusão6.
Da isca mordida, surgiram-me, como já relatei no início dessas minhas
considerações, reflexões sobre possíveis contribuições do linguajear em processos de
aprendizagem e formativos. Para Maturana (2011B, p. 262) “quando, numa conversação,
muda a emoção7
, muda também o fluxo das coordenações de coordenações
comportamentais consensuais”. Cada componente curricular na escola em seu universo
‘linguajeante’ carrega o aprendente para um domínio de ações com numerosos tipos de
emoções; e mais, o agir ‘linguajeante’ pedagógico de cada educador também é força a
atuar sobre o fenômeno da aprendizagem. Então, como os processos de aprendizagem e
formativos podem se beneficiar a partir das ideias de Maturana a cerca da linguagem
humana? E, também, como podem se beneficiar desse viver, desse agir, desse nosso
ser(mos) humanos na linguagem?
Maturana (1998, p. 80), enuncia que a linguagem “como fenômeno biológico
consiste em um fluir de interações recorrentes que constituem um sistema de
coordenações condutais consensuais”. Mas o que é uma coordenação de coordenação
condutual (comportamental) consensual? Bem, como humanos que somos e afeiçoados
pelo universo mágico das histórias – que fascínio exerce(ram/m/rão) em nossas vidas os
contos de fadas, as piadas, as narrativas, as parábolas bíblicas... – cabe aqui, para
melhor compreensão dessa expressão, uma pequena história colhida em Andrade, Silva
& Passos (2007):
Imaginemos uma situação de caça em que o animal caçado (touro enfurecido) é muito mais forte do que o caçador (hominídeo). Visto assim, a única maneira do caçador obter sucesso nessa difícil empreitada é através de um “chamamento”, da formação de um coletivo. No entanto, esse coletivo só terá sucesso se as ações individuais estiverem, relativamente, coordenadas. [...] a todo o instante, nós, seres humanos, coordenamos as nossas condutas com as de outra pessoa. Se essa observação for um pouco mais aguçada veremos que, a todo o momento, novas coordenações são geradas sobre as primeiras e, assim, sucessivamente. A esse processo recursivo de coordenar uma ação sobre outra, já coordenada – como se déssemos uma volta sobre a volta – pode ser denominado “coordenação de coordenação”. Há de se fazer agora um comentário importante para o entendimento da unidade básica da linguagem, qual seja: uma coordenação de coordenação
6 Uma brincadeira com meu orientador a partir de reflexão de Maturana: a incapacidade de os seres vivos
distinguirem entre ilusão e percepção na experiência (MATURANA, 2006, p. 26). Ainda bem que ‘mordi’ a isca! 7 “As emoções não são o que correntemente chamamos de sentimento. Do ponto de vista biológico, o que
conotamos quando falamos de emoções são disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos movemos” (MATURANA, 2005, p. 15). Uma circunstância de sala de aula, o professor enunciando: "Hoje haverá prova!” Situação A: ele está muito nervoso; Situação B: ele está muito alegre. A racionalidade da afirmação é a mesma, mas o domínio de emoções (e consequentemente de ações) é diferente.
19
de ação entre dois indivíduos só ocorre se houver, em ambos, uma vontade, um desejo e a partir daí um consenso. Como toda ação humana é conduta, chega-se, com isso, à unidade básica da linguagem: uma coordenação de coordenação condutual consen-sual (MATURANA, 1997). [...] [Retornando à empreitada de caça ao touro], para se obter sucesso nessa empreitada arriscada, aqueles caçadores de outrora já deveriam estar imersos em alguma rede linguística, mesmo que rudimentar, na qual gestos, disposições corporais, grunhidos ou mesmo algum tipo mais elaborado de som, se tornaram palavras no devir, ou seja, na recursividade do próprio processo. A partir desta reflexão, podemos imaginar pequenas conversações, gestuais ou sonoras, do tipo: – Oi! / – Olá! (coordenação); – Veja o touro! / – Onde? / – Atrás! (coordenação de coordenação) – Vamos correr! / – Não, vamos pegá-lo (conduta consensual).
(ANDRADE, SILVA & PASSOS, 2007, p. 183)
A partir do que escrevi até este ponto e pensando na linguagem (o linguajear – na
teoria de Maturana) como sendo a essência no relacionar-se, no ser e no constituir-se
humano, meu questionamento motriz para esse trabalho de pesquisa toma o seguinte
refinamento: quais possibilidades – no âmbito da Biologia do Amor8 e da Biologia do
Conhecimento9 – de o linguajear trazer contribuições em processos de aprendizagem e
formativos?
Em consonância com o questionamento anterior, surge meu objetivo geral no
trabalho de pesquisa ao qual me dediquei a empreender: investigar implicações junto a
processos de aprendizagem e formativos nos territórios escolares a partir do linguajear
concebido no âmbito da Biologia do Amor e da Biologia do Conhecimento.
A partir das ideias irradiadas do meu objetivo geral, meu caminhar no estudo a
que me propus realizar segue amparado em três guias – meus objetivos específicos; os
quais são:
8 Biologia do Amor: as reflexões do neurobiólogo Humberto Maturana sobre o viver humano na linguagem
são potencializadas a partir de suas considerações sobre a importância das emoções na evolução de todos
os seres vivos. Porque as emoções nos seres vivos “...definem o curso de seus fazeres: onde estão, para
onde vão, onde buscam alimentos, onde se reproduzem, onde criam seus filhotes, onde depositam seus
ovos etc. Bem, com os seres humanos ocorre exatamente a mesma coisa. O emocionar, o fluxo das
emoções, vai definindo o lugar em que vão acontecer as coisas que fazem no conviver. Então, se uma
pessoa se move, por exemplo, a partir da frustração, isso vai definir continuamente o espaço relacional na
qual se encontra e o curso que vai ter seu viver. Se vive a partir da confiança, vai seguir um curso distinto.
Assim, portanto, o que guia o fluxo do viver individual são as emoções e na constituição evolutiva também.
É o emocionar que se conserva de uma geração a outra na aprendizagem das crianças.” (MATURANA,
Humberto. Entrevista. Disponível em http://www.humanitates.ucb.br/2/entrevista.htm. Acesso em: 28 abr. 2013.) 9 Biologia do Conhecimento: conjunto de ideias de Humberto Maturana que permite ultrapassar a premissa
básica do pensamento ocidental no qual são postos em oposição o biológico ao não-biológico ou social, ou
cultural. O ser humano constitui-se no entreleçamento do racional com o emocional. E “Maturana funda o
social numa emoção em particular, o amor, por ser esta a emoção que permite a aceitação do outro como
legítimo outro na convivência.” (Aurora Rabelo, 2005, p. 8, prefaciando o livro «Emoções e linguagem na
educação e na política» de Humberto Maturana.)
20
1. Conhecer e compreender o significado do linguajear no âmbito da Biologia do Amor e da Biologia do Conhecimento.
2. Investigar as contribuições possíveis do linguajear como estratégia em processos de aprendizagem e formativos.
3. Tecer reflexões no âmbito dos espaços educacionais que possam contribuir para fecundar práticas educativas mais afinadas com a Biologia do Amor e com as ideias do neurobiólogo Humberto Maturana.
Meus estudos aqui sistematizados, inicialmente, a partir de meu primeiro objetivo
específico (a compreensão do linguajear no âmbito Biologia do Amor e da Biologia do
Conhecimento) partiram de uma pesquisa bibliográfica, uma vez que, conforme Oliveira
(2007, p. 69), esse tipo de pesquisa tem por finalidade levar o pesquisador a “entrar em
contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema em estudo”. Após
ampliar minha compreensão sobre essa dimensão teórica, meus estudos e reflexões
seguiram direcionados a um acoplamento com as práticas educativas vivenciadas por
mim e também práticas pedagógicas conhecidas através da literatura educacional,
relatos ou experiências.
*•*•*
Convido agora o(a) leitor(a) a me dar a mão e seguir comigo por esta produção.
Nossa caminhada se inicia com a visualização (próxima página) de duas fotos do
neurobiólogo chileno Humberto Maturana num evento em 2006 na cidade de Campinas
(SP) – pequena forma encontrada por mim para reverenciar o autor principal no qual está
enraizado este meu trabalho acadêmico.
Nas páginas logo a seguir, o(a) leitor(a) encontrará uma pequena historinha sobre
uma experiência pessoal minha na tentativa de cultivo de uma plantinha conhecida
localmente como “barriga-de-sapo”. E por que trago essa narrativa? Primeiro, porque
conforme mesmo Maturana, nossas explicações advêm de nossa(s) experiência(s) de
vivência na linguagem – no linguajear; mas meu objetivo maior com a narrativa é iniciar a
caminhada com o(a) leitor(a) a partir de reflexões de Humberto Maturana em relação à
sua afirmação que o meio não pode especificar o que acontece a um sistema vivo; o
meio, segundo Maturana (2002), pode ser apenas um perturbador, um desencadeador de
mudanças que são permitidas pela estrutura (peculiar) do vivo, de cada ser vivo.
Meu caminhar rumando ao primeiro capítulo desta produção – e se ainda tenho a
companhia do(a) leitor(a) – é convite a um aperto de mãos, um tapinha no ombro, um
toque no braço... é convite a pensar no poder miraculoso de um abraço, a refletir sobre o
poder supremo do toque! É também convite para reflexões a respeito do poder do
entrelaçamento de corpo, afeto e emoções na seara educacional. “A pessoa não amada,
de qualquer idade, tem probabilidade de ser uma entidade bioquímica muito diferente da
21
que foi adequadamente amada” (MONTAGU, 1988, p. 197). E chegando quase ao final do
primeiro capítulo, o(a) leitor(a) encontrará – encontraremos se ainda me acompanha –
um pequeno resgate histórico das teorias da aprendizagem e seus respectivos modelos
epistemológicos. Então, na sequência, eu reservo especial espaço no primeiro capítulo
para a teoria de Maturana denominada autopoiese – o ser vivo como uma “máquina” que
se constrói a si mesma no ciclo biológico de seu existir – relacionada a modelos
epistemológicos consagrados de se pensar a educação.
Continuarei eu com a companhia do(a) leitor(a) no Capítulo 3? Se sim, nossos
passos e atenção serão guiados para conhecer brevemente a trajetória de vida e
formação de Humberto Maturana enquanto cientista e pesquisador, bem como o seu
mover e a sua incursão no quefazer de reflexões e perspectivas de conceber o ser vivo,
assim como a relação do vivo com o meio, com o outro. Dessa forma, o capítulo também
apresenta uma síntese das ideias de Maturana que cobrem o espectro conceitual e
ponderativo sobre a Biologia do Conhecimento e a Biologia do Amor e o Linguajear.
Então, chegando ao final do passeio iniciado com o(a) leitor(a) neste trabalho
(será que ainda nos fazemos companhia?), sento-me sob a sombra de frondosa Árvore
Maturana e me ponho a refletir sobre quão
nutritivos e saborosos podem ser os frutos dela
na dieta alimentar educacional com seu cardápio
cognitivo e de formação humana.
Peço licença para deixar meu abraço.
*•*•*
Singela reverência a Humberto Maturana:
...e uma foto...
Nós seres humanos gostamos do lúdico, do imaginável, do inimaginável, do
fictício, do irreal – no seu real nosso de fazê-lo existir – concretizado, metaforizado,
(con)fabulado... nós seres humanos gostamos de histórias, não é assim?... Por isso:
A história da (minha) barriga-de-sapo
Maturana (2002) diz que “...o meio não pode especificar o que acontece num
sistema vivo – ele pode apenas desencadear em sua estrutura mudanças determinadas
por sua estrutura.”10
E isso é verdade, não é mesmo? O frio não é capaz (até onde me
conheço) de me fazer chorar de comoção ao vê-lo chegar no inverno, mesmo que eu
goste do inverno. Mas um pôr do sol em final de tarde avermelhada de outono... talvez
exerça em mim força capaz para... O que me acontece depende da minha estrutura de
ser vivo (física e minha história de vida, incluindo nesta, o meu psicológico). E na seara
educacional? Também não ocorre de semelhante forma?...
Pois bem, essas reflexões me fizeram de alguma maneira pensar em uma
experiência que tive recentemente: a tentativa de trazer para frutificar no quintal de casa
e ‘perpetuar’ um cipozinho da minha infância, a barriga-de-sapo.
10
MATURANA (2002, p. 67).
23
E o que me aconteceu, a partir das leituras de Maturana, foi relacionar o cultivo
dessa plantinha com o nosso viver de educadores em compartilhamento de vida com
nossos aprendentes... e também com nossos semelhantes, com o mundo, com a vida...
Peço licença para contar o acontecido.
*•*•*
Quando eu tinha por volta de meus dez, onze anos, e vivendo minha vida de
criança numa comunidade do interior, eu adorava comer a frutinha barriga-de-sapo que
crescia entre os pés de milho na roça e amadurecia entre os meses de fevereiro a abril. E
ainda é assim atualmente aqui onde moro; agora na cidade...
Já sou bem distante do tempo de minha infância e não perto da casa onde eu
morava com minha família; já somos todos na cidade, inclusive meus avós paternos...
Há uns três anos, minha mãe descobriu um pé de barriga-de-sapo num passeio
público de chão de terra numa pequena rua de um bairro próximo de onde moramos. A
barriga-de-sapo também compôs história na infância dela. Minha mãe descobriu a
frutinha e mexeu comigo, dizendo que havia encontrado um pezinho de barriga-de-sapo,
inclusive me mostrou um dia em que passamos por lá os frutos maduros, abertos, como é
de característica da plantinha... Eu não hesitei em colher uma daquelas frutinhas quando
vi – e descobri-me na mão quatro sementes – destas, duas dei de presente a um amigo,
duas plantei em um vaso em casa... não germinaram... umas, nem outras...
Resolvido que estava em não desistir de ter um pezinho de barriga-de-sapo,
naquele ano, mais adiante, já em começo de novembro, quando as plantinhas
começaram a germinar novamente naquela rua, eu passei lá numa noite de leve chuva e
peguei duas mudinhas que estavam junto à rua... Plantei no quintal de casa; mas os
bichinhos... bem, os bichinhos... uma das mudinhas, nem com talinho ficou... Já a outra...
fez flores, flores... mas essas muitas flores que a plantinha faz não são senão para atrair
insetos polinizadores, elas não frutificam. As que se transformaram em frutos quando
polinizadas demoraram a surgir e foram escassas no pezinho. Então, infelizmente chegou
o inverno. A barriga-de-sapo iniciou o seu ciclo natural de definhamento... não conseguiu
dar continuidade à sua linhagem... [Suspiro.] Fez ela tudo o que sua estrutura permitia
fazer com as mudanças desencadeadas pelo meio...
No ano passado, no mês de novembro, empreendi nova tentativa de cultivar o
cipó no quintal de casa. Eu pensava: “Não é justo! O cipozinho crescendo lá numa terra
de passeio público, onde era para ser uma calçada e está frutificando, e aqui no quintal
de casa, nada!” Comecei, então, a passar regularmente pela rua onde as plantinhas
costumavam crescer. Quando eu descobri o primeiro pezinho esticando seu bracinho
verde para o ar, não tive dúvidas: colhi a mudinha e trouxe-a para plantar em casa.
24
Plantei-a num vaso, tomei cuidado com bichinhos, água, clima... Enquanto isso, na terra
do passeio público, outros e outros pés de barriga-de-sapo cresciam em volta e
agarradas a um pé de vergamota. Então, um dia, caminhando por lá, surpreendi-me:
assassinaram o pé de vergamota; deixaram galhos e galhos cortados, inclusive o tronco,
cobrindo todo o chão; e mais outros galhos; entulho... Sufocados ficaram todos os pés de
barriga-de-sapo... Se o pezinho aqui de casa não fizesse frutos... então... bem...
O pé de barriga-de-sapo aqui de casa por sua vez, crescia, fazia folhas, ramos,
gavinhas... agarrando-se aqui e ali... passou a dar flores e flores, mas nenhuma delas
ainda era o tipo de flor apropriada para frutificar... Março se aproximava; abril tomando
caminho... o outono no encalço... Desanimei: “Se esse pezinho de barriga-de-sapo aqui
de casa não frutificasse, não haveria mais outros pés, porque o terreno onde eles
nasciam e frutificavam fora coberto, estava coberto...” Meados de fevereiro, creio, fizeram
limpeza do passeio; remoção de galhos, dos entulhos... O sol e o céu deram olhares
generosos ao solo novamente... A natureza é surpreendente; a vida, mais!... Semanas
depois, sementes e sementes adormecidas na terra – que deveriam aguardar um novo
ciclo anual – resolveram germinar, mesmo que não fosse mais a época adequada para
elas se colocarem em verdes ramos e folhas... Então, eu aproveitei aquele germinar
abundante e trouxe mais um pezinho para casa. E, atualmente, neste começo de
setembro, com um inverno bem menos frio, com um clima atípico, o pé de barriga-de-
sapo último que eu trouxe, ainda está verde. Ele não pereceu. Mas, infelizmente, até o
momento, não frutificou, assim como os outros pezinhos que ficaram lá na rua onde
nasceram... Abaixo, resolvi trazer para registro as fotos do pezinho aqui de casa e dos
outros semelhantes seus lá no passeio de terra – neste início de setembro.
25
E cá, neste quase fim de história, preciso revelar que aquele pezinho que eu havia
pego no começo de novembro do ano passado fez frutos neste ano aqui em casa. A foto
dele é a que principia esta história. E a seguir, a foto de algumas suas quatro sementes
que aguardam para ir à terra...
Onde quero eu chegar com esta história narrada? E com qual proposta?
Primeiramente, quero convidar leitor(a) a refletir que, como eu disse, conforme
Maturana (2002), o meio não pode especificar o que acontece a um sistema vivo, mas
pode em acoplamento com este desencadear mudanças que somente a estrutura do ser
vivo permita que aconteçam. O pezinho de barriga-de-sapo aqui em casa ou os outros lá
no chão de terra do passeio já deveriam, se levarmos em consideração o ciclo de vida
deles e as características da estação, ter-se entregue à perda de sua vitalidade, mas...
Também, nós educadores, necessitamos ter em mente que não podemos
especificar o que acontece aos nossos aprendentes, não podemos especificar o que
apr(e)endam, mas podemos desencadear positivas experiências em nossas práticas
educacionais para que a vida de cada um deles se desenvolva, seja vivida da maneira
mais saudável e frutífera possível em acoplamento com os espaços escolares e com os
âmbitos afetivos, sociais e cognitivos...
*•*•* Ainda em tempo, a plantinha que trago por barriga-de-sapo, nome registrado aqui
em saudações às memórias da minha infância, é conhecida como melão-de-são-caetano
(momordica)11
.
11
“Trepadeira monoica (Momordica charantia) da família das cucurbitáceas, de folhas suborbiculares, com
cinco ou sete lobos ovado-oblongos, flores solitárias, unissexuais, e bagas comestíveis, que se abrem como cápsulas, com sementes vermelhas e oleaginosas; caramelo [Nativa de regiões tropicais, é cultivada pelos frutos, por vários usos medicinais e especialmente para extração de substância com efeitos semelhantes aos da insulina.]” – Fonte: Dicionário Houaiss Eletrônico – versão 1.0.
2
A escola, autêntica herdeira da tradição audiovisual, funciona de tal maneira que a criança, para assistir à aula, bastar-lhe-ia ter um par de olhos, seus ouvidos e suas mãos, excluindo para sua comodidade os outros sentidos e o resto do corpo. (RESTREPO,
2001, p. 32)
O ambiente pedagógico tem de ser lugar de fascinação e inventividade. Não inibir, mas propiciar aquela dose de alucinação consensual entusiástica requerida para que o processo de aprender aconteça como mixagem de todos os sentidos. [...] Porque a aprendizagem é antes de mais nada um processo corporal. Todo conhecimento tem uma inscrição corporal. Que ela venha acompanhada de sensação de prazer não é, de modo algum um aspecto secundário. (ASSMANN, 2001, p. 29)
[...] a formação humana está sempre ligada às relações ainda que cada um, na sua dimensão de autonomia, precise ser autor de seu próprio sucesso. O ambiente educacional, portanto, precisa ser um ambiente que facilite as relações. (PELLANDA, 2009, p. 53)
As conexões corporais vêm primeiro – a racionalização vem depois. (WAAL, 2010, p. 108)
2.1 nalfabetismo afetivo
Meu ponto inicial nestas minhas reflexões primeiras parte da abordagem de uma
dimensão no viver humano importantíssimo: a dimensão afetiva.
Eu fiquei muito surpreso quando vi pela primeira vez, no referencial teórico que li
para meu crescimento em relação a esse meu estudo, aparecer a expressão
“analfabetismo afetivo”. O termo – transportado do âmbito do letramento (educacional) –
constitui-se num neologismo que, até então, me era desconhecido. Além disso, fiquei
muito incomodado ao constatar que, de fato, tenho, temos – sociedade humana em geral
– deficiência(s) em relação à nossa ‘aprendizagem’ afetiva, nossa alfabetização afetiva.
Ricos, pobres, famosos, pessoas simples, pessoas graduadas... o iletramento no afeto
nem, também, se limita a origens étnicas, a crenças... Nossas modernas sociedades
‘civilizadas’ são áridas em relação à dimensão afetiva, em relação ao afeto.
27
Para me avalizar (infelizmente) estas palavras anteriores, valho-me de Assmann e
Mo Sung (2000), que destacam que nós humanos estamos lentos na aquisição de
sensibilidade “humana”. Para estes autores, “[...] historicamente, o cultivo da
sensibilidade humana é efetivamente bastante recente. [...] muitas brutalidades
arrepiantes do século XX foram praticadas por gente que se considerava ‘normal’ (por
exemplo, as barbaridades do Holocausto e as das guerras e guerrilhas).”12
E a ausência de uma vida em sociedade guiada pelo afeto – sem a aceitação e o
reconhecimento legítimos da presença e existência do outro – nos leva para essa
convivência desumana de exploração e violência com a qual nos deparamos todo dia
estampada na televisão, internet, jornais impressos, revistas... violência revelada
cotidianamente na face, no corpo e na alma de nosso próximo...
Seria essa nossa limitação afetiva reflexo de nosso viver em uma sociedade
patriarcal?...
Para Maturana (2011B), é próprio da nossa (atual) vivência em uma sociedade
patriarcal13
que nós vivamos em hierarquia(s) e, por essa razão, que nós tenhamos a
obediência como guia de nossas vidas; que sejamos guiados pelo agir comportamental
que nos faz valorar mais alguns de nós em depreciação a outros (tantos)...
Em nossas modernas sociedades, nós vivemos num viver hierárquico que nos
amputa e nos tolhe a possibilidade de uma convivência com/em afeto, porque nesse tipo
de viver em que existimos, com desprezo ao afeto, impera a obediência – conduta que
embota o sentimento afetivo e a valorização do outro. É de Maturana (2011B) o alerta:
“Em nossa sociedade patriarcal, repito, vivemos na desconfiança da autonomia dos
outros.”14
Vivemos uma cultura centrada na dominação e na submissão, na desconfiança e no controle, na desonestidade, no comércio e na ganância, na apropriação e na manipulação mútua... e a menos que nosso emocionar mude, tudo o que irá mudar em nossas vidas será o modo pelo qual continuaremos a viver em guerras, na ganância, na desconfiança, na desonestidade, e no abuso de outros e da natureza. (MATURANA, 2006, p. 197)
Ainda, de acordo com Maturana (2011B), na sociedade patriarcal na qual vivemos,
nós estamos sempre prontos a tratar todas as relações humanas que vivenciamos a
partir de um paradigma que possui por referência a hierarquia. Como, então, podemos
saudavelmente dar guarida em nossos peitos e almas para o afeto capaz de humanizar
12
ASSMANN & MO SUNG (2000, p. 236). 13
Uma configuração da maioria de nossas sociedades modernas. São sociedades moldadas (e emolduradas)
por uma cultura em que o viver é guiado pelo pensamento linear, num contexto de apropriação e controle, orientado primariamente para a obtenção de algum resultado particular, em desprezo às interações básicas da existência humana.
14 MATURANA (2011B, p. 38).
28
nossas relações e vivências?
Pensando e estendendo essa reflexão sobre o cultivo do afeto em nosso dia a dia
de convivência com o próximo ao universo escolar: quais são os danos que a ausência
de afetividade em nosso viver causa em nossas práticas pedagógicas nos espaços
escolares? E que prejuízos a criação e mediação do conhecimento entre educador e
aprendentes sofrem com a ausência de uma pedagogia “saudavelmente afetiva”?
O afeto está em nossa relação com o saber, está em nossa relação com o
próximo, na relação com nosso semelhante, com a natureza, está na relação conosco
mesmos. Reconhecer o afeto e aceitá-lo como sentimento fomentador do humano, da
nossa existência humana é saber-se legitimamente Humano.
A constituição do humano está entrelaçada ao afeto. Para Restrepo (2001), “o que
nos caracteriza e diferencia da inteligência artificial é a capacidade de emocionar-nos, de
reconstruir o mundo e o conhecimento a partir dos laços afetivos que nos impactam.”15
Ora, creio que não é novidade para nenhum dos educadores – ou para grande parte
deles, de nós – esta estreita relação guardada entre afeto e conhecimento. Ainda mais
que não nos faltam teóricos clássicos na Educação abordando mesmo a importância da
afetividade no fazer pedagógico. Henri Wallon, por exemplo, nos mostra que o
aprendente tem muito mais que “cabeça” no espaço da sala de aula. O aprendente
também possui corpo; e corpo, este, frise-se, rico em sensorialidades e emoções.
E sobre o entrelaçamento entre emoções, pensamentos, conhecimentos, é fértil
trazer para cá a reflexão a seguir colhida em Assmann & Mo Sung (2000):
Tudo o que aprendemos é influenciado e organizado também por emoções e "configurações" emocionais que envolvem expectativa, preferências, prejulgamentos pessoais, autoestima e a necessidade/carência de interação social. As emoções e os pensamentos são um processo tão inseparável que dão literalmente forma uns aos outros. As emoções colorem o sentido. (ASSMANN & MO SUNG, 2000, p. 251)
E, ainda assim, custa-nos – e para quantos de nós educadores? – aceitar que o
conhecimento não se limita apenas às instâncias de natureza intelectiva, à
intelectualidade. Mais ainda, a quantos educadores custa(-nos) aceitar que há conjuntos
de peculiaridades individuais nos ambientes e espaços pedagógicos de aprendizagem.
O saber tem sabor de sensorialidades, de singularidades.
Restrepo (2001) nos apresenta uma advertência em relação à cultura escolar
presente na maioria das instituições de ensino: a escola “sente uma profunda aversão à
sensoralidade e à singularidade”16
. E, de acordo com este autor, isso é visível a partir da
15
RESTREPO (2001, p. 18). 16
RESTREPO (2001, p. 32).
29
postura que a escola adota para tratar do chamado ‘problema de aprendizagem’; porque
quando alguma sensibilidade singular se choca com a viciosa prática escolar –
preocupada na perpetuação de si mesma – o resultado desse encontro não é outro
senão o fracasso acadêmico.
A escola se mostra resistente a aceitar que a cognição é cruzada pela paixão, por tensões heterônomas, a tal ponto que são as emoções e não as cadeias argumentativas que atuam como provocadoras ou estabilizadoras das redes sinápticas, impondo-lhes fechamentos prematuros ou mantendo uma plasticidade resistente à sedimentação. (RESTREPO, 2001, p. 33)
Creio ser também importante trazer aqui para reflexão um outro aspecto da
natureza do afeto em relação à escola: o esfacelamento do universo fabuloso criado na
imaginação de tantas e tantas crianças de nossa sociedade (de nossas sociedades) a
respeito da instituição escola. São criações de belíssimos cenários de contos de fadas e
magia que pouco a pouco com o avanço na idade e nos dias de escola vão-se
desmanchando, desfazendo-se, olvidando-se no pensamento infantil a ponto de
representar no final dos anos iniciais do ensino fundamental e começo dos anos finais o
desencanto quase por completo pelo universo escolar; é a morte de todo o afetivo
individual de empatia criado em relação à escola. Lamentavelmente, é a instituição
escolar com suas práticas e posturas pedagógicas seculares (nem parece exagero usar
este termo) tornando inválida a dimensão afetiva de seus aprendizes... Ainda assim, para
algum consolo, talvez que sejam guardadas no mundo de lembranças de cada um em
particular as belas imagens e recordações pueris criadas em relação à escola, em
relação ao universo escolar; e que sejam essas recordações elevadas à categoria de
ajudantes17
(nossos) no viver futuro de nossa existência.
Eu me pergunto: e qual a razão de ser dessa trágica desunião da correlação entre
o saber (saboroso) e o afeto? Arrisco-me em presumir que a origem talvez seja a
implacável crença de que conhecimento e afeto não guardam afinidade (grande e
intensa) entre si. Então, os educadores procuram adotar uma postura de impossível
‘laicidade afetiva’ no desempenho de suas funções pedagógicas e vão triturando as
imagens de escola terna e acolhedora formadas nas mentes de seus pupilos. E, ainda,
esses mesmos educadores incorrem em contradição: acaso não foram eles mesmos que
se apaixonaram pelo conhecimento que tentam levar até as mentes e almas de seus
aprendizes?...
Pobres crianças órfãs de suas pueris idealizações do universo escolar... que
amparo e consolo terão adiante na continuidade de sua vida acadêmica quando forem
17
Uma alusão aos ‘entes bons’ do texto “Os ajudantes” de Giorgio Agamben (2007).
30
adolescentes, jovens, adultos estudantes..., já que afeto e conhecimento se lhes são
mostrados como incompatíveis, inconciliáveis? Pobres seres no mundo, ladeados por
uma escola que lhes amputa as dimensões sensoriais (de tato, de gosto, de cheiro, de
afeto...) e imersos numa sociedade de laços afetivos carcomidos que vê o sentimento
afeto especialmente como um atributo de persuasão ornando despejosamente suas
propagandas de consumo...
O que me propus com as ideias apresentadas até aqui foi a promoção de uma
reflexão em torno dos pares: conhecimento & afetividade, social humano & afetivo. Mais
à frente em meu texto (Capítulo 3), meu empenho será mostrar a importância do
linguajear (a teoria do chileno Humberto Maturana) irradiada na seara educacional,
sugerindo sua grande relevância para as instâncias pedagógicas e educativas. E, a partir
da teoria do linguajear, como tornar o cultivo da educação mais fértil e produtivo com
frutos mais sadios e nutritivos (e saborosos!)?...
Que importância há em sala de aula o sincronismo das disposições corporais
dinâmicas18
– as emoções – do educador e do aprendente para o sucesso da
aprendizagem, para a construção e ampliação do conhecimento?
O toque da mão, a carícia com a palavra, o afago com o olhar... nos são vitais; a
razão é que somos seres amorosos. “Nosotros, los seres humanos, somos seres
biológicamente amorosos como un rasgo de nuestra historia evolutiva, de manera que sin
amor no podríamos sobrevivir.”19
Estou ciente de que a originalidade das minhas reflexões neste trabalho não me
avaliza em autoria primeira a respeito destas reflexões, mas o caminho que tomo nesses
escritos é tentativa de fomentar senda nova no pensar pedagógico que tento propor.
Acredito que para fecho desta seção, sadia reflexão pode emanar a partir da
seguinte denúncia de Restrepo (2001):
Sabemos do A, do B e do C; sabemos do 1, do 2 e do 8; sabemos somar, multiplicar e dividir, mas nada sabemos de nossa vida afetiva, razão pela qual continuamos exibindo grande entorpecimento em nossas relações com os outros, campo em que qualquer uma das culturas chamadas exóticas ou primitivas nos supera de longe. (RESTREPO, 2001, p. 19)
E em nossas vidas cotidianas (modernas e civilizadas) – no âmbito pessoal,
social, profissional, educacional... – quais reflexões emanadas desta denúncia ser-nos-ão
(mais) fecundas para uma vida mais afetiva, mais sentimentalmente (com/re)partilhada?
18
MATURANA (2011B, p. 238). 19
Nascemos amorosos (Humberto Maturana). Disponível em http://aufop.blogspot.com.br/2012/06/como-es-
que-amamos-de-donde-viene.html. Acesso em: 24 fev. 2014.
31
2.2 arícia linguageira para com o conhecimento
A fala e a linguagem tocam, acariciam; têm de fato o poder do tato, do toque. E
para cada um de nós crianças, adolescentes, jovens e adultos – que possuem seus
canais de sentidos livres de alguma limitação – certamente a palavra sonora que mais
têm o poder de nos tocar é mesmo nosso próprio nome – marca indelével de cada um de
nós e que nos compõe a personalidade; “Ter nome é ter um contorno de pessoa que
possa caber...” 20
Quem nunca de nós estava alheio ao que se passava ao redor quando
alguém pronunciou nosso nome e nos arrebatou a atenção? E isso, inclusive nos
espaços e instâncias escolares na relação educador/aprendente!...
Ao conversar tocamo-nos uns aos outros, ao fazê-lo desencadeamos mudanças em nossa fisiologia. (MATURANA &
VERDEN-ZÖLLER, 2011B, p. 238)
A partir das minhas linhas introdutórias redigidas anteriormente, eu peço licença
para uma pequena digressão: o relato de um fato atual por mim vivenciado que possui
caráter de ilustração para o que acabo de dizer no parágrafo introdutório deste segmento;
refere-se à qualidade do nome pessoal como um atributo tatuado à nossa personalidade
com alta capacidade evocativa de nossa atenção e, para além, refletir sobre a natureza
tátil da palavra.
Recentemente eu participava de uma aula em um curso de informática; e eu ainda
estava contrariado com meu professor devido a um incidente em uma das aulas
anteriores na qual discordei a respeito do resultado (nota) de uma avaliação escrita que
procurava atestar meu conhecimento sobre conteúdos vistos no curso. É possível que o
professor nem tenha percebido meu aborrecimento com “a prova” ou com a nota obtida,
porque eu não lhe mencionei meu descontentamento em relação a elas. O fato
acontecido, creio que posso recontá-lo assim: no desenvolvimento de uma aula, o
professor atribuiu uma nota ao meu conhecimento – e também aos demais colegas meus
– a partir de uma “prova” que pela razão de sua natureza e metodologia, para mim, não
significou valor algum, uma vez que ela não me servia de parâmetro para atestar minhas
habilidades e conhecimento nesses meus estudos, práticas em informática. Além de que,
a referida prova causou mesmo mal-estar geral na classe, entre meus colegas. Então,
para minha surpresa, a reação que tive diante do meu resultado obtido na prova foi o
esboço de um sentimento de “apagamento” da presença do professor durante o restante
20
MOSÉ, Viviane. Toda palavra. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 48.
32
da referida aula. E, pior, minha frustração foi se estendendo por algumas aulas seguintes
com sentimento de aversão ao professor. Novamente, isso me chamou a atenção, me
deixou incomodado, mas sem forças de extinguir o rancor por mim criado... Já tenho
alguns anos de docência e, infelizmente, coleciono em relação a meus aprendentes
incidentes semelhantes a este motivados por notas/avaliações; posso dizer que já
vivenciei isso muitas vezes entre mim e meus aprendentes... e eu nunca refleti
cuidadosamente sobre essa violência psicológica que fui responsável por causar...
Mas, o que quero justificar com esse relato pessoal é a minha fala a respeito do
quase toque físico das palavras, da linguagem em situações de, por exemplo,
ensino/aprendizagem nos ambientes e espaços pedagógicos, escolares.
Aconteceu-me, então, durante uma das aulas recentes de informática do curso
que participo, que o professor atendeu às dúvidas de umas colegas que estavam
próximas a mim e justificou uma de suas falas a minhas colegas citando positivamente
meu nome; ele disse a elas que eu havia feito adequamente a atividade, que eu
procurava encontrar caminhos para resolver as atividades propostas... Eu não participava
da conversa, e a menção ao meu nome foi em tom de voz discreto. Entretanto, ao ouvir a
referência a mim, recordo-me de que me senti muitíssimo bem; foi como ter sido tocado
com um aperto de mão caloroso, um quase abraço. O curioso é que este toque das
palavras a partir dessa experiência me fez validar novamente o professor do curso como
professor, derrubando o muro da indiferença que eu vinha erguendo e preservando entre
nós em razão do antigo incidente da nota da prova. Julguei muito curiosa esta reação que
tive como também a atitude de desmantelamento do muro por mim construído; o meu
resgate saudável nas aulas do curso foi motivado pela vocalização de meu nome... Fiquei
pensando sobre esse meu vivenciar...
Desnecessário é dizer que transpus essa experiência para a minha vida pessoal,
para minha prática pedagógica e fiquei refletindo sobre mim frente a uma classe de
aprendentes no espaço escolar, na sala de aula... Refletindo sobre meus costumeiros
desacertos nestes mesmos moldes que vivenciei na aula do curso de informática e que
meus aprendentes (tanto?) protagonizaram comigo...
Em relação a esta minha experiência como aprendente na aula de informática,
penso que, primeiro: a avaliação e circunstâncias em que ela foi realizada me fizeram
anular a presença do professor; e o mal-estar gerado com isso foi bem intenso; a
comprovação foi que passei a nutrir uma não-empatia pelo professor no decorrer das
aulas seguintes. Contudo, segundo: em uma das aulas posteriores, a citação positiva de
meu nome pelo professor – mesmo que não em fala direcionada a mim – foi liame capaz
de atar novamente os laços de empatia entre mim e ele (ou mais especificamente liame a
33
atar a partir de mim, porque ele, como eu disse, talvez nem me tenha percebido chateado
consigo em relação à nota que me atribuiu naquela ‘fatídica’ avaliação).
E a qual síntese o que foi dito até aqui pode conduzir? Acredito que conduz à
conclusão que há um poder de toque na sonoridade da palavra; que há um poder de
toque quase físico que emana da pele, do corpo de cada palavra.
Ademais, a linguagem tem a ver com o toque, o tocar-se e a sensualidade, e assim se mostra no que dizemos. Por exemplo, quando falamos da forma de um discurso, usamos expressões táteis como “acariciou-me com sua voz”, “feriu-me com suas palavras”, ou “tocou-me profundamente com o que disse”. (MATURANA & VERDEN-ZÖLLER, 2011B, p. 238)
Desta maneira, a partir da natureza e dimensão tátil da palavra, creio que a escola
não pode se esquecer desta importante dimensão da linguagem em sua tarefa de
formação humana para o conhecimento: a natureza viva da linguagem e que é revestida
de poder sensibilizador e também revestida de emoções. Linguagem que tem o poder de
acolhimento, de cura... também de causar enfermidades; que possui poder de morte,
mas, ainda mais forte, poder de vida, de ressurreição: “Lázaro, vem para fora!”21
O poder revestido na palavra é certamente mais um reforço de que a escola e os
educadores não podem querer entronar o conhecimento no universo do cientificismo com
pedestal da razão e quererem dar ao conhecimento a forma única de ser/acontecer por
meio da razão, com valorização apenas da intelectualidade.
As palavras nos enfeitiçam facilmente. Os humanos somos seres simbolizadores. Existimos não apenas porque nos alimentamos, mas porque estamos imersos em significações. Sem isso não sobreviveríamos enquanto animais simbolizadores. Ora, assim como o alimento pode ser pouco e ruim, ou abundante e bom, também os fluxos comunicativos podem criar bem-estar ou mal-estar. (ASSMANN & MO SUNG, 2000, p. 285)
E que os educadores possamos ter em mente e conseguirmos levar para as
instâncias educativas sempre o melhor e mais nutritivo alimento linguajeante na
construção e ampliação das estruturas cognitivas de nossos aprendentes. Porque
conhecimento é compartilhamento de ideias, de afeições. “Não é possível continuarmos
pensando o técnico como sede do saber, porque o conhecimento não está aqui nem ali,
nem no sujeito nem no objeto, mas num lugar intermediário, lugar da interação e da
construção conjunta.”22
Creio também que seja necessário lembrar-se sempre, a cada dia, em cada aula,
em cada momento de aprendizagem na relação educador/aprendente que conhecimento
21
BÍBLIA, SÃO JOÃO, 11: 43. 22
RESTREPO (2001, p. 85).
34
não acontece no ser apenas durante a aula e amparado unicamente pela sua disposição
intelectual; a via tanto valorizada pela escola. Neste processo de construirmos a
realidade subjetivamente em nós, os sentidos (todos) são essenciais e não apenas como
simples “janelas” para o mundo. “São muito mais do que isso, porque nossos sentidos
participam ativamente não apenas na recepção de informação desde o meio ambiente,
mas também na construção da realidade percebida” (ASSMANN & MO SUNG, 2000, p. 246).
Por fim, ocorreu-me enquanto refletia e escrevia sobre a palavra, em relação à
sua importância nas nossas vidas de seres simbolizadores (conforme Assmann & Mo
Sung, 2000); quanto destas minhas reflexões e divagações aqui materializadas seriam
possíveis se eu não contasse com o manejo das letras escritas ou sonoras?... Ou, se eu
precisasse lidar com alguma limitação comunicativa: cegueira, mudez...?
2.3 ãos e dedos benditos
Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: “Senhor, se queres, podes curar-me”. / Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: “Eu quero, sê curado.” No mesmo instante, a lepra desapareceu. (BÍBLIA, SÃO MATEUS, 8: 2–3)
The act of touch fulfills the basic human need to feel safe, comfortable and loved. Touch is also an intrinsic factor in child development, but despite touch’s importance, in recent years “touching” has been tabooed in the American school system
because of fears of sexual and physical abuse23
. (FIELD, 2004, p. ix)
Sem dúvida alguma o cérebro necessita do abraço para seu desenvolvimento e as mais importantes estruturas cognitivas dependem deste alimento afetivo para alcançar um adequado nível de competência. Não devemos esquecer, como assinalou há vários anos Leontiev, que o cérebro é um autêntico órgão social, necessitando de estímulos ambientais para seu desenvolvimento. Sem matriz afetiva, o cérebro não pode alcançar seus mais altos picos na aventura do conhecimento. (RESTREPO, 2001, p. 49)
As ideias e reflexões que eu fui apresentando até aqui me convidam a trazer outra
importante reflexão para o universo educacional e para minha produção neste trabalho: a
importância do toque físico no processo de desenvolvimento de aprendizagens, do cultivo
e aprimoramento de conhecimentos.
23
“O ato de tocar preenche a necessidade humana básica de sentir segurança, conforto e amor. O toque
também é um fator intrínseco no desenvolvimento da criança, porém, apesar da sua importância, nos últimos anos, o ‘tocar’ tem sido tabu no sistema escolar americano por medo de abusos sexual e físico.” – Tradução livre.
35
Inúmeras pesquisas realizadas recentemente com seres humanos ou outros seres
vivos (mamíferos) – em diferentes etapas de suas vidas – têm demonstrado e ratificado o
poder do toque, seja ele como fonte de estímulo, comunicação ou desenvolvimento do
corpo ou da mente.
Pesquisas realizadas com roedores, por exemplo, demonstraram a importância do
lamber materno na sua prole para o desenvolvimento de um sistema imunológico mais
forte nos filhotes, bem como para a manutenção de um comportamento mais calmo e
resiliente diante de fatores de estresse na fase adulta de desenvolvimento24
.
Em seres humanos, por sua vez, pesquisa dirigida pela psicóloga Tiffany Field
descobriu que bebês recém-nascidos prematuros que receberam sessões de terapia de
toque ganharam mais peso que bebês prematuros que receberam tratamento “médico
padrão”, além disso, os bebês estimulados demonstraram um amadurecimento nervoso
antecipado em relação aos bebês privados desse tipo de sessão de terapia25
.
Na realidade, quanto mais sabemos a respeito dos efeitos da estimulação cutânea, mais descobrimos o quanto é profundamente significativa para um desenvolvimento saudável. Por exemplo, num dos primeiros estudos desse tipo, constatou-se que a estimulação cutânea em bebês recém-nascidos exerce uma influência altamente benéfica sobre seu sistema imunológico, o que tem importantes consequências para a resistência contra doenças infecciosas e outras. (MONTAGU, 1988, p. 43)
Ainda, outros exemplos da importância do toque em nossa vida para
aprimoramento de nosso desenvolvimento físico e psicológico estão presentes em
pesquisas e estudos realizados pelos psicólogos Sidney M. Jourard e Nicolas Guéguen.
O primeiro, como exemplo, ainda na década de 1960 em seus estudos sobre a
importância do toque no desenvolvimento humano, esteve visitando cafés em diferentes
partes do mundo e observou o número de vezes – no intervalo de uma hora – que as
pessoas que compartilhavam um café tocavam-se entre si. Sua observação trouxe
resultados como: em Londres, a quantidade de toques foi 0; em Gainesville (Flórida), 2;
em Paris, 110; e em San Juan (Porto Rico), mais de 180 vezes26
.
Já Guéguen (2002), por sua vez, nos apresenta um exemplo de benefícios do
toque mais próximo do universo escolar. Um estudo deste psicólogo revelou, a partir de
24
CHAMPAGNE, Frances A.; FRANCIS, Darlene D.; MAR, Adam & MEANEY, Michael J. Variations in
maternal care in the rat as a mediating influence for the effects of environment on development. Physiology & Behavior 79 (2003), pp. 359–371. Disponível em «http://www.researchgate.net/profile/ Darlene_Francis/publication/10584606_Variations_in_maternal_care_in_the_rat_as_a_mediating_influence_for_the_effe
cts_of_environment_on_development/file/9fcfd5082d633c651f.pdf». Acesso em: 03 mar. 2014. 25
GOLEMAN, Daniel. The experience of touch: research points to a critical role. In The New York Times
Disponível em «http://www.nytimes.com/1988/02/02/science/the-experience-of-touch-research-points-to-a-critical-
role.html». Acesso em: 04 mar. 2014. 26
O estudo foi publicado no artigo: JOURARD, S. M. An exploratory study of body accessibility. Britsh
Journal of Social and Clinical Psychology 5, 1966, pp. 221-231.
36
um experimento de observação da correção de exercícios estatísticos em sala de aula
que, quando o professor tocou os alunos no antebraço durante a correção dos referidos
exercícios, houvera um aumento na taxa de voluntariado ao ser proposta, mais tarde,
durante a aula, a realização de uma atividade de correção de atividades na lousa27
.
Nascemos biologicamente prematuros, inacabados e carentes, e por isso totalmente dependentes do carinho acolhedor, mas também abertos a mundos por descobrir e a aprendizagens flexíveis. (ASSMANN, 2000, p. 231)
Um tapinha nas costas, um aperto de mãos, uma carícia ou roçar de braço...
gestos que tendemos costumeiramente a classificar como acidentais, corriqueiros e
comuns são, na verdade, mostra de grandiosos estímulos para nosso corpo e mente.
Que bem o digam as mamães que há séculos, milênios, instintivamente, conseguem com
seu toque poderoso acalmar os bebês em choro, embalá-los e levá-los à terra dos
sonhos... e, também, curá-los e salvá-los!
Mas, não somente são os ‘pequenos’ os grandes beneficiados com os efeitos do
toque, nós, adultos, também somos favorecidos – e tatilmente bem o sabemos. E é válido
reforçar que a energia positiva do toque é via de mão dupla, mutuamente benéfica,
saudável: para o doador, para quem a recebe. Estudos da doutora Tiffany Field28
mostraram que crianças com leucemia que tiveram sessões de massagens diárias
realizadas por seus pais apresentaram aumento de glóbulos brancos, enquanto que os
pais revelaram uma diminuição de seu humor de natureza depressiva. Em outro estudo
da mesma psicóloga, idosos voluntários realizaram massagens em bebês. Desta vez, a
descoberta, semanas depois, foi que os idosos experimentaram melhorias na qualidade
de seu bom humor. Eles estavam com menos ansiedade ou depressão e apresentaram
diminuição dos níveis de hormônios do estresse, além de estarem sociavelmente mais
sadios.
Outros exemplos dos aspectos positivos do toque no comportamento adulto são
encontrados em Guéguen (2002). O psicólogo, discorrendo em seu artigo sobre os
efeitos do toque, destaca, por exemplo, uma generosidade maior do cliente ante o toque
da garçonete no momento da gorjeta; e também a aceitação maior de prova de um novo
produto em uma loja pelo freguês a partir de um estímulo tátil do vendedor; ou, ainda,
que o toque nos entrevistados em uma pesquisa de rua aumentou a taxa de aceitação de
uma outra investigação posterior. Assim, por que seria a educação a apresentar exceção
em relação aos benefícios do toque? Por certo que aqui nosso questionamento e
27
O estudo foi publicado no artigo: GUÉGUEN, Nicolas. Encouragement non-verbal à participer en cours:
l'effet dutoucher. Psychologie & Èducation nº. 51, 2002, pp. 95-107. 28
FIELD (2008, p. 02).
37
sugestão de uma “educação mais tátil” se encontram dentro dos limites sadios de contato
físico, salvaguardando e protegendo a criança, o aprendente de todo e qualquer toque
malévolo, degenerativo, criminoso.
Outros dados de pesquisas em relação aos benefícios do toque, de acordo com
Field (2008), são patentes e estão relacionados à redução da dor, da ansiedade, da
depressão e de comportamentos agressivos... ainda, na promoção da função imunológica
e da cura... também, na diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial... bem
como, no melhoramento do fluxo de ar nos asmáticos... E todos esses são benefícios
para nossas vidas que não apresentam efeito colateral qualquer de droga alguma!
José Ângelo Gaiarsa (1988) apresentando a edição brasileira do livro «Touching –
The human significance of the skin»29
destaca que estamos tão doentes em nossas
modernas sociedades porque nos falta proximidade, nos falta tato, viver o “com tato”:
[...] não trocamos carícias nem gostamos que toquem em nós. Quanto mais civilizados, mais asséptico, mais distante e mais frio. Só palavras. Pouca mímica. Nenhum contato. Por isso foi tão fácil inventar robôs. Estamos cercados o tempo todo daquilo que mais desejamos e ninguém ousa se apropriar – tocar, abraçar, acariciar – olhos nos olhos... (MONTAGU, 1988, p. 13)
Um aspecto instigante destacado por Gaiarsa na sequência de seu texto de
apresentação do livro de Montagu (1988) está no alerta-questionamento: não será
justamente a falta/carência de toque que anda a nos fazer caminhar em passos largos
em tantas direções destrutivas, em direção à perda de nós mesmos? Para Gaiarsa, a
falta salutar do tocar, do acariciar, do abraçar nos leva a não estarmos unidos em ações
comuns de defesa da Vida30
de todos nós.
Um reforço a mais sobre os benefícios do contato físico para diminuição da
violência – um endosso às reflexões de Gaiarsa – é ainda algumas outras declarações da
pesquisadora norte-americana Tiffany Field. Conforme Seligman (2002), ela declara que:
[...] a falta de contato físico nos Estados Unidos é um dos responsáveis por eventos como o tiroteio no estado do Colorado – que resultou em 15 mortos em 1999, depois que dois jovens abriram fogo contra colegas e professores na escola Columbine. “Diferentemente dos brasileiros e dos outros latino-americanos, somos menos propensos ao contato físico”, diz Tiffany. “Se as pessoas se tocassem mais, esse tipo de violência diminuiria.” (SELIGMAN, 2002, s/p)
E quanto de “território” fecundo de toque temos em nosso corpo: a extensão toda
de nossa pele31
? E queremos, porventura, guardar esse imenso território sob sete
29
MONTAGU, Ashley. Tocar: o significado humano da pele. São Paulo: Summus,1988. 30
Ênfase atribuída por mim. 31
“Ela representa perto de 12% do peso total do corpo e é, de longe, o maior sistema de órgãos que expomos
38
chaves para nosso (con)tato e deleite tão somente?
Conforme Montagu (1988, p. 15), nossa pele é o maior órgão, extensamente
envolvido no crescimento e desenvolvimento do organismo, e não somente em nível
físico, mas comportamental também. “A pele, como uma roupagem contínua e flexível,
envolve-nos por completo. É o mais antigo e sensível de nossos órgãos, nosso primeiro
meio de comunicação, nosso mais eficiente protetor. O corpo todo é recoberto pela
pele.” 32
Importa destacar, também, que nossa pele é quem nos institui o limite entre o
interno e externo de nós, quem nos individualiza na natureza, no mundo. Ainda, de
acordo com Montagu, a pele é o primeiro sistema sensorial a se tornar funcional em
todas as espécies pesquisadas até o momento (1988): humana, animal, aves.
Mesmo refreados ao contado físico, ao “tato social”, nós podemos notar a
importância que atribuímos à nossa pele com expressões (metafóricas ou não) utilizadas
em nossa língua. A palavra, “toque”, por exemplo, pode nos guiar rumo a esta
composição de exemplos de usos: “toque feminino”, “toque individual”, “toque
profissional”, “toque de mestre”, “toque de mágica”, “toque de requinte”, ”toque de
elegância”, “toque de sabedoria”, “toque de carinho”, “toque de beleza”, “toque de ouro”,
“toque de sabor”, “toque de caixa”, “toque de classe”, “toque de luz”, “toque de poesia”,
“toque de amor” 33
...
Igualmente importante (e curioso) é destacar o uso metafórico da palavra “tato”
em referência a (1) tino, tirocínio; ou (2) sensibilidade; ou, ainda, (3) habilidade, vocação;
temos, assim, um deslocamento para o campo semântico intelectual e não físico. Meus
exemplos para ilustrar: “Com muito tato ela pôde resolver o problema.”, “Seu tato em
relação às nossas necessidades era grande.”, “É um homem de grande tato político.”
E apesar de tudo isso: da nossa veneração à pele, inclusive com criação de
expressões metafóricas, negligenciamo-la:
Embora a pele tenha ocupado constantemente o primeiro plano da consciência humana, é estranho que tenha eliciado tão pouca atenção. A maioria das pessoas considera a pele como algo que não merece atenção específica exceto quando queima e descasca, ou fica coberta de espinhas, ou transpira desagradavelmente. Quando pensamos nela em outros momentos, temos uma vaga sensação de espanto diante de um
ao mundo; de seus 2.500 centímetros quadrados aproximados, no recém-nascido, passa para perto de 19.000 (ou aproximadamente 19 pés quadrados) no macho adulto (com peso de cerca de 4.5 quilos) e contém mais ou menos 5 milhões de células sensoriais. A espessura da pele varia de 1/10 de milímetro a 3 ou 4 milímetros. Em geral é mais grossa nas palmas das mãos e nas solas dos pés e normalmente mais espessa nas superfícies extensoras que nas flexoras; é mais fina nas pálpebras, que devem ser leves e flexíveis.” (MONTAGU, 1988, p. 21)
32 MONTAGU (1988, p. 21).
33 Minha lista não apresenta nenhuma ordem específica, exceto aquela em que as locuções me foram
surgindo à mente ou apresentadas por um buscador na internet.
39
revestimento tão estético e eficiente de nossas partes internas, à prova de água, de poeira e milagrosamente – até ficarmos velhos – sempre do tamanho certo. (MONTAGU, 1988, p. 30)
E que a magia do toque nos seja mais abundante no cotidiano de nossas (duras)
vidas de civilidade(?) moderna e que possamos com(re)partilhar mais nossa pele:
Touch comes more naturally to some people than others. You can make a conscious effort to bring more touch into your daily life – and more happiness to yourself and those around you. Give your kids hugs when they leave for school in the morning and when they come home. Hold your partner's hand when you take a walk, exchange back rubs and don't forget good-night kisses. Pet your
dog or cat.34
(FIELD, 2009, p. 02)
Quantas dores um abraço pode curar?...
2.4 edagogia do tato: um (leve) roçar reflexivo...
Para aceder à fertilidade cognitiva da abdução, é necessário superar a visão parcial que confina o processo de conhecimento à utilização dos exteroceptores – olhos e ouvidos – desconhecendo a importância do tato e dos sentidos cinestésicos – propriocepção e vestibular – no processo de conhecimento. (RESTREPO, 2001, p. 47)
“Como o Gustavo estava próximo e com o livro que lhe presenteei nas mãos, eu
fui pego de surpresa com um abraço dele de agradecimento assim que ele recebeu o
livro de mim...”
Preciso confessar que fiquei meio desconcertado com a agradabilíssima surpresa
de um abraço (inusitado?) de agradecimento pelo livro que dei de presente a um
aprendente meu da escola em que sou educador.
E eu precisava presenteá-lo com o livro... e eu precisava do abraço...
Eu precisava presentear o Gustavo, porque o livro que lhe dei é de um autor do
qual ele gosta muito e tem empreendido esforços homéricos para emprestar os livros
deste autor na biblioteca da escola... Eu precisava do abraço, porque assim passei a
acreditar ainda mais no propósito das reflexões que faço, principalmente nesta seção,
sobre a pedagogia do afeto, sobre como é salutar o contato físico nos espaços
34
“O tocar se apresenta mais naturalmente para algumas pessoas do que para outras. Você pode fazer um
esforço consciente para trazer mais toque para sua vida diária – e mais felicidade para si e para aqueles ao seu redor. Dê às suas crianças abraços quando elas saírem para a escola de manhã e quando voltarem para casa. Segure a mão do seu parceiro quando vocês derem um passeio, troquem massagens nas costas e não se esqueçam de beijos de boa noite. Afague seu cão ou gato.” – Tradução livre.
40
pedagógicos e, também, porque eu necessitava dar menos valor à cultura disseminada
em nossa sociedade em relação ao refreio na demonstração de afeto pelo gênero
masculino e, no meu caso, além disso, educador.
O Gustavo é um aprendente meu de sétimo ano do ensino fundamental. E creio
que, em nome da ética do afeto, posso ser avalizado para identificar nesta produção o
nome real do meu aprendente sem receio de que esse registro possa lhe ser, de alguma
maneira, danoso. Afinal, ele é um aprendente real, o abraço que recebi dele foi real, o
tema sobre o qual trato aqui nesta seção é real. Acredito que era necessário eu registrar
este fato ocorrido comigo, porque o abraço recebido, como falei, diz respeito à natureza
de reflexões sobre as quais quero falar nesta seção.
A natureza de reflexões que apresento nesta seção, então, é para que
educadores e educadoras consideremos mais a importância (e a presença) do tato (toque
físico e, ou linguístico35
) na construção, desenvolvimento, fixação, aprimoramento de
saberes, de conhecimentos; de formação do humano. Meu propósito é que consideremos
mais a presença do tato em nosso fazer pedagógico com nossos aprendentes por meio,
por exemplo, de um tocar leve no braço, no antebraço; de um tapinha nas costas, no
ombro; de um afago na cabeça; de um aperto de mãos; de um pegar de mãos para
auxiliar na condução da escrita, do traçado de letra, do colorir de um desenho. Além
disso, como outros exemplos deste compartilhar tátil na seara pedagógica, proponho que
nos permitamos o segurar (saudável) de apoio de mãos e braços de nossos aprendentes
para auxiliar na execução de algum movimento físico; o carregar de nossos pequenos
aprendentes (dos anos primeiros de escola) no colo; o abraçar acolhedor saudando as
graças de um bom novo dia...
Na criança a mielinização do sistema nervoso está ligada à estimulação tátil por parte da mãe ou dos adultos e à atividade lúdica que coloca o corpo em contato com outros corpos, facilitando assim experiências de tato-pressão e manejo coordenado dos diferentes segmentos corporais. (RESTREPO, 2001,
p. 48)
Assim, o que proponho é uma reflexão e ao mesmo tempo uma (re)inserção e
uma (re)consideração do contato físico saudável nos espaços pedagógicos, procurando
minimizar (um pouco) o fantasma negativo da cultura do politicamente correto que –
dependendo do caso – faz avaliar todo e qualquer toque no âmbito escolar como sendo
degenerativo, malévolo, danoso. Também proponho que motivemos nossos aprendentes
a permitir o acontecer maior da presença do contato físico saudável em suas vidas. Por
35
Sob a ótica de estarmos na linguagem – o linguajear na concepção de Humberto Maturana (1998) – com
sua dimensão tátil: “Ao conversar tocamo-nos uns aos outros, ao fazê-lo desencadeamos mudanças em nossa fisiologia” (MATURANA & VERDEN-ZÖLLER, 2011B, p. 238).
41
que não estimulá-los a saudar colegas com apertos de mão ou com abraços? Não
acredito que estas minhas considerações sejam apenas mais algumas reflexões de
ordem utópica. Não. Não é assim que vejo. Eu não considero apenas uma utópica
reflexão, porque eu acredito na natureza bendita do toque, na natureza de vida que o
contato físico faz emanar.
Infelizmente, ambientes como o criadouro de bebês existiram, e tudo o que podemos dizer é que eles eram mortíferos! Isso ficou evidente quando os psicólogos estudaram os órfãos mantidos em berços separados por lençóis brancos, privados de estimulação
visual e de contato corporal. Seguindo as recomendações dos cientistas, os adultos nunca haviam falado com ternura a essas crianças, e jamais fizeram cócegas nelas ou as carregaram no colo. Os bebês pareciam zumbis, com rostos imóveis e olhos arregalados e sem expressão. (WAAL, 2010, p. 27) [Os destaques
realizados são de minha autoria.]
Eu reitero, contudo, a necessidade de se proteger, salvaguardar, como já disse
anteriormente em meu texto, a criança, o aprendente de todo e qualquer toque
assassino, nefando, deplorável, pejoso. Que nós educadores e educadoras, a partir de
nossa formação, de nossas formações (no âmbito pedagógico, social, humano)
possamos ser (tidos como) responsáveis e idôneos em nosso quefazer educativo no que
se refere ao tocar humano. E creio, ainda, que uma forma de valorizarmos mais e
tornarmos o tocar mais presente nos espaços educativos (e menos recriminado por conta
de uma postura crítica erigida a partir de um comportamento de ordem do politicamente
correto) seja a promoção de reflexões sobre a importância do toque para a formação
humana junto a educadores e educadoras. Acredito, também, que estas reflexões
possam ocorrer nos espaços de formação docente tais como cursos de graduação,
capacitações, reuniões pedagógicas... Por que não oferecer aos educadores (em
formação ou formados) acesso e contato com textos, estudos e vivências que digam
respeito à natureza salutar do tocar para o desenvolvimento humano? Por que não
oferecer aos educadores momentos de reflexão para que (com)partilhem suas
experiências a respeito da importância do toque em suas vidas enquanto pais, mães,
filhos, casais, amigos...?
Por fim, eu quero ousar sugerir a partir de ideias de outra ordem de Waal (2010)
que a ocorrência saudável do tocar no âmbito das práticas pedagógicas também pode
contribuir para criar uma cultura de maior sensibilidade às experiências táteis para com o
outro, uma vez que para este autor muita coisa que ocorre em relação ao nosso corpo
raramente chega a nos fazer pensar a respeito, por exemplo, a introjeção de estados de
espírito do outro. Será que não é o caso de considerarmos também que os aprendentes
que vivenciem nos processos de ensino e aprendizagem saudáveis experiências táteis
42
sejam capazes de replicar essas experiências em outros viveres seus que não, talvez,
apenas àqueles de sala de aula?
Muita coisa ocorre em um nível corporal no qual raramente pensamos. Ouvimos uma pessoa contar uma história triste e inconscientemente deixamos cair os ombros, inclinamos a cabeça para o lado como o nosso interlocutor, imitamos suas sobrancelhas franzidas e assim por diante. Essas mudanças corporais produzem em nós o mesmo estado de desalento que percebemos no outro. Não é a nossa mente que penetra na da outra pessoa, é o nosso corpo que mapeia o do outro. O mesmo se aplica às emoções felizes. Lembro-me um dia de sair de um restaurante certa manhã tentando descobrir por que eu estava assobiando alegremente. O que havia provocado em mim um estado de espírito tão animado? Eu me sentara perto de dois homens que, obviamente, eram velhos amigos e não se encontravam havia muito tempo. Esses homens tinham rido e contado histórias divertidas, dando tapinhas nas costas um do outro. Isso deve ter levantado o meu estado de ânimo, embora eu não os conhecesse e não tivesse participado da conversa entre eles. (WAAL, 2010, p. 22)
Assim, a partir deste compartilhar de experiência acima, proponho também
relevarmos a possibilidade (e capacidade) de o corpo de nossos aprendentes (assim
como o nosso próprio) estar apto, estar propenso, estar biologicamente capacitado e
disposto a mapear posturas e condutas do outro num fluir mimético. E se o mimetismo
realizado pelo corpo for a partir de saudáveis condutas, certamente teremos o fomento de
espaços mais salutares de encontro e (con)vivência humanos.
2.5 esgate histórico: teorias da aprendizagem, modelos
epistemológicos
Uma criança que cresce no respeito por si mesma pode aprender qualquer coisa e adquirir qualquer habilidade se o desejar. (MATURANA & REZEPKA, 2000, p. 12)
Eu não sei ao certo se o caminho que escolho neste segmento do presente
capítulo é o mais adequado; contudo, pareceu-me ser necessário trazer para meu texto
um breve histórico das teorias da aprendizagem tradicionais além dos respectivos
modelos epistemológicos para, a partir disso, apresentar a autopoiese36
(do grego poiesis
[produção] + auto autoprodução). A autopoiese é vista como uma dinâmica constitutiva
36
“A palavra surgiu pela primeira vez na literatura internacional em 1974, num artigo publicado por Varela,
Maturana e Uribe, para definir os seres vivos como sistemas que produzem continuamente a si mesmos.” MARIOTTI (1999, p. 1).
43
(e ‘construtora’) do ser vivo e, por assim ser, está presente na sua capacidade de
conhecer e aprender, bem como de criar condições de conhecimentos e de
aprendizagens.
O resgate histórico das ideias consagradas dos principais modelos
epistemológicos, pedagógicos bem como das teorias da aprendizagem ligadas a eles que
apresento aqui tem como ponto de partida a síntese na tabela a seguir:
Modelo epistemológico Modelo pedagógico Teorias da aprendizagem
a) Empirismo
S O (sujeito) (objeto)
a) Pedagogia diretiva
A P (aluno) (professor)
a) Teoria comportamental/ Behaviorista
E —— R —— Reforço (estímulo) (resposta)
b) Apriorismo (inatismo)
S O (sujeito) (objeto)
b) Pedagogia não-diretiva
A P (aluno) (professor)
b) Gestalt/Humanista (Köhler, Rogers / Teoria figura/fundo)
c) Construtivismo
S O
(sujeito) (objeto)
c) Pedagogia relacional
A P
(aluno) (professor)
c) Construtivismo; histórico-cultural
S O S O
(centrada na ação) (centrada na linguagem)
Observação: as setas na tabela acima Tabela de autoria da Profa. Dra. Maria Teresa Ceron Trevisol37
indicam a origem e o destino das ações.
Seguindo em linhas gerais com uma ideia de síntese, apresento algumas
ponderações sobre os modelos epistemológicos relacionados aos modelos pedagógicos
e às teorias da aprendizagem conforme tabela acima.
2.5.1 Empirismo
Eu inicio compondo uma breve síntese sobre o empirismo.
Na epistemologia empirista a fonte do conhecimento humano está no experimento
em função do meio físico com mediação dos sentidos. São os sentidos a porta de entrada
para a impressão do conhecimento no sujeito – uma “tábua rasa”, “folha de papel em
branco”.
A partir do desenvolvimento da teoria comportamental (behaviorismo), a
aprendizagem é entendida como uma modificação no comportamento provocada pelo
“agente que ensina”, utilizando estímulos reforçadores adequados sobre o “sujeito” que
“aprende”. Desta forma, a pedagogia para os empiristas é diretiva, ou seja, o aprendizado
do aluno acontece somente se o professor ensina. Assim sendo, há a crença numa
37
In TREVISOL, Maria Teresa C. Teoria e prática educativa. Aula proferida na Unoesc, Joaçaba, 25 de nov.
2013.
44
transferência de conhecimento. Na prática de ensino, então, para a pedagogia diretiva,
entra em jogo o mecanismo de estímulo resposta (Reforço). Desta maneira, o
professor “repassa o conhecimento” (treino/repetição/reprodução) e utiliza o reforço como
um condicionante para aumentar a probabilidade de emissão da resposta desejada em
situações futuras.
São nomes importantes relacionados ao desenvolvimento do comportamentalismo
iniciado com Watson: o do fisiólogo russo Pavlov (1849-1936), do psicólogo norte-
americano J. B. Watson (1878-1958) e o nome do psicólogo norte-americano Skinner
(1904-1990).
2.5.2 Apriorismo (inatismo)
O segundo modelo epistemológico do quadro apresentado, o apriorismo, por sua
vez, representa uma oposição à epistemologia empirista, pois, considera que o indivíduo
em seu nascimento já traz consigo determinadas as condições de conhecimento e
aprendizagem. Essas condições se manifestarão imediatamente (inatismo) ou
progressivamente ao longo do processo geral de maturação do ser. Um ponto importante
ressaltado neste modelo epistemológico é que a atividade de conhecimento é exclusiva
do sujeito, o meio não tem participação; quer dizer, a origem do conhecimento está no
próprio sujeito.
Na concepção apriorista, a partir da teoria da forma ou da Gestalt (conhecimento
visto das partes para o todo), o conhecimento é visto como algo inerente ao sujeito e que
necessita ser despertado. Uma vez que o raciocínio é visto como inato; o ensino teria a
função de expandir o que já por si está na constituição hereditária. Cumpre ao professor
na sua atividade pedagógica estimular o aluno para que o conhecimento surja, aflore, se
efetive.
A pedagogia apriorista, como destacada no quadro anterior, é não-diretiva. Por
conseguinte, ao professor é conferida a tarefa de ser um auxiliar, um facilitador para o
aluno. Sendo assim, a intervenção do professor em relação ao processo de aprender é a
mínima possível.
Nome importante relacionado à teoria da Gestalt é o do psicólogo alemão Köhler
(1887-1967), e em relação à pedagogia não-diretiva tem-se o nome do psicólogo norte-
americano Carl Rogers (1902-1987).
2.5.3 Construtivismo
No terceiro modelo epistemológico apresentado no quadro anterior – o
construtivismo – a relação entre sujeito (S) e objeto (O) é “recíproca”; ou seja, o
conhecimento será constituído na (e pela) interação entre sujeito e objeto.
45
Um dos principais nomes ligados à teoria construtivista é o do epistemólogo suíço
Jean Piaget que desenvolveu a teoria da epistemologia genética. Para ele, a inteligência
se caracteriza no principal meio de adaptação do ser humano porque possibilita a
construção de estruturas mentais para serem aplicadas a estruturas do meio (o que,
também, possibilita a elaboração de novas estruturas). De acordo com Piaget, na
interação entre sujeito e objeto (SO) na construção do conhecimento há dois
processos envolvidos: a assimilação – transformação objetiva do mundo em que o sujeito
realiza ações para poder interpretar e internalizar o objeto em suas estruturas cognitivas;
e a acomodação – alteração das estruturas cognitivas do sujeito para poder compreender
o objeto; essa é uma transformação em si mesmo. Segundo Piaget, são esses dois
processos os responsáveis pelo processo de desenvolvimento cognitivo do sujeito (ser
humano).
Dessa interação entre sujeito/objeto, a teoria de Piaget considera que o sujeito se
constrói por meio de sua própria ação, relacionando-se num tempo e espaço com meio
social, econômico e cultural. Assim sendo, o sujeito é considerado “um sujeito histórico,
cultural, social, político. Para Piaget, as estruturas não estão pré-formadas no sujeito,
este as constrói na medida das necessidades e das situações. A experiência não é uma
recepção passiva, é um processo ativo” (PONTES, REGO & SILVA JR., 2006, p. 68).
Do modelo epistemológico construtivista emanam (ou dele se aproximam) as
teorias cognitivistas: a) verbal significativa (Ausubel); b) construtivismo (Piaget); c) sócio-
contrutivista/histórico-cultural (Vygotsky).
A seguir, apresento uma breve abordagem sobre cada uma dessas teorias.
2.5.3.1 Verbal significativa
Para o psicólogo norte-americano, David Ausubel (1918-2008), a aprendizagem
está ligada a conceitos e, em se tratando de aprendizagem escolar, por exemplo, o
conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem significativa.
Segundo as ideias de Ausubel, uma nova informação se relaciona com um
aspecto relevante da estrutura de conhecimento (estruturada em forma de conceitos) que
o indivíduo possui. Nesse processo de formação de conhecimento, são fatores
importantes para que a aprendizagem ocorra: material potencialmente significativo e
disposição para aprender.
No processo de aprender relacionado à escola, Ausubel considera importante o
professor trabalhar com organizadores prévios (“pontes cognitivas” que têm como papel
ligar o conhecimento desconhecido ao que o aprendiz já sabe). Ao professor é reservada
a função de programar, sequenciar os conteúdos e, ao aluno, uma atitude ativa de
46
descobridor, envolvido no processo de construção de seu conhecimento entre o que ele
já possui internalizado e o que lhe é novo.
2.5.3.2 Construtivismo
Jean Piaget (1896-1980) não foi um pedagogo, mas – entre outros títulos – um
biólogo que se dedicou a observar com rigor o processo de aquisição do conhecimento
no ser humano, particularmente na criança. Ele marcou a educação ao mostrar que a
criança não pensa como o humano adulto, mas vai construindo seu próprio aprendizado
(em etapas).
Piaget se ocupou da observação do comportamento infantil atento às concepções
da criança em relação ao tempo, ao espaço, à causalidade física, ao movimento e à
velocidade. O campo de estudo criado por este cientista ficou conhecido como
epistemologia genética – uma teoria do conhecimento que é centrada no
desenvolvimento natural da criança. Piaget enuncia que o conhecimento na criança se dá
por descobertas – que ela própria faz. O conhecimento resulta da interação do sujeito e o
meio – através de uma ação (física e lógico-matemática).
Levando Piaget para a sala de aula, temos o professor como responsável pelo
desequilíbrio da estrutura de pensamento do aluno. O professor deve provocar a busca
pelo conhecimento.
2.5.3.3 Socioconstrutivista/histórico-cultural
A teoria que nasce das reflexões do psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky (1896-
1934) – teoria da aprendizagem caracterizada como sócio-construtivista/histórico-cultural.
Vygotskty atribuiu um papel preponderante às relações sociais no processo de
desenvolvimento intelectual. Para ele, a aprendizagem (enquanto construção do
conhecimento) tem grande ênfase no social, nos processos interpessoais (em oposição
às ideias fundamentais de Piaget que atribuem ênfase aos processos internos; contudo,
apesar disso, não são atribuídos antagonismos e oposições às reflexões dos dois).
Na compreensão de Vygotsky, o homem se constrói como um ser que está em
contato com a sociedade. Portanto, a formação se dará através de uma relação dialética
entre homem e sociedade – o homem modifica o ambiente e é modificado por ele.
Um outro conceito-chave na teoria de Vygotsky diz respeito à mediação: uso de
instrumentos técnicos utilizados na relação do indivíduo com o mundo; instrumentos
agrícolas que transformam a natureza, por exemplo, e, a linguagem – instrumento
utilizado no relacionamento social e que carrega consigo conceitos consolidados da
cultura à qual o indivíduo pertence.
Em relação à educação, é importante frisar que o professor é concebido como um
47
mediador – todo aprendizado é necessariamente mediado – como o responsável por
planejar intervenções (na relação do aluno com o conhecimento). Ao aluno, por sua vez,
compete uma postura ativa frente ao conhecimento enquanto se desenvolve aprendendo
e aprende se desenvolvendo. Nesse processo, a linguagem possui uma valoração
importantíssima.
Ainda, em relação à teoria de Vygotsky aplicada à sala de aula, é necessário
destacar o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) – que se refere à
distância de desenvolvimento real do aluno e aquilo que ele tem potencial para aprender;
potencial que é demonstrado pela capacidade de desenvolver uma competência com a
ajuda de alguém mais experiente (um colega, um adulto, o professor, por exemplo).
2.6 inamismo cíclico e autorreferencialidade no ser/existir: a
autopoiese (o fazer-se a si mesmo)
[Teoria da autopoiese] é uma explicação do que é o viver e, ao mesmo tempo, uma explicação da fenomenologia observada no constante vir-a-ser dos seres vivos no domínio de sua existência. Enquanto uma reflexão sobre o conhecer, sobre o conhecimento, é uma epistemologia. Enquanto uma reflexão sobre nossa experiência com outros na linguagem, é também uma reflexão sobre as relações humanas em geral, e sobre a linguagem e a cognição em particular. (MAGRO & PAREDES IN MATURANA, 2006, p. 13)
Minha seção imediatamente anterior a esta trouxe um abreviado resgate histórico
de algumas das principais teorias da aprendizagem bem como os
respectivos modelos epistemológicos que as sustentam. Na atual
seção, meu empreendimento é fazer o olhar e a mente do(a)
meu(minha) leitor(a) se voltarem para uma outra paisagem da
geografia cognitiva: a autopoiese. AUTO, do grego autós, ,ó:
(eu) mesmo, (tu) mesmo, (ela/ele) mesmo... e POIESE: do grego
poí sis,e s: criação. Autopoiese é uma palavra (gráfica e
etimologicamente poética para designar o autofazer-se dos seres vivos) cunhada por
Humberto Maturana. Conforme Maturana (2002), esta palavra nasceu-lhe a partir de sua
reflexão a respeito da unidade fundamental do “funcionamento” dos seres vivos: a célula
(ainda na década de 1960; o nascimento do vocábulo “autopoiese” deu-se mais tarde,
início da década de 1970). A reflexão inicial de Maturana surge do funcionamento da
célula, através de seus processos metabólicos, a célula se faz. Além de que, ela faz
48
(constitui) o ser vivo e vive em constante funcionamento para se manter e manter o ser
vivo ao qual ela dá existência. Assim sendo, temos a autocircularidade e o autofazer-se
do processo de existir do vivo; portanto, a sua autopoiese (‘autofazimento’). Um processo
que ao mesmo tempo em que dá existência contínua ao vivo, também o diferencia do
meio através da geração de uma fronteira de identificação:
Um ser vivo ocorre e consiste na dinâmica de realização de uma rede de transformações e de produções moleculares, de maneira tal que todas as moléculas produzidas e transformadas no operar dessa rede fazem parte da rede, de maneira que com suas interações: a) geram a rede de produções e de transformações que as produziu ou transformou; b) dão origem aos limites e extensão da rede como parte de seu operar como rede, de maneira que esta fica dinamicamente fechada sobre si mesma, conformando um ente molecular separado que surge independente do meio molecular que o contém por seu próprio operar molecular; e c) configuram um fluxo de moléculas que ao incorporarem-se na dinâmica da rede são partes ou componentes dela, e ao deixarem de participar na dinâmica da rede deixam de ser componentes e passam a fazer parte do meio. (MATURANA &
VARELA, 1997, p. 15)
A seguir, uma representação gráfica38
para o conceito da autopoiese:
_________________________________________________
A circularidade dos processos biológicos
Em sua primeira versão (Figura A), o esquema indica que ácidos nucleicos participam da formação de proteínas que, por sua vez, participam da formação de ácidos nucleicos. Mais tarde, Humberto Maturana transformou este esquema na representação da célula ou do ser vivo por uma seta circularmente voltada sobre si mesma (Figura B).
O conceito da autopoiese é fundamental para a Biologia do Conhecimento (teoria
de Humberto Maturana que abordarei adiante – Capítulo 3, página 60) porque este
conceito vai dar sustentação importante a esta sua teoria do conhecer, especialmente no
que se refere à função do cérebro39
(o sistema nervoso): um sistema fechado de
funcionamento em sua circularidade existencial; o mesmo que nos acontece a nós seres
humanos (ou gatos, cachorros, peixes, plantas...): sistemas fechados com funcionamento
circular. O significado de funcionamento circular fechado é que a organização
38
Esta representação (com sua legenda) foi colhida em MATURANA, MAGRO, GRACIANO & VAZ, 2002. p. 32. 39
O uso da palavra cérebro nas linhas que seguem neste meu texto tem como propósito representar o
sistema nervoso e não apenas o cérebro em si.
A
ácidos nucleicos proteínas
B
N
49
autopoiética dos seres vivos é “operacionalmente fechada à informação ou a instruções
do meio, com o qual todo ser vivo está em permanente congruência e mútua
modulação.”40
Assim, o cérebro (sistema nervoso) na sua tarefa cotidiana de viver sua vida de
sistema nervoso, não faz outra coisa a não ser responder aos processos de acoplamento
(processo de interação com o meio) estando seu ‘funcionar’ circunscrito à sua
capacidade fechada de operação. Ou seja, o cérebro, a partir do acoplamento com o
meio, não faz outra coisa senão reagir41
conforme seu existir de cérebro dentro de sua
existência de circularidade, inclusive dentro dos limites de reações que sua estrutura lhe
permite.
O sistema nervoso é um sistema fechado, uma rede fechada de componentes que interagem uns com os outros, e nos quais a dinâmica de estados é uma contínua mudança de relações de atividade que geram relações de atividade na mesma rede. Que relações de atividade e que mudanças de relações de atividade ocorrem? Aquelas que são determinadas pela estrutura do sistema nervoso. (MATURANA, 2002, p. 66)
Assim, por exemplo, não é dado ao cérebro a capacidade de se petrificar por
estupor ante ao acoplamento a uma situação de susto e permanecer (física,
quimicamente) rígido, inerte; porque o petrificar-se não é possibilitado à sua estrutura.
Mas pode acontecer petrificação ao chumbo – que tenha sido resfriado, por exemplo,
após seu aquecimento; não que este metal tenha propriedades animadas de assustar-se,
não é isso. O que proponho com esse exemplo de “petrificar-se” é ilustrar que a cada
uma das estruturas particulares (individuais) de tudo o que ‘conhecemos’ na vida – seres
animados ou não – como cadeiras, lápis, folhas de papel, cachorros, células, laranjas...
bichos, plantas, pessoas... e cérebros e sistemas nervosos, é-lhes permitido modificar(-
se) a forma (a sua estrutura) – sem que haja alteração da sua organização que os fazem
ser cadeira, lápis, folha de papel... pessoa... e cérebro – especificamente conforme a
‘natureza’ de propriedades de cada um. Portanto, (in)felizmente, não pode nosso cérebro
sair em voo aberto céu afora buscando a pessoa amada ante o acoplamento dele (nosso)
40
MAGRO & PAREDES IN MATURANA, 2006, pp. 14-15. 41
As palavras “reagir”/“reação” são utilizadas aqui no texto por uma questão de comodidade etimológica.
Note-se que nas palavras de Humberto Maturana: “O sistema nervoso é um sistema fechado, uma rede fechada de componentes que interagem uns com os outros, e nos quais a dinâmica de estados é uma contínua mudança de relações de atividade que geram relações de atividade na mesma rede.” – MATURANA, 2002, p. 66). Para Maturana, o observador (no exercício da linguagem) é que responsável pela conotação de ideia de reação à dinâmica de funcionamento do cérebro, do sistema nervoso: “Um organismo, ou ser vivo, é um sistema dinâmico. Quer dizer, um organismo ou um ser vivo é um sistema que enquanto mantém sua organização está em contínua mudança de estado. Um observador que vê o organismo ou o ser vivo como unidade interatuando em um meio não vê suas mudanças de estado, somente vê suas mudanças de posição ou de forma no meio como reação às perturbações deste, ou como reações de sua própria dinâmica interna.” (MATURANA, 1998, p. 34).
50
a uma situação de saudade... mas pode nosso cérebro estruturalmente desencadear
controle sobre as asas nossas de Ícaro – se as tivermos – para nos fazer alçar voo ao
encontro da pessoa saudosa que amamos.42
Tendo em vista minha explanação a respeito de as reações do cérebro (sistema
nervoso) só poderem ser aquelas que a estrutura de seu funcionamento circular permitir
ocorrer, cabe a mim, ainda, discorrer sobre o acoplamento do cérebro com o meio;
acoplamento este que é um processo com mútua modificação: cérebro meio.
Imaginemos que a primeira imagem da figura a seguir represente o cérebro em
seu acoplamento com uma situação de afeto (meio), mas poderia ser qualquer outra
situação: de aprendizagem, de toque no organismo no qual o cérebro integra, de um
estímulo sonoro... Num primeiro momento (A) temos que o meio desencadeia uma
reação no cérebro (reação esta que só pode estar dentro do universo de capacidades de
reações do cérebro). Mas, também, num segundo momento (B), a reação do cérebro
mediante ao estímulo do seu acoplamento com o meio desencadeia (influencia) uma
reação no meio. Assim, cérebro e meio nunca são (nunca serão) os mesmos depois
deste acoplamento, depois de um acoplamento. E creio que poderíamos oportunamente
usar como reforço, aqui, o dito atribuído a Heráclito: “não é possível entrar duas vezes no
mesmo rio”, ou a variação, “nenhum homem pode se banhar duas vezes na mesma
água”. Assim, em analogia, o ser e o meio são águas modificadas (transformadas)
mutuamente após seu acoplamento.
__________________________________________________
Fonte: Concepção do autor desta produção a partir das ideias e teoria de Humberto Maturana.
E expandindo um pouco mais a representação gráfica anterior, conforme
concepção presente em Maturana (2002, p. 42), teremos: o sistema nervoso, o indivíduo
e o meio (a circunstância) – aqui, na imagem, sistematizando o processo de deriva
natural (processo de contínuo acoplamento estrutural em que ser vivo e circunstância se
modificam, se constituem enquanto suas histórias de ‘viver’).
42
As ideias de “circularidade”, “modificação da estrutura”, “conservação da organização” são todas de autoria
de Humberto Maturana (2002, pp. 32-35 e pp. 56-97).
sistema nervoso (fechado em si mesmo)
A
N
meio
B
N
51
__________________________________________________
Fonte: MATURANA, MAGRO, GRACIANO & VAZ, 2002. p. 42
E sobre esta relação de (con)vivência de mútuas modificações entre ser/meio,
Maturana explicita:
Organismo e meio vão mudando juntos, uma vez que se desliza na vida em congruência com o meio. De modo que não é acidental o fato de que um sistema tenha determinada configuração estrutural em suas circunstâncias: é o resultado de uma ontogenia, de uma história individual, com conservação de organização e adaptação. (MATURANA, 2006, p. 80)
E a autopoiese, o que tem a ver com a Educação, em que/com o que se afina?
Onde se acopla esta ideia na seara educacional?
Minha sugestão é que justamente pensemos a prática educativa em referência à
afirmação de Maturana (2002) que o meio não pode especificar o que acontece a um
sistema vivo; mas, ele pode sim, desencadear mudanças e estas mudanças só poderão
acontecer conforme a estrutura do ser. Não posso esperar que ao plantar um pé de
ameixa do inverno e com meus estímulos e cuidados eu possa colher, por exemplo,
melões-de-são-caetano! Nos espaços escolares, no quefazer cognitivo com meus, com
nossos aprendentes não será, não o é diferente: como querer que eles me(nos)
formalizem respostas e conhecimentos que suas estruturas (de seres vivos, de
pensamentos) ainda não estão (ou não desejam estar, conforme mesmo vontades
pessoais) aptas ao que eu(nós) enquanto educador(es) julgo(amos) deveria ser o
comportamento adequado que eu(nós) gostaria(íamos) de observar neles? Além disso,
acredito que a autopoiese pode ser vista como uma filosofia de vida (senão como um
modelo epistemológico); o ser vivo visto com o olhar de sistema fechado que desliza sua
existência em acoplamento com o meio. “Viver é deslizar na realização de um nicho43
.”44
43
Creio que seja adequado que compreendamos aqui, nicho próximo ao significado: “Porção restrita de um
habitat onde vigem condições necessárias para a existência de um organismo ou espécie.” – Fonte: Dicionário Houaiss Eletrônico – versão 1.0.
44 MATURANA (2002, p. 87).
52
Por fim, acredito também ser necessário destacar que fomos nós – humanos – em
nosso existir linguajeante e recorrente com o outro que inventamos e definimos o
“educar” para o processo nosso de aprendizagem. E um aforismo de Maturana (2002) é
apropriado para se trazer aqui para reflexão: “tudo o que é dito, é dito por um observador”
que pode ser ele, ou ela mesma; além de que, é dito na linguagem. Assim, supomos que
a partir de hoje criássemos a descrição e denominação de uma nova conduta humana
frente ao nosso viver, chamando esta conduta de “poiesiação” a partir de nossas ações
de “poiesiar”. Tudo o que dissermos sobre a conduta nova que foi nomeada é dita por
nós, com nosso olhar, e explicada por nós a partir de nosso olhar, estando em exercício
de nosso linguajear. Para completar essa minha ideia apresentada, façamos uma
digressão imaginosa: suponhamos que recebêssemos a visita de um ser de outro planeta
(um outro olhar observador diferente do nosso); como seria descrita e nomeada a
conduta por nós nomeada de “poiesiação”?... Assim, o que conotamos como “educação”,
“aprendizagem”, “educar”, “aprender”... e seus respectivos processos são conceituações
e descrições criadas e feitas a partir de nosso olhar como observadores (e na
linguagem). E se sob o ponto de vista da Vida, no existir autopoiético do ser vivo, a isso
que conotamos “aprender” seja um “desaprender”, seja a ruptura de um viver harmônico
e simbiótico com o meio?... É caso para se pensar?... ;) 45
*•*•*
Ocorreu-me também – e eu já havia dado por finalizado o registro das ideias do
parágrafo acima – que ao ver um vídeo disponível na internet46
de um cachorro
dançando: o olhar nosso frente aos movimentos do cachorro é que ele esteja dançando.
Fazemos isso a partir de nosso olhar (humano) de observador. E para o olhar canino, o
que está ele fazendo? Dançando? Qual é a conotação que ele – enquanto cachorro, com
seu olhar e seu operar na “linguagem canina” – dá para esses seus movimentos?...
45
E sobre isso de nosso olhar nos conotar uma coisa ou outra, note-se que no final deste parágrafo aparece
um emoticon. É intencional; e de forma alguma desrespeito à feição científica deste trabalho. Peço desculpas, eu não consegui me refrear na tentação de colocá-lo (ou não desejei...) E esses dois caracteres tipográficos podem ser tidos apenas por falha na digitação, não? Ou então, outra coisa... E ainda, para mim, também uma homenagem à minha colega de curso no mestrado SANDRA CRISTIANE ENGEL VILA REAL; uma referência à sua exposição de pinturas cultuando a pareidolia. :D
46 O vídeo chama-se «Cachorro dançando hip-hop no sofá // Dog dancing hip-hop on the couch (ORIGINAL)»
e está disponível no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=f5Wbx-aqtYk – acesso em 03 set. 2014
53
2.7 ênue entrelaçar de olhares entre modelos epistemológicos
tradicionais e a teoria da autopoiese
Nossas divergências, nossas discussões, uma vez distinguida a experiência que desejamos explicar, se referem às explicações: “— Observem, existem crianças que morrem de fome! — Ah! Que horror!, Isto se explica porque...”, e o que fala apresenta uma proposição explicativa econômica. O outro diz: “— Não, o que ocorre é que...”, e propõe uma explicação sociológica. Temos duas proposições explicativas diferentes e brigamos. Onde? Por quê? Brigamos por causa da experiência de sabermos de crianças que morrem de fome? Não! A menos que juntemos o fenômeno que desejamos explicar com a explicação que propomos, como quando dizemos “Observem, existem crianças que morrem de fome porque o governo não oferece possibilidades de trabalho”. Mas se não fazemos esta fusão e aceitamos explicar como “as crianças morrem de fome”, começamos a discutir a explicação, e se não concordamos, brigamos por causa dela e nos esquecemos das crianças. Percebem? O problema está na explicação. (MATURANA, 2005, p. 57)
Não, não quero parecer irresponsável, nem descompromissado com meu objeto
de estudo ou com as reflexões e proposições que eu faço sobre os processos de ensino
e aprendizagem fomentadas a partir de, principalmente, ideias do neurobiólogo Humberto
Maturana e filtradas pelo meu olhar; mas, eu gostaria de não precisar gerar comparações
diretas entre a autopoiese e as epistemologias tradicionais por não desejar incorrer,
penso, naquilo que Maturana define como sendo uma manifestação da “objetividade sem
parênteses” (MATURANA, 2006, p. 32) – ou seja, um acesso à verdade como se ela fosse
transcendente e, por conseguinte, a única verdade. Feita esta ressalva, então, peço para
que este emparelhar dos pensares epistemológicos que faço adiante me seja tomado
com uma comparação rumo a um espaço de reflexões. E aqui, se me for lícito, recorro a
um empréstimo das palavras de Maturana (2006, p. 75): “Eu sou maravilhosamente
irresponsável sobre o que vocês escutam, mas sou totalmente responsável sobre que eu
digo.”
E por que penso assim, igualmente?
Porque concordo com Maturana que a cada um de nós, “sistemas determinados
estruturalmente” (MATURANA, 2006, p. 57), acontece algo nas interações com o outro que
diz respeito a nós mesmos, e não ao outro. O que cada um escuta tem a ver consigo
mesmo, com o seu escutar peculiar. E mais, cada um de nós se move em um “certo
domínio de coerências operacionais” (MATURANA, 2006, p. 58), isso implica em considerar
54
que o que é válido para mim enquanto verdade, enquanto explicação, enquanto
justificativa, enquanto realidade pode não o ser para o outro. Entretanto, ainda assim, isto
não implica uma negação do outro, porque se o desejarmos, se quisermos o estar juntos,
podemos converter a divergência em crescimento. Conforme Maturana (2006, p. 58), “a
divergência se converte numa oportunidade para a criação de um novo domínio de
realidade, também de maneira responsável.”
Dessa forma, as proposições as quais me aventuro a fazer adiante são feitas a
partir da minha maneira (particular e responsável) de escutar a realidade e é a partir
desta minha maneira particular que eu faço as distinções que faço. E como aceitei o
convite para escutar as ideias e reflexões de Humberto Maturana sobre o ser vivo, sobre
a realidade, sobre o conhecimento, e as julguei válidas para reflexões na seara
educacional no meu domínio de coerências operacionais – assim como ocorreu, ocorre a
outros pesquisadores e estudiosos – formalizo mais uma vez aqui o convite para um cum
versare47
. Desta vez o passeio que proponho é pelo entrelaçamento das teorias
epistemológicas (apresentadas anteriormente na tabela da página 43) com a
epistemologia de Humberto Maturana: a autopoiese.
Eu acredito que pela relevância dada ao acoplamento entre ser vivo e meio
(circunstância), ambos em congruência, deslizando na vida e com uma história individual
de conservação de organização e adaptação (MATURANA, 2006, p. 58), podemos considerar
que a epistemologia de Maturana se aproxima tão mais das ideias do construtivismo do
que do empirismo ou do apriorismo (inatismo), porque organismo e meio se modificam
mutuamente (Maturana, 2002) no processo de deriva natural48
. E adiante quero falar um
pouco mais sobre esta aproximação – que julgo tênue – entre construtivismo e
autopoiese.
Assim, creio, um aspecto importante de divergência entre a tríade empirismo(1),
apriorismo(2) e autopoiese(3) refere-se ao fato de como os dois primeiros pensares
epistemológicos consideram o conhecimento: como algo que possa ser adquirido, algo
externo ao ser vivo – no empirismo; e como algo que é inerente ao ser, bastando apenas
ser-lhe despertado – no apriorismo. Para a teoria da autopoiese, o conhecimento é visto
como sendo uma adequação de comportamento ao meio: “Falamos em conhecimento
toda vez que observamos um comportamento efetivo (ou adequado) num contexto
47
Eu não pude resistir à força da ideia do conversar (cum + versare) – ‘dar voltas com’, por isso, eu a trouxe
para essa frase. “A palavra conversar vem da união de duas raízes latinas: cum, que quer dizer ‘com’, e versare que quer dizer ‘dar voltas com’ o outro. [...] O que ocorre no ‘dar voltas juntos’ dos que conversam, e o que acontece aí, com as emoções, a linguagem e a razão?” (MATURANA, 2002, p. 167).
48 Conforme Maturana (2006, p. 81), “A palavra deriva faz referência ao seguinte: faz referência a um curso
que se produz, momento a momento, nas interações do sistema e suas circunstâncias.” [Destaque presente no original.]
55
assinalado. Ou seja, num domínio que definimos com uma pergunta (explícita ou
implícita) que formulamos como observadores” (MATURANA, 2011A, p. 195).
Outro aspecto de distinção entre empirismo, apriorismo e autopoiese se refere à
concepção do ser que aprende. Conforme já indicado em páginas anteriores, o
empirismo credita aos sentidos a porta de entrada do conhecimento, o qual será inscrito
no ser cognoscente (uma “folha de papel em branco”), desta maneira, o conhecimento é
visto como algo externo e a concepção de pedagogia emanada do empirismo –
pedagogia diretiva – considera o educador como um “agente que ensina” a um sujeito
que “aprende”. Já em relação ao apriorismo, o ser cognoscente, visto como possuidor do
conhecimento, necessita ter o conhecimento despertado; e é reservado ao educador –
pedagogia não-diretiva – o papel de estimulador para que o conhecimento surja, aflore,
se concretize. A teoria da autopoiese, por sua vez, vislumbra o processo do conhecer
como um mútuo acoplamento entre ser e meio, portanto, não temos um ser que aprende
(conforme concepções do empirismo e do apriorismo).
Na reflexão sobre o conhecer, compreendi que o organismo é um sistema que opera com conservação da organização, como um sistema fechado, como uma rede de produções de componentes no qual os componentes produzem o sistema circular que os produz. Eu tinha que envolver o sistema nervoso nisso – é o que faço no artigo para o congresso de Antropologia – ao mostrar que é na conservação dessa condição fechada do organismo, tendo o sistema nervoso como um sistema fechado, que o conhecer surge
como um operar adequado à circunstância, de modo que essas duas condições – a organização e a adaptação à circunstância – se conservem. (MATURANA, 2002, pp. 35-36) [Ênfase atribuída por mim.]
E a partir disso, creio, para a autopoiese, podemos evocar o processo de ensino e
aprendizagem nos espaços pedagógicos sendo fecundados pelo acoplamento dinâmico
do ser, do estar e do existir entre educador e aprendente.
O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira
recíproca. (MATURANA, 2005, p. 29) [O destaque dado é responsabilidade
de meu olhar.]
Em síntese, então, neste emparelhar reflexivo de epistemologias (empirismo /
apriorismo / autopoiese), creio que é possível apontar como pontos importantes de
divergência as concepções de como o conhecimento e o sujeito cognoscente são
concebidos no âmbito de cada uma dessas teorias epistemológicas.
Minha proposição, agora, por sua vez, é trazer uma conversa entre o
construtivismo de Jean Piaget e a autopoiese; eu fomento esta conversação entre as
56
duas epistemologias apoiado principalmente nas reflexões de Pellanda (2009).
Para início, as palavras mesmas de Maturana (2002) em entrevista à Dra. Cristina
Magro:
Há certas coincidências entre o que eu digo e o que o Piaget disse. Mas Piaget fala, por exemplo, em etapas do desenvolvimento. Eu não digo que há etapas no desenvolvimento, mas que há processos que têm que se dar para que algo aconteça, e
assim sucessivamente. E que normalmente, em nossa cultura, certas coisas se dão de uma certa maneira. Mas em outras culturas não se dão da mesma forma. Há certas culturas em que as reflexões sobre o fazer não se dão. As crianças não são chamadas a olhar o que fizeram. São convidadas de outras maneiras. (MATURANA, 2002, p. 344) [Destaques atribuídos por mim.]
Creio ser válido ressaltar, mesmo que em quase uma repetição no meu texto, o
distanciamento do construtivismo em relação ao empirismo e ao apriorismo, porque o
construtivismo percebe o processo de “[...] desenvolvimento de um sujeito epistêmico, no
qual há a emergência de novos elementos que vão configurar estruturas cognitivas cada
vez mais complexas” (PELLANDA, 2009, p. 55). Talvez isso faça referência direta ao construir
do construtivismo.
Na relação que pretendo estabelecer entre construtivismo e autopoiese, por sua
vez, a exigência é o nosso olhar voltar-se, conforme Pellanda (2009), para uma
acentuada “dicotomia sujeito/objeto” estabelecida pelo construtivismo:
Uma forte dicotomia sujeito/objeto, a previsão de etapas de desenvolvimento previsíveis, uma dependência de captação externa para a construção da realidade e a busca de estabilizações seriam elementos presentes em muitos dos chamados construtivismos. É exatamente por esses motivos é que Maturana reluta em se apresentar como um construtivista ainda que podemos inferir de sua teoria uma necessidade de um “construtivismo radical” no sentido em que tudo é construído pelo sujeito onto-espitêmico. (PELLANDA, 2009, p. 56)
A direção de reflexão para a qual quero apontar o olhar por meio destas linhas a
seguir está orientada, conforme Pellanda (2009), a pontos de divergência entre o
construtivismo de Piaget e as ideias de Maturana (e também de divergência em relação
ao movimento de pensamento definido como Movimento de Auto-Organização – MAO49
,
no qual o pensamento de Maturana também se insere). Estes pontos de divergência
49
“O Movimento da Auto-organização (MAO) se fundou em finais dos anos 70 e início dos anos 80 do século
passado, na sequência de similitudes lógicas e formais encontradas pelo epistemólogo francês Jean-Pierre Dupuy entre teorias científicas de áreas de saber tão diversas como a Termodinâmica (Teoria das Estruturas Dissipativas, de Ilya Prigogine), a Cibernética (Teoria da Ordem pelo Ruído, de von Foerster) ou a Biologia (Teoria da Autopoiesis, de Maturana e Varela e Teoria da Complexidade, de Atlan), passando pela Política, a Geografia, a Antropologia ou a Teologia. Estas similitudes permitiram detetar regularidades abstratas entre o mundo físico e o orgânico, que Bateson (considerado por muitos como ‘pai’ deste movimento) designou por ‘metapadrão’ ” (FEIO & OLIVEIRA, 2010, p. 226).
57
entre construtivismo e as ideias do MAO que listo inviabilizariam a inclusão de Maturana
(da sua epistemologia) na linha de pensamento construtivista.
O primeiro ponto de divergência se refere ao fato de Piaget trabalhar com a ideia
de representação de uma realidade externa (ao ser vivo), ideia de captação externa, além
de ele também dar privilégio ao pensamento lógico. Conforme apontam as reflexões que
fiz anteriormente sobre a autopoiese (seção 2.6, p. 47), a maneira de se conceber o vivo
e o conhecimento não se afinam ao construtivismo piagetiano.
O segundo ponto em que há divergência entre o construtivismo e a autopoiese diz
respeito ao pensamento de Piaget sobre a cognição de sujeitos isolados, ainda que
atribua destaque importante à questão da cooperação. “Na perspectiva autopoiética, o
modelo é sempre a rede e, por isso, isolados, os sujeitos se despotencializam ficando
mais expostos à entropia” [no caso, perda da energia cognitiva] (PELLANDA, 2009, p. 59).
Ainda, um terceiro ponto de discordância entre construtivistas e a autopoiese, a
partir de Pellanda (2009), que julgo importante destacar faz referência ao equilíbrio ou às
estabilizações apontadas por Piaget, especialmente “no último estágio, o do pensamento
hipotético-dedutivo, é a busca de uma estabilização” (PELLANDA, 2009, p. 59). Para
Maturana – conforme reforcei em meu texto nas inúmeras passagens sobre a autopoiese
– o ser e o meio em congruência estão em constantes mudanças no processo de deriva
natural (página 50 e página 54).
3
[...] quero fazer algumas reflexões sobre a linguagem, as
emoções e a ética, e, ao fazê-lo, falar de minha experiência e entendimento como biólogo. Por que falar como biólogo e não como psicólogo ou sociólogo? Falarei como biólogo, porque foi no estudo da fenomenologia da percepção como um fenômeno biológico que me encontrei no espaço de reflexões sobre a linguagem, sobre o conhecimento e sobre o social. Não cheguei ao que vou dizer primeiramente interessado ou imerso no estudo do social ou da linguagem, mas cheguei aí secundariamente, a partir da biologia. Isto implica que aceitei, como problemas legítimos para serem considerados por um biólogo, temas e perguntas que, para outros efeitos, seria possível dizer que não me pertencem. (MATURANA,
2005, p. 36) – [Os grifos pertencem ao texto original].
50
3.1 asseio breve pelo mundo de Humberto Maturana
Humberto Maturana Romesín é um neurobiólogo
chileno nascido em 1928. Estudou medicina na
Universidade de Chile e continuou sua formação
acadêmica em anatomia e neurofisiologia na
University College London, Londres. Seu
doutorado deu-se em Biologia no final da década de
1959 pela Harvard University, Estados Unidos, bem como
sua titulação em ph.D.
Em parceria com o cientista Jerome Ysroel Lettvin no MIT
(Massachusetts Institute of Technology), E.U.A, Maturana
registrou pela primeira vez a atividade de uma célula de um órgão sensorial estudando a
visão nas rãs (o resultado do estudo foi publicado no artigo What the Frog’s Eye Tells the
Frog’s Brain, 1959).
50
A figura da “Árvore Maturana” é uma montagem criada por mim a partir da gravura original de uma árvore
disponível em http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MC900441822.wmf – acesso em 03 set. 2014.
59
No início da década de 1960, ao retornar para o Chile, Maturana tornou-se
professor adjunto na Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. E mais tarde, em
1965, fundou o Instituto de Ciencias e a Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Já no começo da década de 1970, numa sistematização mais acurada de suas
ideias, juntamente com seu ex-aluno Francisco Varela – um companheiro de estudos e
pesquisas, Maturana criou e aprimorou o conceito de autopoiese; conceito este que
explica “como se dá o fechamento dos sistemas vivos em redes circulares de produções
moleculares, em que as moléculas produzidas com suas interações constituem a mesma
rede que as produziu e especificam seus limites”51
; entretanto, apesar deste fechamento,
os sistemas vivos se mantêm abertos ao fluxo de energia e matéria enquanto sistemas
moleculares.
Para Maturana, os seres vivos são “máquinas” que se distinguem umas das
outras pela sua capacidade de se autoproduzir – e cada ser vivo é um universo de
possibilidades de realizações em si mesmo e também a partir da interação com o
meio.”52
As ideias de Maturana a respeito do funcionamento circular (fechado53
) dos seres
vivos são a gênese de sua epistemologia. E traçadas a partir de como se define e se
explica o fenômeno do conhecer no ser vivo; essas suas ideias dão origem à Biologia do
Conhecimento.
Além da Biologia do Conhecimento e também a partir dela, Humberto Maturana
faz reflexões importantes a respeito da emoção que funda o espaço social no
relacionamento humano: o amor – emoção esta definida como a aceitação do outro. “Do
ponto de vista biológico, o amor é a disposição corporal sob a qual uma pessoa realiza as
ações que constituem o outro como um legítimo outro em coexistência” (MATURANA,
2011B). Essas proposições de Maturana centradas no caráter biológico das emoções
humanas constituem as bases da sua teoria conhecida como Biologia do Amor. Além de
que, para o autor, as emoções também são o fundamento de nossa capacidade racional;
as emoções subjazem nosso espectro humano de ações, de racionalidade. Para
Maturana, nosso mover humano na emoção cria espaços de interação com o outro;
espaços que possuem como mediador e elemento de acoplamento a linguagem.
Conforme o neurobiólogo, é a linguagem que constitui o humano, é ela que nos torna
verdadeiramente humanos – assim conforme esse jeito de nós nos definirmos humanos.
Desta forma, nós seres humanos existimos na linguagem. Porque estar na linguagem, é
51
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana – acesso em 06 set. 2014. 52
A ideia sobre cada ser vivo se constituir num universo nasceu de “Cada pessoa é um universo.”, fala de
um amigo em uma conversa a respeito do comportamento e da biologia humanos. 53
“Não se trata de uma contraposição a ‘aberto’, no sentido de relações com o meio, mas fechadas são as
macro condições dessa relação. Fechado quer dizer que o sistema mesmo é dotado de mecanismos de autosustentação, protosustentação e retrosustentação.” (VIEIRA, 2004, s/p.)
60
estar em um fluxo recorrente de “coordenações de coordenações comportamentais
consensuais” (MATURANA, 2011B). E esse fluir recorrente na linguagem no âmbito da
existência humana se configura para Maturana como sendo o linguajear –
entrelaçamento da linguagem nas dimensões da emoção e da ação no viver existencial
humano compartilhado.
Na sua formação, pesquisas e estudos, além da Biologia, Maturana se interessou
por Filosofia, Antropologia, Anatomia, Genética e Cardiologia; e seu interesse
fundamental ficou centrado no humano. Em particular, seus estudos sobre o sistema
nervoso e os fenômenos da percepção conduziram-no à conclusão que “não é o externo
o que determina a experiência. O sistema nervoso funciona com correlações internas”
(MATURANA, 2006, p. 24). Ou seja, o meio funciona apenas como um desencadeador das
mudanças estruturais internas do sistema nervoso; o meio não as determina.
Como extensão dessa proposição de Maturana em relação ao sistema nervoso,
temos essa sua compreensão levada ao âmbito do social humano, como já apontado: a
Biologia do Amor e o linguajear.
Atualmente, procurando desenvolver e difundir suas ideias acerca do ser e do
viver humanos centrados no amor – em afinidade com a Biologia do Conhecimento e com
a Biologia do Amor, Maturana mantém com colaboradores a Escuela Matríztica –
organização que ajudou a fundar junto com a professora Ximena Paz Dávila Yáñez.
Conforme declaração presente no site desta organização, a Escuela Matríztica busca
investigar, pesquisar e desenvolver projetos que visem a gerar consciência de um fazer
(de um existir) ético, responsável e sustentável centrado nas pessoas como núcleo de
todo o seu trabalho (e ações).
3.2 as asas da Biologia do Conhecimento
[No] experimento do ponto cego54
, o fascinante é que não vemos
que não vemos. (MATURANA & VARELA, 2011A, p. 25) [Destaques já no
original.]
Meu convite nesta seção é para um conversar, um cum versare, um dar voltas na
linguagem num passeio na mirada de um novo modo de ver o que vemos (ou achamos,
ou cremos que vemos). Meu convite nesta seção é para um passeio pelas ideias de
Humberto Maturana a cerca do conhecer (do nosso, do humano conhecer), porque,
invariavelmente, em nosso fazer pedagógico moderno, a educação está simbioticamente
associada ao conhecimento.
54
Nosso olho humano apresenta uma falha, um ponto que não possui sensibilidade à luz, é a zona da retina
de onde sai o nervo óptico. O ‘brinquedo’ para se perceber isso de “não vermos que não vemos” pode ser o experimento da página 90 na seção Apêndices desta produção.
61
Meu ponto de partida é em relação às ideias de Maturana sobre o conhecimento.
Para este autor um aspecto importante se refere ao conhecimento ser concebido em
íntimo relacionar-se com a linguagem: [...] proponho que, ao estarmos imersos na linguagem como um sistema de coordenações de coordenações de ações consensuais, nós, seres humanos, produzimos um mundo objetivo utilizando nossas próprias mudanças de estado, como descritores que especificam os objetos que constituem esse mundo. (MATURANA, 2002, p. 78)
E em relação às ideias de Maturana sobre o conhecer, sobre o conhecimento,
temos a Biologia do Conhecer, que também é um sinônimo para a Teoria da Autopoiese
– e costuma ser assim apresentada por alguns estudiosos, autores, pesquisadores que
se dedicam ao estudo das ideias deste autor. Nesta produção, contudo, por uma escolha
baseada na minha compreensão e também em razão da organização de meu texto, eu
utilizei uma cisão: apresentei a autopoiese – focando a ideia de autoprodução do ser,
num processo cíclico, fechado do existir – seção 2.7, página 53. E aqui, na presente
seção, meu empenho é para apresentar a Biologia do Conhecer (do Conhecimento) com
um olhar voltado mais para o fenômeno do conhecimento, para o fenômeno do conhecer.
Para iniciar minha conversa sobre o fenômeno do conhecer (e também do ver),
proponho – a partir da concepção de Maturana do operar fechado do sistema nervoso, do
sistema vivo concebido como autofazedor de si mesmo – um (novo) olhar sobre o que é
isso de o sistema nervoso estar em acoplamento com o meio, de reagir55
às interações
com o meio:
Mas o sistema nervoso (ou organismo) não foi projetado por ninguém: é o resultado da deriva filogenética de unidades centradas em sua própria dinâmica de estados. Assim, o adequado é reconhecê-lo como uma unidade definida por suas relações internas, nas quais as interações só atuam modulando sua dinâmica estrutural, isto é, como uma unidade dotada de clausura operacional. Dito de outro modo: o sistema nervoso não “capta informações” do meio, como frequentemente se diz. Ao contrário, ele constrói um mundo, ao especificar quais configurações do meio são perturbações e que mudanças estas desencadeiam no organismo. (MATURANA & VARELA, 2011A, p. 188)
[Ênfase atribuída por mim.]
Assim, por exemplo, ‘eu’ enquanto organismo autopoiético com meu sistema ner-
voso que vive em seu mundo de clausura operacional, que mudanças em ‘meu’ estado
orgânico/psíquico podem ser desencadeadas pela seguinte perturbação visual:
(Puxa, é pena, a imagem ficou meio borrada... Se forçarmos a vista talvez con-
sigamos fazer distinção mais acurada dela... Ou, então, seja melhor uma página limpa.)
55
Por favor, seja compreendido aqui o uso do verbo “reagir” conforme ressalva na nota 41 da página 49.
62
Agora, aqui, creio, fica-nos mais fácil um dar-se conta das perturbações desenca-
deadas pela imagem que eu desejava apresentar – mais nítida nesta página. Mas
será esta nova imagem apresentada mais significativa para cada um de nós que a
percebe em relação àquela sobre a qual fiz a brincadeira de borrão na página anterior?
Será a presente imagem mais desencadeadora de mudanças nos estados do nosso
operar do sistema nervoso? É caso para se pensar – (e é caso também para se refletir
sobre o que é isso de lidarmos com o conhecimento em relação às significâncias
particulares nos contextos de espaços pedagógicos.) Para mim, por exemplo, a
visualização da imagem desta formiga – mais nítida acima – traz-me à memória saudosa
e curiosa lembrança daquela que vinha recentemente acompanhando-me a existência
nos meus estudos e ócios em seguidas manhãs diárias numa das janelas de casa... O
relógio sugeria proximidade do tempo com as onze horas e ela56
aparecia no seu passeio
(ou labuta? ou matulagem?...57
) cotidiano no batente da janela e na parede. Hoje não a
vi. Nem ontem... Que tempo médio de vida é a existência dela/delas? Seis a dez
semanas?... Será a formiga que conheci solitária no seu viver ou ela compõe
sociedade?... E sobre formigas e sociedade(s), convido o(a) leitor(a) a dar uma espiadela
no início da próxima seção, mas para adiantar algo, digo que o teor da seção adiante
possui relação com o amor – emoção que nos fomenta o estar/o ser/o viver em
sociedade(s). E o que chamamos de seres sociais? Para esta pergunta, proponho aqui
uma ligeira reflexão motivada a partir das palavras de Maturana sobre os insetos sociais
– já que fiz acima provocação com a formiga. Propõe Maturana (2006, p.87): “Chamamos
de insetos sociais aqueles que vivem em comunidade, compartilham alimentos,
alimentam-se mutuamente, não se atacam entre si e, continuamente, constituem espaços
de convivência e se aceitam na convivência. Como isto começa na história evolutiva?”
Bem, a resposta de Maturana a esta pergunta pode (nos) surpreender, mas eu reservo a
resposta para a próxima seção.
Retomando as ideias de Maturana sobre o fenômeno do conhecer – e a partir
deste fenômeno, o fenômeno do ver – é seguro que este autor inaugura um novo jeito
(em relação às visões tradicionais) de concebermos estes dois fenômenos – o ver e o
conhecer. Além de que, as ideias de Maturana irradiadas no campo do pensamento
56
Numa atitude ousada, peço licença para trazer registro da “minha” formiga no Apêndice 5, página 94. 57
E quero lembrar, em congruência com as ideias de Maturana, que esta caracterização que faço sobre o
aparecimento da formiga: de ela estar trabalhando, passeando, explorando... é feita a partir do meu olhar como humano e do meu olhar estando eu na linguagem – além de que, o faço também a partir da minha ontogenia, da minha história de vida.
63
humano, também vão produzir um outro modo de lidar(mos) com nosso fazer cognitivo e
também com a forma tradicional do pensamento ocidental de conceber – conforme
Rabelo (2005) – as ideias que fazemos a respeito do biológico, do não-biológico ou do
social, ou cultural.
A concepção de Maturana do vivo, dos seres humanos como sistemas fechados operacionalmente, autopoiéticos e estruturalmente determinados, inutilizou as velhas dualidades: indivíduo x sociedade, natureza x cultura, razão x emoção, objetivo x subjetivo. Ao mostrar que “emoções são fenômenos próprios do reino animal”, onde nós, humanos, também nos encontramos, e que o chamado “humano” se constitui justamente no entrelaçamento do racional com o emocional, na linguagem, fez desabar o imperialismo da razão. (AURORA RABELO IN MATURANA, 2005,
p. 08)
Assim, eu começo destacando abaixo importante reflexão de Humberto Maturana
que faz referência sobre um dos nossos sentidos tão valorizado em nosso existir
cotidiano de seres humanos nas experiências de acoplamento que temos com o meio. Eu
inicio com considerações de Maturana sobre o nosso sistema de visão, sobre como este
autor percebe o ato de vermos.
Para os biólogos que pensam como eu, sugiro que deveríamos pensar sobre esse tema, ver seria operar em um domínio de correlações sensoefetoras no qual as células sensoriais do organismo envolvidas nas interações estruturais ortogonais ao domínio de estados do sistema nervoso seriam, no meio, células fotossensíveis, e no qual as diferentes dimensões perceptivas (tais como forma, matiz ou movimento) seriam maneiras e circunstâncias diferentes de gerar tais correlações sensoefetoras, enquanto o organismo permanece em acoplamento estrutural no domínio de existência das células sensoriais envolvidas. (MATURANA, 2002, p. 102) [Grifo atribuído por mim.]
O convite para uma nova mirada sobre o ato de ver é dirigido inicialmente para os
biólogos; contudo mesmo que, talvez, esta formação não nos acompanhe, é igualmente
válida e importante para nós (e educadores) a reflexão proposta. É válida, porque, a partir
dela, podemos refletir sobre a condição de cada um de nós seres vivos que funciona
também a partir do fenômeno do ver. É válida para nós porque lidamos com o conhecer
em nosso fazer pedagógico; e a visão, de modo geral, é muito valorizada por nós nesse
processo nosso de conhecer.
Dessa maneira, a partir da natureza de ser do ver, precisamos considerar que nós
vemos a partir de nós, ou seja, nós vemos a partir de nossa estrutura fisicobiológica de
humanos e também a partir do que somos (e conforme nosso humano estar na
linguagem). Assim, se sou um sapo, se sou um cachorro, se sou uma mosca... verei o
balanço de um galhinho em flor de ipê-amarelo de maneira diferente (diferenciada,
própria, peculiar) conforme minha organização de ser vivo. Se sou um ser humano,
64
também verei o balanço do galhinho de maneira diferente. E ainda que eu seja um
humano, assim mesmo, em relação aos outros seres humanos terei uma visão diferente
do mesmo galhinho – visão esta constituída não apenas a partir do funcionamento do
‘meu’ sistema de visão, do ‘meu’ operar de sistema nervoso, mas também influenciada
pela ‘minha’ história de vida (‘minha’ ontogenia).
Eu penso que desconsiderarmos essas características no processo de
fomentação do nosso conhecimento e percepção do mundo (e percepção de nós),
desconsiderarmos essas peculiaridades a respeito de nosso modo de ver é ficarmos
presos às visões tradicionais a respeito de como nós seres humanos somos frente à
nossa natureza cognitiva e existencial. Eu penso, também, que valorizarmos (apenas) as
visões tradicionais sobre o conhecer e o ver implica em ignorarmos todos os esforços e
reflexões feitos a cerca de nossa multidimensionalidade de sermos, de existirmos. Além
disso, acredito que não considerarmos essas reflexões – que trago sobre o ver e o
conhecer fomentadas por Maturana – nos processos de ensino e aprendizagem é
reduzirmos de forma simplista o nosso relacionamento com esses mesmos processos, é
reduzirmos a (nossa) natureza humana de ser, de pensar, de conhecer, com valorização
de ideias e visões que convergem para uma concepção em que funcionamos de maneira
algorítmica, determinista, mecanicista.
E sobre o conhecer? E sobre o conhecimento?
Para apresentar as ideias de Humberto Maturana sobre esses fenômenos, quero
começar apresentando as ideias do autor sobre como se estabelece a relação entre nós
e o externo a nós, entre nós e o meio e, por extensão, como se dá a relação nossa com o
conhecer:
Nós, seres vivos, somos sistemas determinados em nossa estrutura. Isso quer dizer que somos sistemas tais que, quando algo externo incide sobre nós, o que acontece conosco depende de nós, de nossa estrutura nesse momento, e não de algo externo. (MATURANA, 2005, p. 27)
A partir dessa proposição de Maturana, eu sugiro questionamentos: como
(melhor) tratar o conhecimento em nosso fazer pedagógico? Como considerá-lo nas
imbricações das exigências legais (regradas em notas, normas, avaliações,
procedimentos...) que regulam os sistemas de ensino e o fazer pedagógico?
Para mim, a reposta não é outra senão a adoção de uma nova postura
pedagógica pelo educador, pelos educadores frente ao conhecimento, frente à
organização dos processos de ensino e aprendizagem. E eu tento justificar brevemente
este meu posicionamento. Primeiro, conforme mesmo registrado na seção 3.4 página 73,
65
o linguajear é força capaz de promover mudanças em nossas vidas58
. Ou seja, o meu
falar e agir a partir do que eu linguajeio são capazes de promover mudanças. Assim, a
abertura de espaços para reflexão sobre nova(s) forma(s) de conceber o conhecimento
no emaranhado de regras e normas do fazer pedagógico e também a manutenção de um
vívido conversar sobre as reflexões geradas certamente promoverão ações de mudança.
Eu acredito nisso!
Depois, um segundo ponto de reflexão para justificar meu posicionamento
adotado tem a ver com aquilo que o educador julga como explicação válida para o
fenômeno do conhecimento de seus aprendentes no existir do sistema regrado
educacional. Ou seja, em minhas rotinas pedagógicas de fomentar o conhecimento, eu
mesmo defino o que é válido como resposta às questões de avaliação formalizadas aos
aprendentes, portanto, cabe a mim considerar o que será pertinente validar nelas. E tudo
isso, sugiro, evidente, responsavelmente sem perder de vista as reflexões de Maturana
sobre o conhecer, sobre o conhecimento.
Seguindo com as reflexões sobre o conhecer, as ideias de Maturana sintetizadas
na Biologia do Conhecimento referem-se à tentativa de dar conta do observador no
fenômeno do conhecer. Para o autor, na geração do conhecimento é necessário
considerar-se a participação do observador funcionando a partir de sua dinâmica interna
e de seu relacionamento com o meio. Assim, aquela visão tradicional de pirâmide59
envolvendo os três elementos observador-‘objeto’-‘meio’ é incapaz de satisfazer a nova
concepção (circular) proposta por Maturana para se enxergar o processo de conhecer.
A seguir, eu me aventuro numa representação gráfica para tentar ilustrar essas
ideias e incluo o elemento “linguagem” na concepção circular de Maturana para a
natureza do conhecer:
_________________________
Fonte: concepção do autor desta produção.
58
Conforme Maturana (2006), nós somos aquilo sobre o qual conversamos e também nós nos transformamos
a partir daquilo sobre o qual conversamos. 59
“[...] um triângulo formado pelo experimentador-observador, no vértice superior, pelo organismo do macaco,
num vértice da base e, no outro, pelo ambiente circundante ao macaco” (MATURANA, 1995, p. 31). O “organismo do macaco” mencionado no exemplo de Maturana refere-se ao objeto a ser “conhecido”, e pode ser ele um ‘objeto’ de qualquer natureza.
66
Assim, conforme ponderações que já fui fazendo em diversas seções desta
produção, “tudo o que é dito, é dito por um observador” (MATURANA, 2002, p. 34) e este o
faz na linguagem. Dessa forma, para Maturana, o conhecimento é visto como inerente ao
processo de vida do ser vivo, portanto: “conhecer é viver, e viver é conhecer” (MATURANA,
2002, p. 42). E enquanto esta dinâmica se fizer presente na vida do ser, enquanto o ser
vivo estiver em congruência com sua circunstância permanecerá em vida, não havendo
mais congruência, ele morre. “Ou seja, quando acaba seu conhecimento, morre. É um
conjunto que é uma unidade em sua circunstância. Mas ele é como é, segundo sua
história com sua circunstância. E sua circunstância é como é, segundo a história de sua
dinâmica”60
(MATURANA, 2002, p. 42).
Por fim, acredito que sejam importantes as reflexões sobre o conhecimento
apresentadas aqui e irradiadas sobre as concepções tradicionais do conhecer na
pedagogia. Porque, a partir das ideias de Maturana sobre o fenômeno do conhecer,
considerando-se “[...] que todo conhecer é uma ação da parte daquele que conhece.
Todo conhecer depende da estrutura daquele que conhece” (MATURANA, 1995, p. 68) e
também considerando-se o relacionar direto do conhecimento às nossas atividades nos
espaços pedagógicos, acredito que nosso quefazer com o conhecimento, e que diz
respeito sobre como nós humanos – a partir de nossa estrutura, de nossa organização
estrutural – lidamos com a natureza de ser do conhecimento, deve estar aberto a
considerar nossa pluridimensionalidade de ser, de existir, de viver – de conhecer.
3.3 o abraço da Biologia do Amor
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
(I CORÍNTIOS 13:1)61
Minha sugestão a partir desta minha produção acadêmica é que as ideias e
reflexões, que a teoria de Humberto Maturana sobre nós seres humanos (‘máquinas’
autopoiéticas ‘construídas’ na emoção do amor e que realizam o seu existir no linguajear
– no fluir cotidiano da linguagem entrelaçado com as emoções) possam nos abraçar as
nossas práticas pedagógicas (e também o nosso viver) e contribuir para fomentar outras
60
A gravura apresentada na página 51 traz uma ilustração da dinâmica: ser vivo em congruência com a
circunstância. 61
Fonte: https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13 – acesso em 19 out. 2014.
67
produtivas experiências nos processos de ensino e aprendizagem, que possam também
contribuir para uma vida nossa mais sadia e emocionalmente mais viçosa.
E em que consiste este fomentar proposto por mim? Bem, tendo as ideias de
Humberto Maturana como irradiadoras para positivas condutas pedagógicas,
metaforicamente falando, a fomentação por mim proposta consiste em tornar os
processos de ensino e aprendizagem e também formativos mais saborosos e frutíferos
(tanto para aprendentes quanto para educadores); que os frutos – produzidos, colhidos –
possam ser nutritivos alimentos para as presentes e futuras gerações de humanos,
plantas, animais, seres... e que as sementes do fazer pedagógico com dedicação
amorosa sejam boas sementes no prosseguimento da maravilhosa odisseia (nossa)
da/na/pela vida.
Como início de conversa sobre a Biologia do Amor, um pouco de biologia. A origem antropológica do Homo sapiens não se deu através da competição, mas sim através da cooperação, e a cooperação só pode se dar como uma atividade espontânea através da aceitação mútua, isto é, através do amor. (MATURANA, 2002, p. 185)
Nós humanos somos seres constituídos para vivermos em sociedades. E o que
nos faz convergir para a convivência social é a emoção do amor. Contudo, conforme
Maturana (2002), o que é especialmente humano no amor, não é o amor em si, mas o
que nós fazemos no amor enquanto seres humanos. E somos o tempo todo sociais em
nossas relações entre nós seres humanos? Por certo que não, infelizmente. Um exemplo
disso é o trabalho (assalariado). As relações de trabalho presentes em nossas
(insaciáveis) sociedades de consumo não constituem espaços em que esteja instituída a
legitimidade do outro. O patrão em seu reinar de dono da produção e sobre os meios de
produção não deseja cultivar laços ‘sociais’ com seus empregados. Se lhe coubesse
andar com um slogan afixado no peito, talvez o dito popular “amigos, amigos, negócios à
parte” ganharia rica escrita em filigrana no paletó. E assim o é, que se o empregado
chegar ao seu patrão e lhe disser que precisa faltar ao expediente porque a esposa anda
tendo gasto com remédios, que não está bem de saúde e precisa ir ao médico e gostaria
que não houvesse desconto na paga mensal pela ausência, o patrão, provavelmente,
rebateria com justificativa que há custos e que “máquina parada não produz”. Entretanto,
não podemos descrer que, também, o patrão num gesto de sensibilidade e bondade
venha a concordar com o pedido do empregado. Então, de acordo com Maturana:
Os seres humanos não somos o tempo todo sociais; somente o somos na dinâmica das relações de aceitação mútua. Sem ações de aceitação mútua não somos sociais. Entretanto, na biologia humana o social é tão fundamental que aparece o tempo todo e por toda parte. (MATURANA, 2005, p. 71)
68
Ainda, de acordo com Maturana (2006), o início da vida social – para além do
humano, inclusive – se dá a partir da predisposição biológica que as fêmeas (ou, e
machos) têm no cuidado com sua prole ainda em desenvolvimento (as formigas com
seus ovos, por exemplo, em algum momento põem-nos e ficam próximas a eles
cuidando, tocando, chupando-os porque eles têm secreções deliciosas...). E o cuidado se
estende, depois – com as peculiaridades de cada espécie – para além do seu
nascimento. De acordo com as ideias de Maturana, o que se conserva na história
evolutiva da espécie são as interações recorrentes com os “ovos” (ou fetos/crias se
quisermos uma referência mais próxima a nós humanos). Mas, se a fêmea ou macho
come os ovos, não há interação recorrente, não acontece nada, porque não há um
espaço de convivência. O mesmo ocorre, por exemplo, se as larvas dos ovos eclodidos
forem comidas: não houve a abertura de um espaço de presença do outro junto a si
(junto à fêmea/ao macho). Assim, “A essa disposição corporal que torna isso possível
aplico a palavra amor, como no espaço humano” (MATURANA, 2006, p. 87).
Além do mais, tudo isso nos permite perceber que o amor ou, se não quisermos usar uma palavra tão forte, a aceitação do outro
junto a nós na convivência é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico que o gera. Não nos enganemos. Não estamos moralizando nem fazendo aqui uma prédica do amor. Só estamos destacando o fato de que biologicamente, sem amor, sem aceitação do outro, não há fenômeno social. [...] Descartar o amor como fundamento biológico do social, bem como as implicações éticas dessa dinâmica, seria desconhecer tudo o que nossa história de seres vivos de mais de três bilhões e meio de anos nos diz e nos legou. (MATURANA &
VARELA, 2011A, pp. 269-270) [Os destaques assim o são no original.]
Humberto Maturana, neurobiólogo chileno, escolheu um caminho de reflexão
sobre o vivo, em particular o humano, que é pouco usual entre as pessoas ligadas às
ciências biológicas (pela natureza tradicional de reflexões que se costuma fazer nessa
área). Contudo, suas reflexões ganham vívida relevância na criação de novas
perspectivas para se mirar a realidade na qual edificamos nosso existir e também em
relação aos processos educativos idealizados por nossa espécie. E neste espaço é que
se configura o meu propósito: trazer as ideias e reflexões de Maturana para um cum
69
versare62
com a Pedagogia, com a Educação.
Creio que um ponto importante de diálogo que podemos possibilitar entre a
Biologia do Amor e a seara educacional é a linguagem ligada aos espaços (de emoções
e ações) criados no ambiente educacional.
Maturana não percebe a linguagem como uma estrutura cerebral (como
tradicionalmente concebida); para ele, a linguagem se configura num construto a partir
das relações do ser humano com os outros. “Reconheço também que a linguagem não
se dá no corpo como um conjunto de regras, mas sim no fluir em coordenações
consensuais de condutas” (MATURANA, 2005, p. 27).
Dessa forma, a linguagem, o estar na linguagem – também no que se refere aos
espaços pedagógicos – é muito além do que apenas estar em interação comunicativa
com o intuito de gerar aprendizagens. Estar na linguagem nos espaços pedagógicos é
criar espaços de convivência nos quais a congruência aprendente e educador possibilite
mútua transformação validada num espaço de aceitação recíproca do outro (dos outros)
enquanto ser(es) legítimo(s). Estar na linguagem em espaços pedagógicos é estar num
fluir congruente de coordenações consensuais de condutas.
Vieira (2004), falando sobre essa maneira de Maturana conceber a linguagem,
ressalta a sua importância no espaço educativo:
[...] a linguagem como relação possui uma singular importância nos processos educativos. Estes, por sua vez, deixam de ser atividades depositadoras de informações passando a constituir-se em exercício de conversa. Entendo, assim, a conversa como forma inclusiva e extensiva do diálogo. (VIEIRA, 2004, s/p.)
Maturana (1995) também atribui ao processo de aprendizagem – e aqui como
referência a um processo intrínseco e permanente na vida do ser, e não apenas a
espaços pedagógicos – como um processo de formação para a congruência na vida
social. Nossa maneira individual e coletiva de ser, de viver, a natureza de nossas ideias e
ações, o espectro de nossas condutas, os espaços emocionais nos quais nos movemos,
o humano em que nos tornamos... esses são resultados de nossa ontogenia (de nossa
história de vida individual) vivida na emoção do amor e iniciada ainda no momento em
que fomos gerados enquanto seres vivos.
Porque o processo de aprendizagem, para os seres sociais, é tudo. Não nascemos nem amando nem odiando ninguém em particular. Como então aprendemos isso? Como o ser humano é capaz de odiar com tanta virulência, a ponto de destruir os outros,
62
Neologismo de MATURANA (2002, p. 167); favor conferir nota de rodapé 47, p. 54.
70
mesmo à custa de sua própria destruição na tentativa? (ele começa a aprender isso já em sua própria família). (MATURANA &
VARELA, 1995, p. 15)
Assim, nosso viver na linguagem nos processos educativos com nossos
aprendentes, muito mais com nossos aprendentes crianças, nos obriga a carregar uma
responsabilidade imensa frente à natureza, frente à natureza humana, frente à vida!
Nosso quefazer educativo nos obriga, também, a proporcionar espaços de vivências a
nossos aprendentes que possibilitem a eles se reconhecerem a si mesmos, se
encontrarem consigo mesmos, aceitarem-se. “Vivamos nosso educar de modo que a
criança aprenda a aceitar-se e a respeitar-se, ao ser aceita e respeitada em seu ser,
porque assim aprenderá a aceitar e a respeitar os outros” (MATURANA, 2005, p. 30).
Além de o educador ter (além de nós termos) em mente esta importante
configuração dos espaços educativos (espaços de formação e reconhecimento do eu e
do outro pelos aprendentes), é imprescindível que o educador também reconheça(mos)
um fluxo constituinte do ser humano: a simbiose das dimensões emocional e racional. “O
humano se constitui no entrelaçamento do emocional com o racional. O racional se
constitui nas coerências operacionais dos sistemas argumentativos que construímos na
linguagem, para defender ou justificar nossas ações” (MATURANA, 2005, p. 18).
_________________________
Fonte: concepção do autor desta produção.
Mas nosso mover por diferentes domínios de ações se dá a partir das nossas
emoções. São elas que nos fazem crescer em sociedade e orientar nossas escolhas
de/na vida: ter um trabalho em específico, possuir uma crença (divina ou não) particular,
ser membro de uma determinada sociedade, pleitear candidatura numa eleição, constituir
família... e também viver nossa dimensão social humana. “Biologicamente, as emoções
são disposições corporais que determinam ou especificam domínios de ações. [...] As
emoções são um fenômeno próprio do reino animal. Todos nós, os animais, as temos”
(MATURANA, 2005, p. 18). Baratas, abelhas, peixes, ovelhas, cavalos, lobos, cachorros... as
têm.
71
Eu quero contar agora ao(à) leitor(a) um exemplo colhido de minha vivência sobre
isso de as emoções especificarem nossos domínios de ações, e a partir da narrativa,
projetar reflexões sobre nosso fazer pedagógico nos espaços educativos. O protagonista
da narrativa será o cachorro de casa – o Bily; ele tem acompanhado nossa família
(humana) no deslizar em congruência com a vida por quase doze anos, já.
Bem, com seu tempo de vida e algumas experiências de trauma, o Bily passou a
ter verdadeiro pânico por foguetes – o estrondo é-lhe muito agressivo; daí a estender
esse comportamento de temor também a trovões e relâmpagos foi um estalo. O
pobrezinho chega a tremer todo o corpo quando acontece de trovões e relâmpagos
ganharem o céu em comportamento de chuva. E acalmá-lo é tarefa infecunda. Então,
recentemente, por ocasião da realização do torneio mundial de futebol, quando a seleção
do País entrou em campo para um dos jogos, o barulho dos foguetes esparramou-se
pelos ares. Tentando afugentar do pensamento do Bily o mal-estar desencadeado pelos
foguetes, eu ofereci a ele um pouco de ração úmida (de sachê) – que é verdadeira paixão
para ele – além disso, fiz festinha; ele nem fez conta para meu teatro nem para a ração
que tanto adora. Isso me fez recordar de Maturana e também do seu exemplo da barata
que foi pega de surpresa (pelo dono da casa) no chão da cozinha à noite e recebida com
um grito63
... O domínio de ações em que o Bily estava quando ofereci o petisco do qual
ele muito gosta era tal que ele não podia fazer outra coisa a não ser querer que cessasse
aquela agressiva experiência com estrondos de foguetes; e comer não era parte das
ações nas quais ele poderia se mover naquele momento emocional; porque se fosse uma
ocasião em que não houvesse estrondo de foguetes, ele teria feito a maior algazarra e
desejado com muita vontade comer o petisco ou outro alimento (pinhão, por exemplo,
que ele adora e recusou comer hoje por causa dos trovões)...
É inevitável, como eu disse acima, estender também reflexão sobre as emoções,
sobre a nossa disposição corporal em determinado domínio de ações, quando estamos,
por exemplo, num espaço educativo. Que condições tenho eu, aprendente, de deslizar
em congruência com meu educador de língua portuguesa em sala de aula, por exemplo,
quando este chega tempestuoso e trazendo consigo tempo fechado? Quais são os
domínios de ações que com estas condições climáticas em sala de aula me serão
permitidos que eu me mova (e sem me molhar)? E nestes domínios de ações nos quais
eu me movo, quais deles serão positivos para meu processo de formação educacional,
63
MATURANA, 2005, p. 16.
72
intelectual? Ou melhor, haverá domínios positivos para este meu processo de formação
educacional, intelectual nessa configuração de estados em que me encontro? E para a
minha formação humana?...
Maturana pauta-se por uma noção da biologia em que as emoções possuem um papel fundamental no desenvolvimento do sistema biótico. Acentuando o papel das emoções no viver humano, foi descobrindo o operar do sistema na construção do conhecimento como ação biológica. Propõe a emoção como o grande referencial do agir humano. (VIEIRA, 2004, s/p.)
Quero contar agora uma nova historinha para ilustração e criação de algumas
outras reflexões. Tomo como base um exemplo de Maturana (2005, p. 65): a história do
gato. E onde quero chegar com minha narrativa? Pretendo ir ao encontro da sala de aula,
dos espaços pedagógicos, dos espaços educativos. Assim, meu intento é refletir que se
nós não possibilitarmos – enquanto educadores – a existência de um espaço de
interação irradiado pela emoção de aceitação do outro, pela emoção de legitimidade
(existencial) do outro, então, nós não teremos interações recorrentes nos espaços
pedagógicos enriquecidas com o gérmen do conhecer, do aprender. E por que não? Ora,
porque a não aceitação do outro não irá permitir o surgimento de um espaço de
congruências; e não havendo congruências, não haverá a existência de uma história de
interações recorrentes...
Vamos à minha historinha...
Foi no final do ano passado; descobri em certo dia de dezembro uma gata com
dois gatinhos na vizinhança aqui de casa. A gata e seus dois filhotes viviam soltos pelos
terrenos vizinhos e, ao que tudo parecia ser, sem casa a lhes pertencer, a lhes dar
guarida. Então, tocado, eu resolvi entrar em contato com uma amiga – membro de uma
associação de amparo aos animais – e ela me conseguiu a castração da gata e dos dois
gatinhos. Por favor, não me seja condenado o procedimento de castração; nós não
queríamos novas gerações de gatos vivendo abandonadas; ainda mais que os três
revelavam um comportamento muito arisco em relação à vida doméstica e à proximidade
humana. Então, depois da castração, minha amiga ficou com os dois filhotes em sua
casa para tentar adoção e a gata-mãe voltou a viver aqui na vizinhança sob meus
cuidados. Assim, começamos, eu e gatinha, a nos permitir o surgimento e a criação de
um espaço de aceitação mútua e em congruência existencial... Já tem quase um ano que
venho dando-lhe ração, pedacinhos de carne, além de conversa... (Hoje ela se permitiu a
troca de algumas palavras comigo além de seu costumeiro bufar de alerta!) É verdade
73
que ainda nem posso pensar em tocar-lhe a cabeça, acariciar-lhe o pelo, mas a distância
(física e afetiva) entre nós tem diminuído... E por quê? Porque eu e ela nos permitimos a
aceitação um ao outro num espaço de convivência e de interações recorrentes...
Assim, por analogia, em nossos espaços pedagógicos e educativos temos
semelhante acontecer: a necessidade de criação de espaços de aceitação mútua e de
recorrências. Creio que o educador precisa preparar o lavradio pedagógico, deixá-lo
fecundo para o germinar de infindos espaços de mútua aceitação e ricos em interações
recorrentes: educador aprendentes. E para Maturana (2005), o amor é o sentimento
fertilizador deste campo:
Para que haja história de interações recorrentes, tem que haver uma emoção que constitua as condutas que resultam em interações recorrentes. Se esta emoção não se dá, não há história de interações recorrentes, mas somente encontros casuais e separações. (MATURANA, 2005, 66.) [O destaque já o é no original.]
Talvez o desafio maior para educadores, educadoras nos horizontes pedagógicos
nos seja mesmo a criação de espaços de respeito e aceitação do outro. Porque, a partir
da presença da validação do outro, o conhecimento já está inerente ao ser, à vida.
3.4 irando o linguajear com uma perspectiva fomentadora nos processos de ensino e aprendizagem e também formativos
Os seres humanos somos o que conversamos, e é assim que a cultura e a história se encarnam em nosso presente. (MATURANA,
2005, p. 91) [Ênfase dada por mim.]
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, [...]. (BÍBLIA, SÃO JOÃO,
1: 14)
Creio que a ideia do linguajear proposta por Humberto Maturana tem uma forte
expressão visual (e sonoramente tátil) se a pensarmos como uma dança, um bailar64
emocionlinguístico65
.
E em que consiste esta ideia do linguajear? Bueno, como já apresentei em outras
64
Numa amistosa conversa (conversação) entre meu orientador Prof. Dr. Roque Strieder e o examinador
deste meu trabalho Prof. Dr. Luiz Carlos Bombassaro, nos momentos que antecediam a participação do professor Luiz Carlos na mesa-redonda «Multidisciplinaridade, educação e diversidade» do IV Colóquio Internacional de Educação promovido pelo Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação da Unoesc, colhi a ideia do “bailar” (gestos, fala, emoção) numa das falas do professor Luiz Carlos. Meus agradecimentos a ele por esta contribuição.
65 O neologismo criado aqui tem como ideia representar emoção + linguagem, o entrelaçamento destas duas
dimensões, em situações de fala, de conversa, de linguajeação (o estar-se operando na linguagem).
74
seções deste trabalho, o linguajear – Maturana (2002) – é “neologismo que faz referência
ao ato de estar na linguagem sem associar tal ato à fala, como aconteceria com a
palavra falar.”66
O linguajear portanto, para além do código linguístico, envolve
disposições emotivas e corpogestuais. Mais ainda, envolve um sincronismo quase de
67
Outra importante dimensão sobre o linguajear que o neurobiólogo Humberto
Maturana constrói reflexões está ligada ao poder de transformação que ele possui: nós
somos o que conversamos e também nos transformamos a partir do que conversamos; a
partir dos domínios linguísticos e domínios de ações nos quais nos movemos. Eu tento
me fazer melhor compreender recorrendo a Maturana (2002, p. 168):
Ao mesmo tempo, como nos encontros corporais os participantes na linguagem desencadeiam mutuamente mudanças estruturais que modulam suas respectivas dinâmicas estruturais, essas
66
Nota explicativa de rodapé presente em MATURANA, 2002, p. 168. 67
Acredito que a história de caça ao touro que eu reproduzi nas páginas 14 e 15 deste trabalho é uma ótima
maneira de ilustrar este encadeamento e sobreposições de coordenações consensuais de condutas.
75
mudanças estruturais seguem, por sua vez, cursos contingentes ao curso que seguem as interações recorrentes dos participantes no linguajar. Dito de outro modo, as palavras constituem operações no domínio de existência, como seres vivos, dos que participam na linguagem, de tal modo que o fluir de suas mudanças corporais, posturas e emoções tem a ver com o conteúdo de seu linguajar [linguajear]. Em suma, o que fazemos
em nosso linguajar [linguajear] tem consequências em nossa dinâmica corporal, e o que acontece em nossa dinâmica corporal
tem consequências em nosso linguajar. (MATURANA, 2002, p. 168)
[Destaques e inserções realizados por mim.]
E sobre este poder de transformação que o linguajear pode operar na dinâmica
(nossa) corporal e no próprio curso de nosso estar na linguagem, permita-se que eu
apresente como exemplo a história de passagem do regime militar para o regime
democrático na pátria-mãe de Humberto Maturana – a partir das palavras dele próprio:
Penso que o que aconteceu em relação ao plebiscito de 1988 mostra exatamente o que [eu] disse sobre a linguagem como um operar em coordenações de coordenações de ações. [...] Começou-se a falar de leis eleitorais, de leis de partidos políticos, de procedimentos eleitorais. Ou seja, gerou-se uma trama de conversações para a democracia que constituiu uma rede de ações. O que aconteceu em 5 de outubro de 1988, dia do Plebiscito Presidencial, com certeza não reflete o desejo de Pinochet, mas ocorreu. Ocorreu porque o governo não pôde detê-lo! Ocorreu porque a rede de conversações, a rede de coordenações de ações gerada no processo dos discursos e debates sobre a democracia e a legalidade democrática constituiu uma trama de ações que não pôde ser evitada, porque não existe o espaço de conversações no qual as ações que a evitassem pudessem surgir. Não! Esta não é uma reflexão superficial a posteriori! As conversações, como um entrelaçamento do emocionar e do linguajar [linguajear] em que vivemos, constituem e configuram o mundo em que vivemos como um mundo de ações possíveis na concretude de nossa transformação corporal ao viver nelas. (MATURANA, 2006, p. 168) [Destaques presentes no original.]
Ou seja, neste exemplo de Maturana, uma palavra-semente sobre democracia
surgiu e a partir dela, e do terreno cultivado emocionalmente e pelas ações por meio do
linguajear, fez-se o seu germinar, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e a sua
frutificação...
Meu convite a partir das ideias que acabei de apresentar, mirando o universo dos
processos de ensino e aprendizagem, é para que pensemos e reflitamos, então, o
linguajear nos espaços pedagógicos. Meu convite se inicia propondo para que pensemos
a respeito da importância de os educadores considerarmos nossas disposições corporais
(físicas, psíquicas e emocionais) – e também linguísticas – frente aos processos de
formação e educação nos espaços escolares. Indago: para onde nossa emoção
entrelaçada à nossa fala nos espaços de escola levará a emoção e a ação de quem está
76
sincronizado conosco (ou deixa de estar) nas suas coordenações consensuais de
condutas? E que poder incomensurável o estar(mos) consciente(s) a respeito do
linguajear terá sobre nós e os/nossos aprendentes? Mais ainda, que poder de
(trans/de)formação cada educador com seu discurso educativo e suas disposições
corporais nos diversos componentes curriculares: na matemática, na ciência, na língua
portuguesa, na língua estrangeira, na história... possui frente aos seus aprendentes?
Creio também, nos ambientes educativos, ser oportuno que consideremos a
reflexão sobre a importância de nossa conversação pedagógica (a partir do nosso
linguajear) – junto com nossas disposições corporais – ser avalizada como um elemento
de formação humana para o (nosso) viver humano na linguagem. Ou seja, a ‘minha’ fala
e o ‘meu’ agir na fala enquanto educador nos espaços pedagógicos é relevante também
para a formação de meus aprendentes (na sua dimensão da fala, na sua dimensão do
agir e ser na fala). Acredito, dessa maneira, ser importante relevar o nosso estar na
linguagem no âmbito pedagógico para além da (só, talvez) preocupação com a
transmissão e fomentação do conhecimento, de conhecimento científico. O nosso viver
na linguagem – enquanto seres humanos sociais e frutos biológicos do amor – nos
demanda que tenhamos em mente que a conversação, a rede de conversações, na qual
nos movemos tem o poder de formação para o viver na linguagem (como humanos e em
sociedade).
Eu percebo esta demanda em relação à importância de o linguajear ser
considerado nos espaços de interação e vivência humana a partir de Maturana (2006).
Então, irradio reflexão para a seara educacional, para o fazer pedagógico, para as
(nossas) práticas de ensino e aprendizagem:
Como mamíferos, somos animais que aprendemos a coordenar o fluxo de nossas emoções e comportamentos consensualmente, ao vivermos juntos. Como animais linguajantes, vivendo juntos também aprendemos a viver em coordenações consensuais de coordenações consensuais de ações. (MATURANA, 2006, p. 132)
Ora, se o viver na escola, nos espaços escolares, não é um autêntico “viver
juntos” (mesmo que às vezes sem validação da legitimidade do outro), então, que
espaços outros o serão tão profícuos para nossa formação humana linguajeante68
?
Acredito ainda que outra importante dimensão do linguajear – e aqui pensada no
âmbito socioeducativo dos espaços escolares – refere-se à capacidade, ao poder de
transformação das palavras, ao poder de operar que elas podem guardar em si
68
Naturalmente que eu não faço aqui exclusão dos espaços familiares ou dos encontros/convívios sociais,
ou mesmo de espaços delineados pelos laços de trabalho em relação à formação humana linguajeante. E a propósito, sobre a palavra “linguajeante”, a preferência desta grafia à “linguajante” se deve ao fato de eu ter escolhido usar em meu texto a palavra “linguajear”.
77
(conforme reflexões feitas em páginas anteriores desta produção)69
. Uma palavra regada
com luz, com esperança, com ternura pode produzir que frutos?... Uma palavra afagada
com carinho, com doçura pode dar guarida a quem?... Uma palavra esquecida de
cuidados, de atenção pode ser dissaborosa, tóxica para quantos?...
E por falar (e escrever) sobre elas, as palavras, um pouco delas entrelaçadas em
emoção; um pouco delas em convescote poético:
[...]Muito valioso na arte de lavar [palavras] é saber reconhecer uma palavra limpa. Para isso conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pelas expressões dos seus sentidos. À noite permita que se deite, não a seu lado mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra, plantada em sua carne, prolifera em toda sua possibilidade. Se puder suportar a convivência, até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. (MOSÉ, 2006, pp. 28-29)
As reflexões e ideias apresentadas por mim até o momento nesta seção me
obrigam a conclamar educadores – em nome do poder da palavra e do poder de
estarmos na linguagem, em nome das ideias e reflexões de Humberto Maturana – para
que acolhamos esta dimensão humana, o linguajear, e a volvamos para os espaços
educativos. Que aproveitemos esta mirada sobre a linguagem humana fomentada pelo
neurobiólogo chileno Humberto Maturana para (res)significarmos nossas vivências
educativas. E mais, para que junto com o linguajear também possamos exercer a nossa
lida educativa abraçados pela Biologia do Conhecimento (o existir do ser vivo enquanto
um sistema fechado autopoiético que está ligado ao seu conhecimento) e pela Biologia
do Amor (o constituir-se do ser humano fundado na emoção do amor; e estando o
emocional em entrelaçamento com o racional).
O convite de Maturana a partir de suas ideias é convite à reflexão(ões). A
proposição dele é de um novo caminho para nós nos percebermos em acoplamento com
a vida. É a proposição de um convite para que enxerguemos o mundo a partir de nossa
existência de seres vivos validados pelo (nosso) estar na linguagem e não como um viver
humano exógeno à nossa constituição de seres linguajeantes:
[...] um caminho no qual podemos revalorizar o corpo, revalorizar as emoções, e afinal fazer uma filosofia que leve em conta o ser humano como ser humano, e não como uma ficção transcendental
69
Por exemplo, o aflorar democrático no Chile conforme Humberto Maturana (p. 75 do presente trabalho).
78
sob a suposição de que é possível o acesso a uma realidade independente [de nós]. (MATURANA, 2006, p. 60)
Ainda, também, penso ser importante ressaltar que nós mesmos – seres humanos
– de acordo com as ideias de Maturana, fazemos o que fazemos, vivemos como vivemos,
somos o que (e como) somos a partir de distinções que fazemos na linguagem:
[...] aquilo que o observador vê como o conteúdo de um processo de linguajar é uma distinção na linguagem, que um observador faz, das relações de um processo de linguajar numa rede de linguajar. [...] nós, seres humanos, existimos como observadores na linguagem, e quaisquer distinções que façamos são operações na linguagem, em conformidade com circunstâncias que surgiram em nós na linguagem. (MATURANA, 2006, p. 131)
E encadeada a essa reflexão quero apresentar uma outra que diz respeito à
natureza das coisas que fazemos enquanto seres humanos70
. Aquilo que concebemos
como educação, como fazer educação surge e se dá “apenas no contexto da
coexistência humana” (Maturana, 2006, p. 133). E aqui me valho das palavras de
Humberto Maturana – nas quais ele faz referência à ciência, mas que é uma reflexão
análoga à educação.
A ciência é uma atividade humana. Portanto, qualquer ação que nós cientistas realizamos ao fazer ciência tem validade e significado, como qualquer outra atividade humana, apenas no contexto de coexistência humana no qual surge. Todas as atividades humanas são operações na linguagem, e como tais elas ocorrem como coordenações de coordenações consensuais de ações que acontecem em domínios de ações especificados e definidos por uma emoção fundamental [na ciência, por exemplo, a emoção é o desejo, a paixão de explicar]. (MATURANA, 2006, pp.
132-3)
E que nós – os que escolheram o caminho do quefazer educacional – possamos
nos valer da emoção que nos move a ser o que somos, a estar onde estamos – a
emoção de ensinar – e a partir dela e das proposições e pensares de Humberto Maturana
Romesín (trans)formemos nova educação. É verdade que (talvez) essas minhas palavras
assumam feições utópicas, mas, como registrou o poeta: “menor que meu sonho / não
posso ser” 71
. Por (quase) fim, preciso reconhecer e declarar que minha produção é
revestida visivelmente por uma pele sensitiva hidratada com emoção; as palavras se me
revelam. Também é verdade que “Como seres humanos abertos a mundos futuros,
precisamos de um horizonte de sonhos mais dilatado que as realizações previsíveis num
futuro de curto ou médio alcance” (ASSMANN & MO SUNG, 2000, p. 241). Que as reflexões
que fiz (nos) sejam fecundas e nutritivas. Meu abraço.
70
Sobre esta ideia fiz algumas ponderações nas páginas 49-50, 52 e 63-64 desse trabalho. 71
Versos do poema «O poema do andarilho» de Lindolf Bell. Disponível em http://www.lindolfbell.com.br/poemas/
poema10.php – acesso em 11 nov. 2014.
4
Tudo o que é dito, é dito por um observador a outro observador, que pode ser ele ou ela mesma [e por ela ou ele própria(o) atribuído significado à realidade por si observada]. (MATURANA, 2002,
p. 128)
O conhecimento não se reduz à percepção sensual, mas jamais existe sem ela. (ASSMANN & MO SUNG, 2000, p. 266)
4.1 m afinidade com ideias apresentadas nessa produção
Decerto que destoo (novamente) escapulindo dos enlaces das regras exigidas
pela norma ao dar esta feição peculiar à minha síntese de apontamentos. Contudo, peço
licença e permissão; não me seja tomada esta necessidade da minha natureza como
transgressão. Eu posso, respeitosamente, solicitar ser visto com um olhar que me veja a
minha necessidade de liberdade de criação como inerente ao meu ser, inerente ao meu
existir humano na linguagem? A linguagem “é nossa forma particular de sermos humanos
e estarmos no fazer humano” (MATURANA, 1995, p. 69). Minhas desculpas pela ousadia em
relação à forma de apresentar esta produção, receio que eu e minha ontogenia somos
fracos na tentativa de dominar as demandas nossas (outras) na congruência com o
meio...
*•*•*
Em minha produção me propus a trazer reflexões sobre o linguajear (teoria do
neurobiólogo chileno Humberto Maturana Romesín) e procurei espraiar este conceito no
âmbito dos espaços educacionais: aprendizagem, formação, ensino... E como destaquei
no caminho de ideias percorrido nessa produção, o linguajear é um neologismo cunhado
por Maturana que faz referência ao ato de estar na linguagem sem necessariamente
associar este ato à fala – como costumeiramente fazemos quando falamos de linguagem.
O linguajear, portanto, envolve o código linguístico língua, mas também envolve nossas
80
disposições corporais; há na ideia do linguajear um entrelaçamento entre estas nossas
duas dimensões: fala e disposições corporais. E quando estamos linguajeando com o
outro (e, por ventura, conosco mesmos), nosso operar linguístico assume uma postura de
encadeamento, uma sincronização de nossas disposições corporais – o que Maturana
especifica como sendo “coordenações consensuais de coordenações consensuais de
ações”. Além disso, sobre a linguagem, este autor considera que nós nos constituímos
humanos a partir da linguagem, porque não há nada sobre o qual (nós humanos)
possamos fazer referência fora de nós que não seja por meio da (nossa) linguagem.
Então, tendo eu partido do ponto que defini como motivador para minha pesquisa,
quase seja, investigar implicações junto a processos de aprendizagem e formativos nos
territórios escolares a partir do linguajear e considerando o linguajear no âmbito da
Biologia do Amor e da Biologia do Conhecimento – teorias de Humberto Maturana –
julguei pertinente tecer algumas reflexões (Capítulo 2) sobre a afetividade, o tato, as
teorias clássicas da aprendizagem e a autopoiese.
Em relação à afetividade (nossa) nos espaços pedagógicos e mesmo em nosso
convívio pessoal, eu procurei acolhimento e leituras principalmente no autor colombiano
Luis Carlos Restrepo. Minhas reflexões associadas às reflexões deste autor procuraram
demonstrar a importância de considerarmos (mais) a afetividade nos espaços
pedagógicos e também em nossas vidas (modernas). Este curso de pesquisa que escolhi
foi motivado pelas ideias de Maturana sobre o amor – uma emoção que é responsável
por possibilitar a nós humanos o convívio em sociedades, já que esta emoção nos
capacita a validar o outro como legítimo outro na convivência.
No que se refere ao tato, à (grande) importância do toque em nossas vidas e em
nosso quefazer pedagógico, fui buscar uma mão para falar a respeito, principalmente em
reflexões do antropólogo Ashley Montagu e da pesquisadora Tiffany Field. Além disso, o
próprio Humberto Maturana em associação com a psicóloga Gerda Verden-Zöller fala a
respeito. (Há um episódio narrado por Maturana em relação à importância do toque físico
nos mamíferos que julguei muito curioso; eu o chamei de “O cordeirinho e o contato
materno” na reprodução trazida no Apêndice 3, página 92 dessa produção).
No Capítulo 2 eu também apresentei uma síntese dos clássicos modelos
epistemológicos e respectivas teorias pedagógicas amparadas nesses modelos para, a
partir desses elementos, apresentar e relacioná-los à ideia da autopoiese – teoria de
Humberto Maturana que faz menção ao existir fechado e cíclico do ser vivo. Para
Maturana, o ser vivo se produz (a vida sua) numa ação contínua de autofazimento a partir
de sua unidade básica, a célula. Além disso, a teoria da autopoiese também apresenta
reflexões sobre o meio não ter o poder de determinar o que ocorre ao ser quando ambos
81
estão em congruência; mas o meio pode, sim, constituir-se em desencadeador de
mudanças no ser. Contudo, as mudanças desencadeadas são aquelas que são possíveis
a partir da estrutura peculiar do próprio ser.
Adiante, em outra instância da presente produção, já no Capítulo 3, julguei
relevante trazer para a constituição do meu texto um pouco da vida, da história de vida e
formação pessoal de Humberto Maturana para destacar nesse seu mover suas principais
reflexões sobre o vivo.
Meu Capítulo 3, portanto, contempla a apresentação de reflexões importantes de
Maturana sobre o ser vivo. A primeira dessas reflexões diz respeito à Biologia do
Conhecimento – reflexão que nos possibilita ampliar nossas ideias e concepções sobre
os fenômenos do ver e do conhecer. Eu procuro fomentar questionamentos e
proposições, então, sobre as (nossas) práticas pedagógicas em íntimo relacionar-se com
o conhecimento, com o fenômeno do conhecer. O que é isso de dizer que vemos? O que
é isso de dizer que conhecemos? O que é isso de dizer que nossos aprendentes
aprendem?
Também tem espaço neste respectivo capítulo a Biologia do Amor – teoria que diz
respeito à emoção que fomenta o viver social, por exemplo, entre (nós) humanos.
Maturana atribui à emoção amor (diferente da ideia de sentimento que conotamos ao
substantivo amor) a responsabilidade de promover a constituição de espaços de vivência
em sociedades. Além disso, o autor também reserva ao processo de aceitação do outro,
de validação do outro a abertura de espaços profícuos para o acontecer do processo do
conhecimento.
Para finalizar as reflexões do Capítulo 3, minha produção procura apresentar uma
mirada do linguajear irradiado nas práticas pedagógicas e de formação. Meu empenho na
escrita da última seção desse capítulo foi para apresentar reflexões sobre a necessidade
de os educadores considerarmos o linguajear no âmbito dos (nossos) fazeres
pedagógicos. Assim, meu convite de reflexão foi para percebermos como nossas
emoções associadas à fala, e também como nossas posturas e condutas linguísticas
podem ser fecundas, estéreis e, até, venéficas para a fomentação do conhecimento ou
mesmo para o processo de formação do humano. Porque, como destaca Assmann
(2000), da mesma forma que o alimento pode ser bom ou ruim, abundante ou não,
nossos fluxos comunicativos (com o outro) podem criar bem-estar ou mal-estar. Dessa
forma, a última sessão da minha produção propõe a importância de os educadores
considerarmos as ideias de Humberto Maturana a respeito da linguagem – o linguajear –
para aprimorarmos nosso ser, estar e fazer em nossas vivências educativas com nossos
aprendentes.
82
4.2 m afinidade com minhas vivências
Eu caminhava pela rua quando avistei o André na calçada do outro lado. Não sei
se ele me tinha visto. Então, quando passei para a outra calçada, ele mexeu comigo: “E
aí, ‘pofessor’?”... Os caminhos meu e do André constituíram proximidades e conexão há
uns dez anos numa sala de aula. Na época, ele já era um aprendente que estava em
distorção idade/série como consideram as políticas públicas educacionais.
Eu e o André nos encontramos raras vezes pelas ruas da cidade. Ele já está um
rapaz bem feito – pelo tempo, pela vida – é gente simplíssima, e creio que mora num
bairro de casa mais humilde do que ele mesmo. André é um engraxate. Desses
engraxates do passado nosso que andavam com caixa de engraxar às costas; a dele, me
surpreendi, foi adaptada a uma dessas estruturas de metal de mala de viagem com
pequenas rodinhas e cabo para puxar...
André continuou a mexer comigo pondo um sotaque brincalhão de espanhol na
sua fala – o ‘pofessor’ dele dirigido a mim no início de nossa conversa já era brincadeira.
E eu, claro, entrei na prosa com ele e deixei o meu português bem à vontade:
– Professor, tão mudando tudo na língua! – Ué, André, como assim? Tu não fala portugueis? Eu acho que não tão mudando nada, não! O que vale, André, na minha opinião, é a língua que a gente fala, essa que a gente tá usando. – Tão mudando, sim, porque se a gente não falá como tá lá no livro, a gente reprova!...
Pus-me a refletir sobre essa minha conversa com o André. Ele é um rapaz que
não (con)seguiu (ir) adiante com os estudos. Contou-me que não terminou o ensino
fundamental, que quase morreu devido a uma experiência com o álcool, que frequenta
um grupo de apoio... Então, sinto-me responsabilizado a refletir a partir deste meu
encontro com o André. De que vale o português do livro para o André, para os Andrés
que nos encontram (que nós encontramos) nos espaços pedagógicos? De que vale o
português do livro para nós (educadores)? De que vale a ideia que o conhecimento possa
ser (re)passado ao(s) aprendente(s) e a partir desta ideia guiarmos todo nosso ser, fazer
e estar pedagógico?
Então, eu concluí que o encontro com este meu aprendente de tempos passados
precisava se constituir em auxílio e também se constituir em motivador para as reflexões
83
que eu poderia fazer aqui neste segmento reflexivo da minha produção. Porque eu
propus a partir da minha escrita fazermos nós, educadores, esforços para concebermos
outras maneiras de vermos o ver, outras maneiras de vermos o conhecer, o
conhecimento, outras maneiras de vermos nossa relação de educadores com nossos
aprendentes. E as minhas proposições feitas foram amparadas em ideias e reflexões
principalmente do neurobiólogo chileno Humberto Maturana Romesín.
Então, ainda em relação ao linguajear – objeto maior de reflexão de minha
produção – preciso destacar que eu mesmo, na interAÇÃO e no cum versare com os
textos e escritos de Maturana, Verden-Zöller, Assmann, Montagu, Restrepo, Waal e
outros, fui me transFORMANDO. E julguei muito curioso isso de eu me (trans)formar a
partir das leituras feitas, porque essa dinâmica me fez lembrar das observações de
Humberto Maturana (2006) a respeito das palavras na fala, a respeito do linguajear:
quando conversamos nos transformamos (mutuamente). E posso dizer que foi muito
importante para minha (trans)formação pessoal e também em relação à minha atividade
de docência esse meu cum versare com os autores com os quais tive contato. Em minha
compreensão, a partir de leituras, estudos e reflexões realizados, considero que os
educadores precisamos estar conscientes do poder da linguagem – pela significação que
o termo congrega sobre si – em nossas vidas, especialmente e também em nossos
movermo-nos pedagógicos. Nós temos o aforismo popular que “a fé (re)move
montanhas”; a linguagem, creio, por sua vez, tem o poder de edificá-las... e não só
montanhas! A linguagem, ainda, tem poder de criar mundos, transformá-los, ligá-los. Ela
tem o poder de ser ponte, ser pedestal... A linguagem na ação – o linguajear – tem o
poder constitutivo de ser tessitura, ser morada nossa do habitar humano, ser-nos as
feições e corpo; modo de ser...
[...] o homem e a vida são as condições de possibilidade de significado e dos mundos em que vivemos. Que conhecer, fazer e viver não são coisas separáveis, e que a realidade e nossa identidade transitória são parceiros de uma dança construtiva. (VARELA IN MATURANA & VARELA, 1997, p. 60)
ANDRADE, Luiz Antonio Botelho; SILVA, Edson Pereira da & PASSOS, Eduardo. O que
é ser humano?. Disponível em «http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v12/m347179.pdf».
Acesso em: 14 abr. 2013.
ASSMANN, Hugo. Brasil 500 Anos: O Sonho Educativo de um Brasil Solidário.
In Impulso - Revista de Ciências Sociais e Humanas. V. 12, nº. 27, Piracicaba:
Unimep, 2000. pp. 213-232.
ASSMANN, Hugo & MO SUNG, Jung. Competência e sensibilidade solidária:
educar para a esperança. Petrópolis: Vozes, 2000. pp. 231-297.
ASSMANN, Hugo. Reencantar a Educação: rumo à sociedade aprendente. 5ª. ed.
Petrópolis: Vozes, 2001. pp. 11-85.
AUSUBEL, David P. et alii. A importância da aprendizagem significativa na aquisição
de conhecimento Psicologia Educacional. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Interamericana,
1978. pp. 54-57.
AUSUBEL, David P. et alii. Aprendizagem por recepção versus aprendizagem por
descoberta Psicologia Educacional. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1978.
pp. 20-25.
BARCELOS, Valdo. Por uma ecologia da aprendizagem humana – o amor
como princípio epistemológico em Humberto Romesín Maturana. In
Educação. v. 29, nº. 3 (60), Porto Alegre, set/dez, 2006. pp. 581-597.
Disponível em «http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article
/viewFile/494/363». Acesso em: 05 dez. 2012.
BECKER, Fernando. Modelos Pedagógicos e Modelos
Epistemológicos. In Educação e Construção do
85
Conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001. pp. 15-32.
CHAMPAGNE, Frances A.; FRANCIS, Darlene D.; MAR, Adam & MEANEY, Michael
J. Variations in maternal care in the rat as a mediating influence for the
effects of environment on development. Physiology & Behavior 79 (2003),
pp. 359–371. Disponível em «http://www.researchgate.net/profile/Darlene_Francis/
publication/10584606_variations_in_maternal_care_in_the_rat_as_a_mediating_
influence_for_the_effects_of_environment_on_development/file/
9fcfd5082d633c651f.pdf». Acesso em: 03 mar. 2014.
FEIO, Ana & OLIVEIRA, Clara Costa. O modelo das crenças de saúde
(health belief model) e a teoria da autopoiesis. In: Reflexão e Ação. v.
18, nº. 1, Santa Cruz do Sul, 2010. p. 226-234. Disponível em
«http://online.unisc.br/ seer/index.php/reflex/issue/view/81». Acesso em: 28 out.
2014.
FIELD, Tiffany. Touch and massage in early child development. Johnson
& Johnson Pediatric Institute, L.L.C., 2004. p. ix.
FIELD, Tiffany. The magic of your touch. Touch Research Institute, 2008. p.
02. Disponível em «http://www6.miami.edu/touch-research/TRI Press/The Magic of
Your Touch.pdf». Acesso em: 03 mar. 2014.
FRANCO, Augusto de. Uma teoria da cooperação baseada em Maturana.
Disponível em «http://www.slideshare.net/augustodefranco/uma-teoria-da-cooperao-
baseada-em-maturana». Acesso em: 14 abr. 2013.
FURTADO, J. C. Entender como se aprende para aprender como se ensina. In
WAJNSZTEJN, A. C. et alii (Orgs.) Desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem
escolar: o que o professor deve dominar para ensinar bem? Curitiba: Ed. Melo,
2010.
GALLACE, Alberto & SPENCE, Charles. The science of interpersonal touch:
An overview. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 34 (2010). pp. 246–
259. Disponível em «http://krieger.jhu.edu/mbi/hsiaolab/Courses/Gallace_
2010.pdf». Acesso em: 03 mar. 2014.
GOLEMAN, Daniel. The experience of touch: research points to a
critical role. In The New York Times Disponível em
«http://www.nytimes.com/1988/02/02/science/the-experience-of-touch-
research-points-to-a-critical-role.html». Acesso em: 04 mar. 2014.
HERNÁNDEZ, Fernando. A importância de saber como os
docentes aprendem. In Revista Pátio – ano I, nº. 04.
Porto Alegre: Artmed, fev/abr - 1998. pp. 08-13.
LARANJEIRA, Maria Inês. Quem ensina, como
aprende. In Da arte de aprender ao ofício de
86
ensinar: relato, em reflexão, de uma trajetória. São
Paulo: EDUSC, 2000. pp. 103-114.
MADERS, Sandra. Filosofia e Educação – uma
conversa com Humberto Maturana. Comunicação
apresentada no IV SENAFE (Seminário Nacional de
Filosofia e Educação: Confluências) Maio/2012. Disponível
em «http://w3.ufsm.br/senafe/Anais/ Eixo_1/ Sandra_ Maders.pdf».
Acesso em: 25 mar. 2014.
MARIOTTI, Humberto. Autopoiese, cultura e sociedade.
Dezembro/1999. Disponível em «http://www.dbm.ufpb.br/~marques/
Artigos/Autopoiese.pdf». Acesso em: 24 mar. 2014.
MARTÍNEZ-GAYOL, Nurya. É possível uma teologia da ternura?.
Tradução de Paulo César Barros. In Perspectiva Teológica. v. 42, nº. 116,
Belo Horizonte, jan/abr, 2010. pp. 45-75. Disponível em
«http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/ perspectiva/article/view/294/549». Acesso
em: 17 mar. 2014.
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento – As
bases biológicas do entendimento humano. Campinas: Workshopsy, 1995.
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento – As
bases biológicas do entendimento humano. 9ª. ed. São Paulo: Palas Athena,
2011A.
MATURANA, Humberto & VERDEN-ZÖLLER, Gerda. Amar e brincar:
fundamentos esquecidos do humano do patriarcado à democracia. São
Paulo: Palas Athena, 2011B.
MATURANA, Humberto & VERDEN-ZÖLLER, Gerda. Amor y juego:
fundamentos olvidados de lo humano desde el patriarcado a la
democracia. Santiago de Chile: Instituto de Terapia Cognitiva, 1993. p. 09.
MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 2006. pp. 19-80.
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco J. De máquinas a seres
vivos: autopoiese – a organização do vivo. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1997.
MATURANA, Humberto. Emociones y linguaje en educación y política. 10ª.
edición. Santiago de Chile: Ed. Dolmen Ensayo, 2001. p. 12
MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. 4ª.
reimpressão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005.
87
MATURANA, Humberto. Entrevista. In: Revista Humanitates. v. 1, nº. 2, Brasília, nov,
2004. s/p. Disponível em «http://www.humanitates. ucb.br/2/entrevista. htm». Acesso em: 28
abr. 2013.
MATURANA, Humberto & REZEPKA, Sima Nisis de. Formação humana e
capacitação. Petrópolis: Vozes, 2000.
MATURANA, Humberto. Ontologia do Conversar in MATURANA,
Humberto. Da biologia à psicologia. 3ª. ed. Porto Alegre: Artes Médicas,
1998.
MATURANA, Humberto. MAGRO, Cristina; GRACIANO, Miriam & VAZ,
Nelson (organizadores). Ontologia da Realidade. 3. reimpressão. Belo
Horizonte: UFMG, 2002.
MATURANA, Humberto. O que é ensinar?... Quem é um professor?. In:
Aula no curso Biologia del Conocer. Facultad de Ciencias, Universidad de
Chile, em 27/07/1990. Gravado por Cristina Magro, transcrito por Nelson
Vaz. Disponível em «http://saci.org.br/?modulo=akemi¶metro=4040». Acesso
em: 12 set. 2014.
MIZUKAMI, Maria da G. N. Abordagem comportamentalista. In MIZUKAMI, M.
da G. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. pp. 19-36.
MONTAGU, Ashley. Tocar: o significado humano da pele. 4ª. ed. São Paulo:
Summus, 1988. pp. 04-60; pp. 194-199.
MOURA, Ana Maria M.; AZEVEDO, Ana Maria P. & MEHLECKE, Querte. As teorias
de aprendizagem e os recursos da internet auxiliando o professor na
construção do conhecimento. Disponível em «http://www.uel.br/seed/nte/as_teorias_
de_aprendizagem_e_a_internet.htm#Teorias%20da%20Aprendizagem». Acesso em: 04
dez. 2013.
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2007.
PELLANDA, Nize Maria Campos. Maturana & a educação. Belo
Horizonte: Autêntica, 2009.
PIAGET, J. O tempo e o desenvolvimento intelectual da criança.
In PIAGET, J. A Epistemologia Genética/ Sabedoria e ilusões
da Filosofia/ Problemas de Psicologia Genética. 2ª. ed. São
Paulo: Abril Cultural, 1983. pp. 211-225.
PONTES, Ana Lúcia; REGO, Sérgio & SILVA JR., Aluísio
Gomes da. Saber e prática docente na transformação
do ensino médio. In Revista Brasileira de Educação
88
Médica. v. 30, nº. 02, 2006, pp. 66-75. Disponível em
«http://www.scielo.br/pdf/rbem/v30n2/v30n2a09.pdf».
Acesso em: 04 dez. 2013.
RAMOZZI-CHIAROTTINO, Zélia. O conhecimento como
resultado da interação entre o organismo e o meio –
Psicologia e Epistemologia Genética de J. Piaget. São
Paulo: EPU, 1988.
REGO, T. C. A cultura torna-se parte da natureza humana. In
Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Rio
de Janeiro: Vozes, 1995. pp.37-83.
RESTREPO, Luis Carlos. O direito à ternura. 3ª. edição. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2001.
RONCA, Antonio C. C. O modelo de ensino de David Ausubel. In RONCA,
Antonio C. C. Psicologia e Ensino. São Paulo: Papelivros, 1980, pp. 59-83.
SÃO JOÃO. Português. In: Bíblia sagrada. Tradução de Padre João José Pedreira
de Castro. São Paulo: Ave Maria, 1959. p. 1406 e p. 1422. Bíblia. N. T.
SÃO MATEUS. Português. In: Bíblia sagrada. Tradução de Padre João José
Pedreira de Castro. São Paulo: Ave Maria, 1959. p. 1314. Bíblia. N. T.
SELIGMAN, Airton. O poder do toque. In: Revista Superinteressante. Nº. 182,
nov/2012. Disponível em «http://super.abril.com.br/ciencia/poder-toque-443466.shtml».
Acesso em: 28 fev. 2014.
SHATTUCK, Roger. A Explosão do conhecimento: ciência e tecnologia. In:
SHATTUCK, Roger. Conhecimento proibido. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998. pp. 173-224.
VIEIRA, Adriano J. H. Humberto Maturana e o espaço relacional da
construção do conhecimento. In: Revista Humanitates. v. 1, nº. 2,
Brasília, nov, 2004. s/p. Disponível em «http://www.humanitates.ucb.br/2
/maturana.htm». Acesso em: 10 abr. 2013.
VISCOTT, David Steven. A linguagem dos sentimentos. São Paulo:
Summus, 1982. pp. 09-29.
VYGOTSKY, L.S. Internalização das funções psicológicas superiores. A
Formação Social da Mente. 4ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. pp. 59-
65.
WAAL, Frans de. A era da empatia: lições da natureza para uma sociedade mais
gentil. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. pp. 09-102.
90
pêndice 1 |———————————————————————————————————
A experiência sugerida aqui é para mostrar que nossos olhos apresentam uma
falha física, mas que o funcionamento deles associados é tão perfeito e sincronizado que
nos “cega” ocultando-nos a falha de seu funcionamento. Assim, não percebemos que não
vemos.
A experiência consiste em: 1) tapar o olho esquerdo, por exemplo, e fixar o olhar
do olho direito no sinal “+”; 2) a folha deverá estar a aproximadamente 50 cm distante do
olho; 3) talvez seja necessário algum ajuste na distância entre esta folha com os
símbolos impressos e o olho – o que poderá ser feito com a aproximação ou
distanciamento da folha – porque o que se espera é o “desaparecimento” do círculo
escuro do nosso campo de visão. E note-se que o círculo não é um pontinho qualquer.
91
pêndice 2 |———————————————————————————————————
A figura “Árvore Maturana” é uma montagem criada por
mim a partir da gravura original de uma árvore disponível em
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MC900441822.wmf
92
pêndice 3 |———————————————————————————————————
cordeirinho e o contato materno Apresento a seguir o relato sobre a importância do toque tátil (lambidas maternas)
e do brincar (em cordeiros).
Posso seguir a reflexão de Maturana e sugerir esta mesma importância do toque
para os mamíferos? Para nós humanos? E por que não, também a partir do relato abaixo
sugerir a importância do amor materno/paterno no desenvolvimento biologicamente
saudável da criança?
Para Maturana (2006, p. 97), “Literalmente, somos filhos do amor. Mais ainda: eu
diria que 99% das patologias humanas são patologias do amor. E é por isso que, no
desenvolvimento da criança, o amor – e o amor é aceitação do outro na convivência – é
fundamental.”
A ‘história’ do cordeirinho recém-nascido privado momentaneamente do contato
materno:
Se separarmos de sua mãe, por poucas horas, um cordeirinho recém-nascido, e em seguida o devolvermos, veremos que o pequeno animal se desenvolve de um modo aparentemente normal. Ele cresce, caminha, segue a mãe e não revela nada de diferente, até que observamos suas interações com outros filhotes de carneiro. Esses animais gostam de brincar correndo e dando marradas uns nos outros. Já o cordeirinho que separamos da mãe por algumas horas não procede assim. Não aprende a brincar; permanece afastado e solitário. O que aconteceu? Não podemos dar uma resposta detalhada, mas sabemos – por tudo o que vimos até agora neste livro – que a dinâmica dos estados do sistema nervoso depende de sua estrutura. Portanto, também sabemos que o fato desse animal se comportar de maneira diferente revela que seu sistema nervoso é diferente do dos outros, como resultado da privação materna transitória. Com efeito, durante as primeiras horas após o nascimento dos cordeirinhos, as mães os lambem continuamente, passando a língua por todo o seu corpo. Ao separar um deles de sua mãe, impedimos essa interação e tudo o que ela implica em termos de estimulação tátil, visual e, provavelmente, contatos químicos de vários tipos. Essas interações se revelam no experimento como decisivas para uma transformação estrutural do sistema nervoso, que tem consequências aparentemente muito além do simples lamber, como é o caso do brincar. (MATURANA & VARELA, 2011A, p. 142)
93
pêndice 4 |———————————————————————————————————
Formiga e mancha de tinta (adaptadas)
A imagem original da “mancha de tinta” está disponível no seguinte endereço: http://www.cleaner-carpet-and-upholstery.com/ink-stain-removal.html Acesso em 17 set. 2014.
A imagem original da “formiga” está disponível em: http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MC900346891.wmf Acesso em 17 set. 2014.
97
pêndice 8 |———————————————————————————————————
linguagem:
exemplo para reconhecimento de coordenações
consensuais de coordenações consensuais de ações
Fiquei pensando a partir de meus estudos e leituras das ideias do neurobiólogo
chileno Humberto Maturana... E a partir dessas minhas reflexões, ocorreu-me
acrescentar a esse trabalho um exemplo ‘prático’ para as pessoas que desejarem
conhecer mais e também se familiarizar com a ideia do linguajear. Na banca de
qualificação do presente trabalho eu utilizei um vídeo (sem o som das falas) como forma
de ilustração da ideia do linguajear; mas, aqui, nesse contexto escrito, apresento um
exemplo colhido em Maturana (2006):
Se vemos duas pessoas a uma distância tão grande que não podemos ouvi-las, e queremos, posteriormente, poder afirmar se elas estavam ou não falando uma com a outra, observamos o curso de suas interações, procurando coordenações consensuais
de coordenações consensuais de ações sob formas facilmente reconhecíveis como pedidos e promessas, indicações para ações,
resposta a perguntas, ou queixas. Em outras palavras, quando buscamos determinar se duas ou mais pessoas estão ou não interagindo na linguagem, não apenas procuramos suas coordenações consensuais de ações, mas também uma dinâmica de recursão em suas coordenações consensuais de ações. Isto é, procuramos a ocorrência de coordenações consensuais de coordenações consensuais de ações como operações num domínio aprendido e não instintivo de coordenações de ações. (MATURANA, 2006, p. 130) [Destaques atribuídos por mim.]
98
pêndice 9 |———————————————————————————————————
eceita pra lavar palavra suja* Viviane Mosé
Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de dois dias de molho quarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, Adquirem consistência de certeza, por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que ainda permanecem sujas depois de submetidas a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira as manchas mais difíceis. Mas todas as tentativas de lavar a piedade foram sempre em vão. Mas nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte, à medida que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo – que atende pelo nome de amargura – Capaz de esvaziar o vigor da língua. Nesse caso o aconselho é mantê-las sempre de molho, em um amaciante de boa qualidade. Agora se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. O perigo aqui é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. A culpa, por exemplo, mancha tudo que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada é amizade e desejo. Desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras sob o risco de perderem o sentido. A sujeirinha cotidiana quando não é excessiva produz uma oleosidade que conserva a cor e a intensidade dos sons. Muito valioso na arte de lavar é saber reconhecer uma palavra limpa. Para isso conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pelas expressões dos seus sentidos. À noite permita que se deite, não a seu lado mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra, plantada em sua carne, prolifera em toda sua possibilidade. Se puder suportar a convivência, até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível.
*In MOSÉ, Viviane. Toda palavra. Rio de Janeiro: Record, 2006. pp. 27-29.