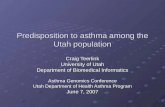Predisposition and Positivism: The Forgotten Foundations ...
Universidade de São Paulo - teses.usp.br · claim that the Sign of Pancreas and the Cross of...
Transcript of Universidade de São Paulo - teses.usp.br · claim that the Sign of Pancreas and the Cross of...
-
1
UNIVERSIDADE DE SO PAULO ESCOLA DE ENFERMAGEM
LIA FORTES SALLES
AVALIAO DA PREVALNCIA E DA HERDABILIDADE DOS
SINAIS IRIDOLGICOS QUE SUGEREM DIABETES MELLITUS EM INDIVDUOS COM E SEM A DOENA
SO PAULO 2012
-
2
LIA FORTES SALLES
AVALIAO DA PREVALNCIA E DA HERDABILIDADE DOS SINAIS IRIDOLGICOS QUE SUGEREM DIABETES MELLITUS
EM INDIVDUOS COM E SEM A DOENA
Tese apresentada para a obteno do ttulo de Doutor em Cincias pelo Programa de Ps-Graduao da Escola de Enfermagem da Universidade de So Paulo
rea de concentrao: Enfermagem na Sade do Adulto Orientadora: Profa. Dra Maria Jlia Paes da Silva
SO PAULO 2012
-
3
Folha de Aprovao
Candidata: Lia Fortes Salles
Ttulo: Avaliao da prevalncia e da herdabilidade dos sinais iridolgicos que sugerem Diabetes Mellitus em indivduos com e sem a doena
Tese apresentada Escola de Enfermagem da Universidade de So Paulo para
obteno do ttulo de Doutor em Cincias. Aprovado em ____/ ____/ ____.
Banca Examinadora
Profa. Dra. Maria Jlia Paes da Silva Instituio_______________________
Julgamento__________________ Assinatura ______________________
Profa. Dra Snia Aurora Grossi Instituio_______________________
Julgamento__________________ Assinatura ______________________
Profa. Dra Eliseth Ribeiro Leo Instituio_______________________
Julgamento__________________ Assinatura_______________________
Profa. Dra Instituio_______________________
Julgamento___________________ Assinatura_______________________
Prof. Dr Instituio_______________________
Julgamento___________________ Assinatura_______________________
-
4
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-
5
Dedico este trabalho
Ao meu marido Antnio Carlos e filhos Daniel e Amanda, pelo
apoio e amor incondicional.
Aos meus pais, David Fortes e Fajga Szajndla Fortes, pelo
exemplo vivo de f, persistncia e otimismo.
-
6
Agradeo
Deus por ter permitido que eu conclusse mais este desafio.
minha querida orientadora, Prof. Dra. Maria Jlia Paes da Silva, que me
possibilitou adentrar neste mundo infinito de possibilidades, onde a pesquisa e
a cincia encontram amor e a f.
Aos meus familiares pela compreenso e apoio.
Dra Carlins Rossi Sarno de Moraes, pela coragem em experimentar novas
possibilidades.
Dr. Flvio Sica pelo apoio.
Aos funcionrios do Centro de Sade Escola Geraldo de Paula Souza,
pela valiosa colaborao.
Lbia Maria Almeida, pela sua disposio em auxiliar-me.
Ao Dr. Celso F. Battello, pelas anlises das ris e pelo compromisso com o
desenvolvimento e a divulgao da Iridologia.
-
7
Ao Thiago Correa, pela dedicao no tratamento estatstico dos dados.
s minhas queridas amigas que contriburam para meu bem-estar durante este perodo de inmeras experincias e emoes.
Aos docentes e funcionrios da Escola de Enfermagem pela colaborao.
Aos membros do Grupo de Estudo em Prticas Alternativas e Complementares em Sade pela oportunidade de discusso e aprendizado.
Aos pacientes, sujeitos desta pesquisa, pelo interesse imediato em cooperar
com estudos em prol da sade.
Ana Beln Fernandez Cervilla, pela rica experincia que me proporcionou durante meu estgio na Escola de Enfermagem da Universidade de Barcelona
e aos novos amigos que por l encontrei.
Aos membros do Colgio Oficial de Barcelona e Comisso de Terapias Naturais pelo acolhimento.
E a todos que de alguma forma contriburam para a realizao deste trabalho.
Obrigada a todos!
-
8
SHE
She may be the face I can't forget,
A trace of pleasure or regret,
May be my treasure or
The price I have to pay.
She may be the song that summer sings,
May be the chill that autumn brings,
May be a hundred different things
Within the measure of a day.
She may be the beauty or the beast,
May be the famine or the feast,
May turn each day into a
Heaven or a hell.
She may be the mirror of my dream,
A smile reflected in a stream,
She may not be what she may seem
Inside her shell.
She who always seems so happy in a crowd,
Whose eyes can be so private and so proud, No one's allowed to see them
When they cry.
She may be the love that cannot hope to last,
May come to me from shadows of the past,
That I'll remember till the day I die.
She may be the reason I survive,
The why and wherefore I'm alive,
The one I'll care for through the
Rough and ready years.
Me, I'll take her laughter and her tears
And make them all my souvenirs
For where she goes I've got to be.
The meaning of my life is she, she, she--.
(She - Charles Aznavour / Herbert Kretzmer)
-
9
RESUMO Salles LF. Avaliao da prevalncia e da herdabilidade dos sinais iridolgicos que sugerem Diabetes Mellitus em indivduos com e sem a doena [tese]. So Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP; 2012.
Diabetes um problema de sade pblica. Mtodos que identifiquem
precocemente a predisposio para a doena devem ser investigados.
Iridologistas afirmam que o Sinal do Pncreas e a Cruz de Andras sugerem
predisposio para diabetes. Os objetivos deste trabalho foram verificar a
prevalncia destes sinais em indivduos com e sem a doena bem como sua
herdabilidade. A coleta de dados ocorreu entre fevereiro de 2010 e junho de
2011. Participaram 356 indivduos com idade superior a 30 anos. Indivduos
com diabetes apresentaram maior prevalncia dos sinais iridolgicos
estudados. Os testes t de Student apontam diferena estatisticamente
significativa na prevalncia desses sinais entre pacientes com e sem diabetes e
entre indivduos com e sem antecedentes familiares para a doena. O Chi
Quadrado demonstra que ter ambos os sinais aumenta a chance de
desenvolv-la. O coeficiente de correlao de Pearson aponta que os sinais
estudados tm correlao com antecedncia familiar para diabetes e com a
taxa de glicemia alterada. Conclumos que estes sinais sugerem predisposio
para Diabetes e que novos estudos so necessrios para avaliar a
herdabilidade.
Descritores: Diabetes Mellitus (preveno). Iridologia. Enfermagem. Terapias
Complementares. Medicina integrativa.
-
10
ABSTRACT Salles, LF. Evaluation of the prevalence and heritability of iridology signs that suggest Diabetes in individual with and without the disease [thesis]. So Paulo (SP): USP Nursing School; 2012.
The method to identify early the predisposition for Diabetes mellitus should be
investigated, since the disease is a public health problem. Scholars of iridology
claim that the Sign of Pancreas and the Cross of Andreas suggest
predisposition to diabetes. Our objectives were to determine the prevalence of
these signals in subjects with and without the disease and its heritability. Data
collection occurred between February 2010 and June 2011. Participants 356
individuals older than 30 years treated at the Health Center School. Individuals
with diabetes had a higher prevalence of signs studied iridology. The Student t
test showed statistically significant differences in the prevalence of these signs
between patients with and without diabetes and among individuals with and
without family history of the disease. The Chi Square demonstrates that having
both signals increase the chance of developing diabetes. The Pearson
correlation coefficient shows a correlation between the signals studied with a
family history of diabetes and the blood glucose alteration. We conclude that
these signs suggest a predisposition to diabetes and that further studies are
needed to assess the heritability.
Descriptors: Diabetes Mellitus (prevention). Iridology. Nursing. Complementary
Therapies. Integrative medicine.
-
11
LISTA DE GRFICOS
GRFICO 1. IMC nos 3 grupos investigados. So Paulo, 2011.................... 115
GRFICO 2. Classificao da atividade fsica nos 3 grupos investigados. So Paulo, 2011..................................................................................................... 116 GRFICO 3. Antecedncia familiar para diabetes no grupo 1. So Paulo, 2011................................................................................................................ 116 GRFICO 4. Condio da taxa de glicemia nos 3 grupos investigados. So Paulo, 2011..................................................................................................... 118
-
12
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1. Critrios para o diagnstico do DM e estgios pr-clnicos. So Paulo, 2011........................................................................................................ 79 QUADRO 2. Estimativa de crescimento de casos de DM em determinadas regies. So Paulo, 2011.................................................................................. 88 QUADRO 3. Tamanho amostral. So Paulo, 2011......................................... 102 QUADRO 4. Classificao do ndice de Massa Corprea (IMC) pela OMS... So Paulo, 2011...................................................................................................... 134
-
13
LISTA DE TABELAS TABELA 1. Comparao de idade, gnero, sexo, IMC e atividade fsica nos 3 grupos investigados. So Paulo, 2011............................................................ 113
TABELA 2. Faixa etria total dos indivduos entrevistados. So Paulo, 2011................................................................................................................. 114 TABELA 3. Comparao da presena de alterao na taxa de glicemia nos 3 grupos investigados. So Paulo, 2011............................................................ 117
TABELA 4. Comparao da presena do Sinal do Pncreas e da Cruz de Andras nos 3 grupos investigados. So Paulo, 2011.................................... 120 TABELA 5. Teste de t de Student para o Sinal do Pncreas em indivduos com e sem diabetes. So Paulo, 2011.................................................................... 121
TABELA 6. Teste de t de Student para a Cruz de Andras em indivduos com e sem diabetes. So Paulo, 2011....................................................................... 121 TABELA 7. Teste de t de Student para o Sinal do Pncreas em pacientes sem diabetes, com e sem AFDM. So Paulo, 2011................................................ 122 TABELA 8. Teste de t de Student para a Cruz de Andras em pacientes sem diabetes, com e sem AFDM. So Paulo, 2011................................................ 122 TABELA 9. Teste Chi Quadrado para os sinais iridolgicos e Diabetes. So Paulo, 2011...................................................................................................... 124 TABELA 10. Coeficiente de Correlao de Pearson entre Sinal do Pncreas e as demais variveis. So Paulo, 2011............................................................. 125 TABELA 11. Coeficiente de Correlao de Pearson entre a Cruz de Andras e as demais variveis. So Paulo, 2011............................................................. 127 TABELA 12. Coeficiente de Correlao de Pearson entre glicemia e Sinal do Pncreas. So Paulo, 2011............................................................................. 129 TABELA 13. Coeficiente de Correlao de Pearson entre glicemia e Cruz de Andras. So Paulo, 2011.............................................................................. 130
-
14
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AFDM - Antecedentes Familiares para Diabetes Mellitus
CAM - Complementary and Alternative Medicine
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
COFEN - Conselho Federal de Enfermagem
D - Direito
DM - Diabetes Mellitus
DM 1 - Diabetes Mellitus tipo 1
DM 2 - Diabetes Mellitus tipo 2
DCCT - Diabetes Control and Complication Trial Research Group
E - Esquerdo
FSP/USP - Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo
GOD - Enzima Glicose-Oxidase
IDF - International Diabetes Federation
IMC - ndice de Massa Corprea
MODY - Maturity Onset Diabetes of the Young
n - Amostra
NCCAM - National Center for Complementary and Alternative Medicine
OMS - Organizao Mundial da Sade
OPAS - Organizao Pan-Americana de Sade
PNCS - Prticas no-convencionais em Sade
PNPIC - Poltica Nacional de Prticas Integrativas e Complementares
SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes
SUS - Sistema nico de Sade
TAC - Terapias Alternativas e Complementares
TCC - Terapia Comportamental Cognitiva
TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TTG - Teste de Tolerncia Glicose
-
15
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-
16
SUMRIO
DEDICATRIA E AGRADECIMENTOS RESUMO ABSTRACT LISTA DE GRFICOS LISTA DE QUADROS LISTA DE TABELAS LISTA DE ABREVIATURAS SUMRIO 1. INTRODUO.......................................................................................... 19 2. OBJETIVOS.............................................................................................. 23 2.1 OBJETIVO GERAL................................................................................. 24 2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS.................................................................. 24 3. REFERENCIAL TERICO....................................................................... 25 3.1.TERAPIAS ALTERNATIVAS E COMPLEMENTARES.......................... 26 3.1.1 Contextualizao das TACs................................................................ 29 3.1.2 Legislaes reguladoras das TACs..................................................... 33 3.1.2.1 Legislao de Enfermagem........................................................ 34 3.1.2.2 Legislao Municipal e Nacional................................................ 35 3.1.2.3 Organizao Mundial de Sade................................................. 35 3.1.3 As Terapias Alternativas e Complementares e a Enfermagem........... 36 3.1.3.1 TAC e as teorias de Enfermagem.............................................. 36 3.1.3.2 Assistncia de Enfermagem em TAC......................................... 39 3.1.3.3 Pesquisa de Enfermagem nas TACs no Brasil........................... 41 3.1.4 Importncia das TACs no cenrio mundial.......................................... 42 3.1.5 TAC no mundo..................................................................................... 44 3.1.6 TAC e Medicina Integrativa................................................................. 50 3.2 IRIDOLOGIA E IRISDIAGNOSE............................................................ 51 3.2.1 Principais escolas da Iridologia........................................................... 54 3.2.2 Pesquisas em Iridologia....................................................................... 59 3.2.3 Iridologia e Diabetes Mellitus............................................................... 62 3.2.4 Iridologia e Enfermagem...................................................................... 67
-
17
3.3 DIABETES MELITUS............................................................................. 68 3.3.1 Conceito e epidemiologia.................................................................... 69 3.3.2 Classificao e etiologia...................................................................... 71 3.3.3 Gentica e DM 2.................................................................................. 72 3.3.4 Sinais e sintomas................................................................................. 76 3.3.5 Diagnstico do DM.............................................................................. 77 3.3.6 Complicaes...................................................................................... 79 3.3.7 Tratamento e preveno..................................................................... 82 3.3.8 Diabetes, um problema de sade pblica........................................... 87 4. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO................................................................. 93 5. HIPTESES............................................................................................. 96 6. CASUSTICA E MTODOS...................................................................... 98 6.1 TIPO DE ESTUDO................................................................................. 99 6.2 CAMPO DE ESTUDO............................................................................ 99 6.3 AMOSTRA............................................................................................ 100 6.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS..................................... 104 6.5 TRATAMENTO DOS DADOS.............................................................. 109 7. RESULTADOS....................................................................................... 111 7.1 CARACTERIZAO DA AMOSTRA.................................................... 112 7.2 ANLISES ESTATSTICAS.................................................................. 120 8. DISCUSSO........................................................................................... 132 9. CONCLUSES....................................................................................... 142 10. CONSIDERAES FINAIS.................................................................. 145 11. LIMITAES DO ESTUDO.................................................................. 148 REFERNCIAS.......................................................................................... 150
-
18
APNDICES............................................................................................... 167 Apndice 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido........................ 168 Apndice 2. Ficha clnica............................................................................ 169 ANEXOS..................................................................................................... 170 Anexo 1. Resoluo COFEN 197 /1997..................................................... 171 Anexo 2. Lei n 13.717............................................................................... 172 Anexo 3. Lei n 5.471................................................................................. 173 Anexo 4. Portaria n 971............................................................................. 174 Anexo 5. Mapa condensado da Iridologia.................................................. 175 Anexo 6. Cruz de Andras.......................................................................... 176 Anexo 7. Disposio concntrica da ris..................................................... 177 Anexo 8. Aprovao no Exame de Qualificao........................................ 178 Anexo 9. Autorizao do Comit de tica em Pesquisa............................ 179 Anexo 10. Declarao de concordncia do Centro de Sade................... 180 Anexo 11. Rotina de anlise da glicemia.................................................... 181
-
19
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-
20
1. INTRODUO
A viso holstica do mundo vem ganhando considervel espao em todos
os setores dos saberes humanos, assim como as terapias complementares,
que derivam deste novo paradigma.
A Enfermagem como cincia de vanguarda no poderia deixar de abraar
estes novos ideais. Surge ento, a Enfermagem Holstica. Ou melhor, ressurge,
pois em sua essncia, a Enfermagem sempre se baseou no holismo para cuidar
dos seres humanos.
Minha rea de interesse a promoo da sade e preveno das
doenas. As ferramentas escolhidas foram as Terapias Alternativas e
Complementares (TAC). Aps a graduao em Enfermagem participei de
diversos cursos que abordaram algumas dessas terapias, como quiropatia, do-
in, reflexologia, cromoterapia, aromaterapia, auriculoterapia, toque teraputico,
reiki e tcnica metamrfica. Em 2003, especializei-me em Iridologia e
Irisdiagnose, curso oferecido pela Faculdade de Cincias em Sade de So
Paulo, em parceria com o Instituto Brasileiro de Estudos Homeopticos
(IBEHE). Em 2010, conclu o curso de Especializao em Terapia Floral:
interveno vibracional em sade, pela Escola de Enfermagem da USP.
Utilizo estas tcnicas como complemento no cuidar em Enfermagem. Nos
ltimos anos, venho dedicando-me s pesquisas com estas prticas e
divulgao das TAC por meio de aulas na graduao de Enfermagem,
palestras, participao em congressos e publicaes de artigos cientficos,
captulo de livro e livros.
-
21
Este trabalho utiliza a Irisdiagnose, uma das tcnicas complementares de
cuidado em sade, para que, aliado aos conhecimentos e cuidados de
Enfermagem, possamos promover a manuteno da sade por meio da
preveno e do diagnstico precoce do Diabetes Mellitus.
Ele continuao da dissertao de mestrado que teve como objetivo
verificar a prevalncia de sinais iridolgicos, como o sinal do pncreas e Cruz
de Andras, em indivduos com Diabetes Mellitus (sinais que, segundos os
iridologistas, indicam predisposio para a doena), bem como, a associao
destes sinais com os trs fatores de risco reconhecidos mundialmente para a
doena: obesidade, sedentarismo e hereditariedade. No perodo de 05 de abril
a 03 de Junho 2006, participaram da pesquisa 97 indivduos com idade superior
a 30 anos e portadores de Diabetes mellitus, atendidos no Centro de Sade-
Escola Geraldo de Paula Souza, na cidade de So Paulo. Aps anlise de
suas ris, verificou-se que a prevalncia ajustada do sinal do pncreas e a da
Cruz de Andras foram, respectivamente, de 98% e 89%. Houve associaes
significativas (p
-
22
Assim, no comeo de 2007 escolhemos uma amostra composta por
idosos para fazer a pesquisa. Os sinais iridolgicos revelam a predisposio
para determinada doena e a pesquisa em indivduos mais jovens poderia
mostrar estes sinais em indivduos que ainda no a desenvolveram. Sendo
assim, a escolha de uma amostra de idosos nos permitia sanar, em parte, a
dificuldade de realizar pesquisas em iridologia com um grupo controle. O
estudo foi realizado no mesmo Centro de Sade-Escola, o Geraldo de Paula
Souza , nos dias 25 e 27 de Abril de 2007, com 30 pessoas. Entre os
indivduos com diabetes, 100% apresentaram os sinais; no grupo controle,
53,3% apresentou os sinais e 46,7% no. Dentre os indivduos que no tinham
a doena, mas tinham os sinais, a maioria relatou ter antecedente familiar, ou
seja, eram predispostos ao Diabetes Mellitus. Testes estatsticos apontaram
diferena significativa (p
-
23
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-
24
2. OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GERAL
Comparar a prevalncia dos sinais iridolgicos estudados, o Sinal do
Pncreas e a Cruz de Andras, em indivduos com e sem Diabetes
Mellitus.
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Caracterizar a amostra investigada em relao s variveis de interesse -
sexo, idade, IMC, atividade fsica, antecedente familiar para a doena,
glicemia de jejum, presena do diabetes e dos sinais iridolgicos.
Verificar associao entre as variveis e os sinais iridolgicos estudados
nos trs grupos: G1 com diabticos, G2 sem DM e com antecedentes
familiares para a doena e G3 sem DM e sem antecedentes familiares
para a doena.
Avaliar a influncia desses sinais iridolgicos no desenvolvimento da
doena.
Comparar a taxa da glicemia nos trs grupos e verificar a correlao com
os sinais iridolgicos estudados.
Avaliar a herdabilidade do Sinal do Pncreas e Cruz de Andras.
-
25
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-
26
3. REFERENCIAL TERICO 3.1 TERAPIAS ALTERNATIVAS E COMPLEMENTARES
Sob a classificao de Terapias Alternativas e Complementares (TAC)
esto diversas tcnicas com finalidades de promoo sade, preveno e
tratamento de doenas, que embora reconhecidas pelo uso popular desde a
antiguidade, ainda no fazem parte da maioria dos programas oficiais da
sade, principalmente nos pases ocidentais.
Nos Estados Unidos, o National Center for Complementary and
Alternative Medicine (NCCAM) define as Complementary and Alternative
Medicine (CAM) como aqueles tratamentos ou prticas de ateno sade
que no so amplamente ensinados nas escolas mdicas, no so geralmente
utilizados em hospitais e no so usualmente reembolsados pelas empresas de
seguro mdico(2).
Faz parte das TAC uma diversidade de prticas de cuidado com a sade
que inclui acupuntura, antroposofia, aromaterapia, auriculoterapia, fitoterapia,
hidroterapia, iridologia, massagens teraputicas, meditao, musicoterapia,
quiropatia, reiki, reflexologia, relaxamento, terapia floral, toque teraputico,
entre outras. No Brasil, a homeopatia e a acupuntura foram reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina em 1980 e 1995, respectivamente, e fazem parte
das especialidades mdicas oferecidas em diversas instituies, sendo
reembolsadas pelas seguradoras de sade(3).
-
27
Estas terapias compreendem muitas disciplinas diferentes e um largo
espectro de prticas e filosofias que diferem dos tratamentos convencionais.
Enquanto os tratamentos alopticos objetivam o diagnstico, tratamento e a
cura dos sintomas, as TAC visam no somente o alvio dos sintomas, mas a
restaurao do bem-estar e equilbrio dinmico, ajudando no processo de
autocura, dentro de uma viso holstica da sade.
Ao longo dos tempos, estas terapias foram denominadas de diferentes
formas: terapias alternativas, naturais, no-ortodoxas, holsticas,
integrativas e no-convencionais. Nas dcadas passadas, foram conhecidas
por terapias alternativas, termo que acabou substitudo por terapias
complementares, uma vez que o primeiro exclui outras possibilidades e o
segundo, agrega. Assim, a denominao terapias complementares parece ser
mais adequada e pressupe que estas prticas devam atuar em conjunto com
outras formas de tratamentos, proporcionando ao paciente uma assistncia
mais completa(4). No Servio de Clnica Geral do Hospital das Clnicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de So Paulo, a denominao utilizada
prticas no-convencionais em sade (PNCS) (4). E na Universidade Federal
do Estado de So Paulo algumas dessas terapias tm lugar no Departamento
de Medicina Integrativa.
Em muitos pases, como EUA e Canad, mdicos adeptos utilizam a
nomenclatura Medicina Alternativa Complementar (CAM). As enfermeiras
destes pases preferem usar o nome Terapias Alternativas e Complementares
(TAC), pois entendem que o uso delas feito por diversos profissionais,
-
28
evitando assim, a sua associao unicamente aos profissionais da rea
mdica(2,5) .
Neste estudo, tambm preferimos usar a denominao Terapias
Alternativas e Complementares (TAC), pois alm destas prticas no
pertencerem de modo exclusivo a nenhuma categoria profissional, algumas
podem ser utilizadas sozinhas, enquanto outras devem ser aliadas a demais
formas de tratamento.
As TAC tm em comum algumas caractersticas, a saber(6-7):
- A nfase na preveno um dos principais pilares. Muitas destas prticas
mantm e fortalecem a sade, equilibrando a energia e garantindo a
homeostase.
- O tratamento o mais natural possvel. Os produtos vm da natureza, como
por exemplo, a gua na hidroterapia, as plantas na fitoterapia, as flores na
terapia floral, o espectro solar e as cores na cromoterapia, a energia universal
no toque teraputico e no Reiki. Em algumas terapias, como massagem,
quiropatia, reflexologia, shiatsu e toque teraputico, os nicos instrumentos do
terapeuta so suas mos, a sensibilidade e o tato.
- A abordagem holstica (holos - todo), onde a totalidade representa mais do
que a soma de suas partes. O cliente analisado no pelo sintoma ou rgo
que est afetado, e sim, como um todo - fsico, mental, emocional e espiritual.
a viso multidimensional do ser humano, percebido e cuidado de forma
integral e no dividido em sistemas.
-
29
- Nas TAC, a atitude mental, o padro do pensamento e as emoes tm lugar
de destaque no processo sade-doena. Nas terapias complementares mais
antigas, como a Medicina Tradicional Chinesa e a Ayurveda, esta relao
mente - corpo j era conhecida. Cada vez mais a medicina ocidental d
importncia s emoes, criando-se diferentes saberes como a psicossomtica,
a imunoneuroendocrinologia e a terapia comportamental cognitiva.
- Muitas TAC usam um rgo como holograma. O princpio do holograma
que cada parte pode conter a essncia do todo, ou seja, holograma a parte
que representa o todo. Assim, no apenas as partes esto no todo, como
tambm o todo est contido nas partes. Como exemplos de hologramas nas
prticas complementares, podemos citar a ris na iridologia, o p e mo na
reflexologia, a coluna vertebral na quiropatia e a orelha na auriculoterapia.
Neste princpio, o microcosmo est contido no macrocosmo e este, naquele.
As prticas complementares, na sua maioria, como j referido, buscam o
re-equilbrio global e no somente o tratamento sintomtico. Desta forma,
acabam por exigir um envolvimento maior do indivduo em seu prprio
tratamento, alm da maior disponibilidade de tempo para cuidar de si mesmo.
Algumas vezes, os resultados no ocorrem to imediatamente, pois so
processos de cura.
3.1.1 Contextualizao das TAC
Embora a maioria das prticas utilizadas em terapias complementares
tenha surgido na antiguidade, elas foram re-descobertas pelo mundo ocidental
-
30
somente nas ltimas dcadas, graas ao movimento de mudana de paradigma
de compreenso de mundo e de realidade. a transio da concepo
moderna de mundo racionalista, mecanicista e reducionista, para a concepo
ps-moderna com viso holstica, de interdisciplinaridades e probabilidades(6-7).
Segundo Kuhn, Paradigmas so realizaes cientficas universalmente
reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e solues
modelares para uma comunidade de praticantes de uma cincia(8). Envolvem
crenas, valores, tcnicas e procedimentos partilhados no consenso de uma
comunidade determinada(6).
A construo de novos paradigmas na sociedade ocidental se deve
revoluo acontecida na dcada de 60, que provocou mudanas e
redimensionamento de valores, idias, objetivos do ser humano. Segundo
Gerber(6), os principais focos de ataque da contracultura foram o conhecimento
tecnolgico e cientfico das sociedades. Para Crema(7), a crise planetria e
multidimensional, originada de uma cultura racional e tecnolgica que tornou a
vida fragmentada e encerrada em compartimentos estanques.
Uma das concluses da contracultura que a medicina tem sido menos
importante no aumento da expectativa de vida do que o crescimento
econmico, e que os mecanismos reais para a melhoria da sade da populao
esto ligados economia, instruo, qualidade do ambiente(9). As doenas
crnico-degenerativas crescem em grande velocidade e o modelo biomdico
no est preparado para atender esta demanda, tanto nas suas bases
conceituais, quanto no preparo dos profissionais para este atendimento. Neste
-
31
contexto a sociedade repensa as prticas alternativas e complementares em
sade(10).
Neste novo movimento, houve posicionamentos radicais que tentaram
negar a fase anterior e excluir tudo o que lembrasse o passado. Foi neste
cenrio que o nome terapia alternativa, com o seu carter excludente, tomou
fora.
A Medicina Complementar o meio termo entre o paradigma da cincia
Biomdico e o paradigma alternativo. Ela visa ampliar a perspectiva biolgica,
buscando padres, causas e tratamento dos sintomas no estilo de vida dos
pacientes e nas suas relaes sociais e ambientais, devolvendo ao paciente
sua autonomia no processo de produo e cura de sua enfermidade(6).
A contribuio da viso holstica a integrao do mtodo de anlise de
Descartes com a sntese da ps-modernidade, que focaliza a totalidade e a
interconexo.
A fsica clssica, representada principalmente por Isaac Newton, por
muito tempo explicou os eventos da sociedade moderna. Na era ps-moderna,
a inrcia, a passividade e a imutabilidade no fazem mais sentido(7). As
descobertas da fsica moderna (quntica) estabelecem um conceito de mundo
unificado e inseparvel e introduzem termos como complementaridade,
interconexes e correlaes, probabilidades, causalidades e incertezas que
comeam influenciar todas as reas do conhecimento. Alm de Albert Einstein,
os fsicos que representam esta nova etapa so Max Planck, Werner
Heisemberg e Niels Bohr(6-7,9).
-
32
Os conhecimentos na rea da sade aloptica derivam da viso
biomdica do modelo cartesiano e da fsica newtoniana, e no conseguem
explicar as caractersticas sutis da vida, como a energia, e conseqentemente,
vrias das terapias complementares(10).
A maioria das terapias complementares pode ser explicada pela fsica
quntica, mais particularmente pela compreenso vibracional / energtica da
natureza(10).
A nfase na doena e no na sade um dos principais aspectos que
diferencia a prtica aloptica da holstica e vibracional. As manifestaes de
doena no corpo so evidentes, porm os aspectos mais sutis da sade
(energia) no podem ser mensurados com a mesma facilidade. A medicina
convencional aloptica lida diretamente com os componentes qumicos e
estruturais do corpo. A medicina vibracional lida com as substncias e energias
que intervm na qumica e na estrutura do corpo fsico(6,7,10).
Segundo Gerber(6), quando o organismo est enfraquecido ou
desequilibrado, oscila numa frequncia diferente e menos harmoniosa. Essa
frequncia anormal reflete-se no estado geral do equilbrio energtico celular.
Se a pessoa no for capaz de reequilibrar-se ou elevar seu padro energtico,
para uma frequncia normal, faz-se necessrio a entrada de uma frequncia
especfica que promova a modificao. Algumas terapias complementares
interagem com esta energia sutil, como o caso da acupuntura, homeopatia,
florais, cromoterapia, toque teraputico, entre outras.
-
33
Do ponto de vista einsteiniano, o ser humano um organismo
multidimensional constitudo de sistemas fsicos / celulares em interao
dinmica com complexos campos energticos reguladores. Em lugar de
procurar curar as doenas manipulando clulas e os rgos afetados por meio
do uso de drogas e da realizao de cirurgias, as terapias alternativas e
complementares tentam atingir os mesmos objetivos manipulando os campos
energticos sutis e estimulando a vida no corpo(7).
Sabe-se que o enfoque disciplinar da cincia moderna levou a uma
esfacelao do conhecimento e uma viso unilateral e desagregada em todos
os mbitos da vida. A perspectiva do holos da cincia ps-moderna tenta
resgatar a unicidade dos seres humanos, bem como a interligao de todos os
aspectos da vida da nossa sociedade complexa(7).
A crise no sistema de sade, ainda pautado na cincia newtoniana, tem
como base a viso estritamente curativa e o excesso de fragmentao que
causa, muitas vezes, redundncia no atendimento e erros fatais por falta de
comunicao entre os diversos especialistas que atendem a uma mesma
pessoa. Outro problema o uso abusivo de exames e medicamentos caros,
que por serem prescritos indiscriminadamente, no conseguem ser usados para
os casos em que existe real necessidade.
3.1.2 Legislaes reguladoras das TACs
Dentre as profisses, a Enfermagem foi pioneira no reconhecimento das
terapias complementares.Enquanto muitos Conselhos punem seus profissionais
-
34
pela utilizao das prticas naturais, o Conselho Federal de Enfermagem
reconhece e estimula os enfermeiros interessados na rea a estudarem os
assuntos com a profundidade necessria para o conhecimento e
desenvolvimento de habilidades a fim de proporcionar uma assistncia integral
ao paciente.
3.1.2.1 Legislao de Enfermagem
Resoluo COFEN 197/1997 (19/01/1997)(11) - Estabelece e reconhece
as Terapias Alternativas como especialidade e/ou qualificao do
profissional de Enfermagem (ANEXO 1).
- Art.1: Estabelece e reconhece as Terapias Alternativas como
especialidade e/ou qualificao do profissional de Enfermagem.
- Art.2: Para receber a titulao prevista no artigo anterior, o profissional de
Enfermagem dever ter concludo e ter sido aprovado em curso reconhecido
por instituio de ensino ou entidade congnere, com carga horria mnima
de 360 horas.
Resoluo COFEN - 283/2003. Fixa regras sobre a prtica da
Acupuntura pelo Enfermeiro e d outras providncias(12).
Resoluo COFEN - 290/2004. Fixa as Especialidades de Enfermagem.
Uma das indicaes na rea das Terapias Naturais, Tradicionais e
Complementares, como de competncia do Enfermeiro(12).
-
35
Resoluo COFEN - 301/2005. Atualiza os valores mnimos da Tabela
de Honorrios de Servios de Enfermagem( 12)
3.1.2.2 Legislao Municipal (SP) e Nacional
Lei N 13.717, de 8 de Janeiro de 2004 - Dispe sobre a implantao das
Terapias Naturais na Secretaria Municipal de Sade, e d outras
providncias(13) (ANEXO 2).
Lei N 5471, de 10 Junho de 2009. Estabelece no mbito do Estado do
Rio de Janeiro a criao do Programa de Terapia Natural(14) (ANEXO 3).
Portaria N 971 de 3 maio de 2006 - Aprova a Poltica Nacional de
Prticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema nico de
Sade(15) (ANEXO 4).
3.1.2.3 Organizao Mundial da Sade - OMS
A OMS reconhece a importncia e eficcia das Terapias Alternativas /
Complementares. Uma das estratgias que a OMS cita no seu documento de
2002, o desenvolvimento de estudos cientficos regionais e nacionais para o
melhor conhecimento da segurana, eficcia e qualidade dos mtodos
complementares(16).
-
36
3.1.3 As terapias Alternativas e Complementares e a Enfermagem 3.1.3.1 TAC e Teorias de Enfermagem
A Enfermagem, como cincia do cuidar, resgata o holismo inerente sua
histria e filosofia. As razes da Enfermagem Holstica emergiram das
colocaes visionrias de Florence Nightingale em seu livro Notas sobre a
Enfermagem, em 1860, quando descreveu ser o trabalho da Enfermagem
direcionado melhoria das condies de sade dos pacientes, enfatizando o
tocar e a delicadeza como propriedades importantes no processo de cura,
aliados melhoria das condies ambientais, tais como prover ar fresco, luz e
calor do sol, paz, quietude e limpeza(17).
Para Fuerst, Wolff e Weitzel(18), a Enfermagem oferece servios de sade
que so orientados no sentido de providenciar cuidados que promovem e
mantm a sade: prevenir, detectar e tratar as doenas e incapacidades,
restaurar o nvel mais alto possvel de sade. Segundo os mesmos autores, o
enfermeiro busca conhecimentos em muitas disciplinas; tira delas as
informaes de que precisa para o seu trabalho de cuidar do paciente.
As primeiras teorias de Enfermagem tm aspectos holsticos, como por
exemplo, a Cincia do ser Unitrio de Martha Rogers, em 1970; a Teoria das
Necessidades Humanas Bsicas de Wanda de Aguiar Horta, em 1979, e a
Teoria da Cincia Humana e do Cuidar Humano de Jean Watson, em 1979.
Rogers desenvolveu uma estrutura conceitual para a Enfermagem,
baseada na teoria geral dos sistemas e em cinco pressupostos. Um deles
-
37
afirma que o ser humano um todo unificado que possui uma integridade
individual e manifesta caractersticas que so mais do que a soma das partes e
diferentes delas. Para Rogers, a Enfermagem uma cincia humanstica e
humanitria, voltada para a descrio e explicao do ser humano, num todo
sinrgico. O cuidar deve ser integral e a preveno uma das diversas faces
desse processo. Rogers uma das primeiras teoristas de Enfermagem que
mostra o ser humano como um campo energtico, como um sistema aberto em
troca ininterrupta de energia com o ambiente, ao qual est integrado,
configurando um campo energtico suficientemente forte para se estender ao
infinito. Os pressupostos bsicos de ressonncia e helicidade, que sustentam a
sua teoria, tambm reafirmam o ser humano como fonte de energia em
constante troca energtica com outras pessoas e com o meio ambiente (19).
Horta fundamenta-se na Psicologia Humana e na Teoria da Motivao
Humana de Maslow. Os pressupostos da sua teoria so essencialmente
holsticos, como podemos ver a seguir(20):
- A Enfermagem respeita a unicidade, a autenticidade e a individualidade do
indivduo.
- A Enfermagem prestada ao ser Humano e no doena e ao desequilbrio.
- Todo cuidado de Enfermagem preventivo, curativo e de reabilitao.
- A Enfermagem reconhece o ser humano como elemento participante ativo do
seu autocuidado.
A Teoria da Cincia Humana e do Cuidar Humano, de Jean Watson, tem
como um dos seus princpios a satisfao das necessidades humanas e
-
38
recomenda que o enfermeiro tenha em mente a estrutura holstico-dinmica
para visualizar as necessidades humanas, a fim de que a assistncia, como
fator de cuidado, leve a um desenvolvimento mais completo dessas
necessidades(21).
Waldow(22), fazendo uma retrospectiva sobre as modificaes que tm
ocorrido na Enfermagem, assinala que definitivamente estamos na era da
humanizao da assistncia, tendncia que se estende sobre toda a rea da
sade. E, portanto, o cuidar visualizado sob uma nova perspectiva, na qual o
ser humano valorizado em sua totalidade. Analisando essas mudanas
paradigmticas na equipe de Enfermagem, Waldow reflete que as cuidadoras
(referindo-se aos enfermeiros) pouca autonomia conquistaram at hoje no que
se refere ao cuidado, por sucumbirem ao poder dominante e s presses
impostas pelo sistema. Mas talvez hoje, com a crescente aceitao de terapias
no-convencionais e apelo espiritualidade, as cuidadoras se sintam com mais
coragem para deixar extravasar a sensibilidade oprimida, o que facilitar a
implantao de uma prtica de cuidado integral. E isso j est acontecendo.
Dobbro(23) afirma que a dificuldade na utilizao das terapias
complementares pelos enfermeiros est na formao profissional, como relata
em sua dissertao: essas terapias envolvem muito tempo de estudos
preliminares antes de sua utilizao e requerem um conhecimento especfico
para os quais no fomos preparados. Muitas enfermeiras no tiveram nenhum
contato com esse tema durante a graduao, calcada ainda no modelo
biomdico da assistncia. Alm do mais, continua a autora, como as
-
39
experincias em nosso meio so recentes nesta rea, no dispomos de grande
volume de material publicado.
Uma pesquisa com 117 enfermeiros e mdicos brasileiros mostrou que
88,7% desconheciam as diretrizes nacionais para a rea, embora 81,4%
concordassem com sua incluso no Sistema nico de Sade. A maioria
(59,9%) mostrou interesse em capacitaes e todos concordaram que estas
prticas deveriam ser abordadas na graduao(24).
3.1.3.2 Assistncia de Enfermagem em TACs
Reafirmamos nossa crena de que a assistncia de Enfermagem deve
ser integral e inclui tanto o cuidado convencional quanto as prticas
complementares, levando ao cliente o que h de melhor para um atendimento
completo e personalizado(25).
As prticas complementares podem ser usadas em conjunto com a
abordagem convencional ou de maneira isolada.
Na consulta de Enfermagem, com a perspectiva de uso de terapias
complementares, o processo deve ser utilizado no seu todo: coleta de dados
(entrevista e exame fsico), levantamento de problemas, diagnstico, aes a
serem implementadas e acompanhamento da evoluo com avaliao da
eficcia das prticas utilizadas(10).
A assistncia de Enfermagem deve ser integral e inclui tanto o cuidado
convencional quanto as terapias complementares, pois cada mtodo no
-
40
convencional tambm apresenta vantagens e desvantagens. A verdadeira
abordagem holstica ou integral est em saber escolher ou combinar essas
diferentes prticas a fim de se obter o mximo de benefcio para o cliente(10).
Um exemplo de atendimento conjunto ocorre quando um paciente
submetido quimioterapia sofre efeitos colaterais como nuseas, vmitos,
fraqueza e diminuio da hemoglobina. Neste caso, ser extremamente
benfico associar terapias complementares como toque teraputico, reiki,
terapia floral, entre outras(10).
A classificao atual da Associao Norte-Americana de Diagnstico
(NANDA) reconhece as terapias vibracionais e se esfora para inserir a viso
holstica na terminologia dos diagnsticos de Enfermagem. O Diagnstico de
Enfermagem Distrbio no campo energtico definido como sendo um estado
no qual a interrupo do fluxo de energia em torno da pessoa resulta em uma
desarmonia do corpo, mente e /ou esprito, e permite a interveno com
diversas prticas complementares(25-26).
Entre todos os profissionais de sade, a equipe de enfermagem a que
passa maior parte do tempo com o cliente, e por isso tem condies de
acompanhar de perto e avaliar os efeitos fsicos e emocionais destas
prticas(25).
Mais pesquisas agregando saberes e mtodos so necessrias para
fundamentar, ampliar e incorporar as tcnicas como possibilidades teraputicas
complementares, favorecendo tanto o restabelecimento do equilbrio energtico,
quanto uma recuperao adequada.
-
41
3.1.3.3 Pesquisas de Enfermagem nas TAC no Brasil As Faculdades de Enfermagem comeam a perceber a importncia de ter
nos seus currculos as terapias complementares, tanto no nvel de graduao
como de ps-graduao. A Escola de Enfermagem da USP disponibiliza uma
disciplina optativa no tema e j ofereceu cursos de Especializao em Terapias
Florais em 1998, 2000 e 2010, sendo que do primeiro curso resultou o livro
Florais: uma alternativa saudvel, com a publicao de trabalhos de pesquisa
realizados no curso (27).
A Escola de Enfermagem da Universidade de So Paulo abriga reunies
mensais do Grupo de Estudos de Prticas Alternativas / Complementares em
Sade cadastrado no CNPq. Alm disso, na referida instituio, o nmero de
produo cientfica nesta rea vem aumentando. Nas monografias,
dissertaes e teses, assuntos como terapia floral, acupuntura, musicoterapia,
iridologia, antroposofia, aromaterapia e toque teraputico vem sendo discutidos.
Em uma reviso de literatura sobre a produo cientfica em terapias
complementares escritas por enfermeiros brasileiros, notou-se maior
incremento das publicaes de artigos a partir de 1998, o que provavelmente
tem relao com a Resoluo COFEN 197/ 97. Outros fatores que
contriburam para esse aumento foram o incio de Cursos de Especializao
nesta rea e a incluso desta matria no currculo de graduao. As prticas
mais citadas em pesquisas da Enfermagem so toque teraputico, fitoterapia,
terapia floral e musicoterapia. O fato destas quatro prticas j ter gerado teses
-
42
e dissertaes est contribuindo para aumentar o nmero de artigos a respeito
no Brasil. Em outros pases, vrias prticas j so estudadas h mais tempo. O
toque teraputico, por exemplo, bastante utilizado pelas enfermeiras norte-
americanas e canadenses(28).
3.1.4 Importncia das TAC no cenrio atual
No cenrio mundial, o capitalismo, a globalizao, as sucessivas crises
na economia e na sade, a desenfreada busca pela tecnologia, consumo e
facilidades revelaram e reforaram a marginalizao de boa parte da populao
mundial. Os altos custos dos novos medicamentos, tecnologias e instituies de
ponta reforam o grave problema da falta de equidade nas condies de sade
da populao, onde, via de regra, os mais abastados tm uma melhor
assistncia sade. As terapias alternativas e complementares, alm de
produzirem poucos efeitos colaterais, so geralmente acessveis financeira-
mente(28).
Esta nova crise econmica refora a necessidade de novos modelos de
sade, mais slidos e que tenham uma base ampla para sustentar as
intempries dos movimentos econmicos e no fazer cada vez mais novas
vtimas da excluso.
O aumento da expectativa de vida, o declnio da fecundidade, a
diminuio da mortalidade por doenas infecto-contagiosas e pela criao de
novas tecnologias em sade, contriburam para o rpido envelhecimento da
populao do mundo todo. Estima-se que em 2050 teremos mais de dois
-
43
bilhes de idosos no mundo, sendo que dois teros deles estaro vivendo nos
pases em desenvolvimento. O Brasil passou de 7 milhes de idosos em 1980,
para 14,5 milhes em 2000. As projees apontam para cerca de 32 milhes
deles em 2025(29-30).
Vrios pases no esto preparados para esta nova realidade. O
envelhecimento populacional tem alto impacto sobre diversas dimenses do
desenvolvimento e do funcionamento das sociedades. No sculo XXI, a sade
dos idosos ser um dos elementos essenciais do desenvolvimento econmico e
social de todos os pases(31).
As doenas crnicas, como os problemas cardiovasculares, respiratrios,
neoplasias, diabetes, aumentam rapidamente. Nos pases em desenvolvimento,
que ainda lutam contra as doenas transmissveis, este aumento de doenas
crnicas no transmissveis causa inevitvel congestionamento nas instituies
e dficit oramentrio nos cofres pblicos(29-31).
O envelhecimento um processo que dura a vida toda, ou seja, os
padres de vida que promovem o envelhecimento saudvel devem ser
formados ao longo da vida.
Um dos desafios mundiais de sade encontrar novos e mais eficazes
modos de prevenir o aparecimento de doenas crnico-degenerativas e suas
incapacidades(29-31).
As terapias alternativas e complementares, com o seu olhar holstico,
podem ser uma ferramenta til para o enfrentamento deste desafio na medida
em que auxiliam na manuteno da homeostase ao longo da vida e, nas idades
-
44
mais avanadas, podem melhorar a sade, aumentar o bem- estar e a
capacidade funcional. Utilizadas de maneira sistemtica, elas auxiliam na
promoo da sade e preveno de doenas. Este novo modelo (no ocidente)
de pensar sade, no mais curativo e assistencial, evita sofrimentos e gastos
desnecessrios(10).
O sofrimento causado por uma doena est longe de afetar somente o
doente. Os reflexos repercutem na famlia e na sociedade. Os gastos vo alm
da soma de consultas, exames, medicamentos e internao. A conta do que o
indivduo deixa de produzir ou at de uma aposentadoria precoce, debitada
na sociedade e gera esgotamento dos recursos do Estado e dificuldade na
conteno de despesas, alm de sobrecarregar a sade pblica, que se torna
incapaz de atender as necessidades da populao(10).
O desenvolvimento de uma viso holstica no processo sade-doena
permite que o paciente aprenda a implementar o controle sobre a sua sade. A
participao ativa do sujeito contribui para a preveno de doenas(10).
3.1.5 TAC no Mundo
O monoplio sobre cuidados de sade que tem beneficiado a profisso
de medicina na sociedade ocidental est sendo desafiado por um complexo
conjunto de processos globais. So amplas as mudanas culturais: o
crescimento do consumismo, transformaes no padro da doena com
aumento nos custos dos cuidados de sade, maior acesso informao atravs
da Internet e novos movimentos sociais ligados sade, tais como as TAC(32).
-
45
O aumento de problemas crnicos de sade criou interesse em solues
alternativas para estas condies. Expectativas com a liberdade de escolha na
rea de sade exercem presso sobre o estado para que sejam ponderadas
mais polticas inclusivas no sistema formal de sade(32).
Em muitos pases como, por exemplo, no Canad, EUA, Gr-Bretanha,
Austrlia, vrias prticas dentre as TAC pretendem atingir o estatuto de uma
profisso oficial e reconhecida para adquirir um lugar nos sistemas oficiais de
cuidados de sade(32). Grande parte da populao destes pases j simptica
s terapias complementares.
Segundo revista britnica, os pacientes tm impulsionado a mudana
com a busca por formas heterodoxas no cuidar, a ponto da Medicina
Alternativa e Complementar (CAM) representar o segundo maior crescimento
da indstria na Europa(33).
Comeam surgir movimentos para integrar a medicina tradicional com
as TAC. De um lado esto os pacientes, que comeam a desejar que o seu
clnico geral associe as duas formas de tratamentos; do outro esto os
prprios profissionais de sade (inclusive mdicos) que incorporam algumas
destas terapias. Neste cenrio, muitos governos comeam a regulamentar
algumas prticas(32).
Em 2001 surgiu o primeiro curso oficial no CAM para graduao mdica
na Universidade de Glasgow (Inglaterra)(33). Na Alemanha, desde 2003, os
currculos mdicos tm uma carga horria destinada para as CAM. Esta
estratgia do governo permite que os mdicos conheam as terapias
-
46
alternativas e complementares e tenham melhor relacionamento com os
terapeutas das CAM. Eles tambm podem realizar pesquisas investigando
eficcia e segurana de diferentes prticas(34). Em Barcelona, um Mestrado em
Medicina Naturista e Enfermagem Naturista oferecido para Mdicos e
Enfermeiros. Este curso uma realizao de ambos os Colgios, o de
Enfermagem e de Medicina, com apoio da Universidade de Barcelona e da
Universidade Autnoma de Barcelonaa.
Uma reviso sistemtica da literatura sobre o ensino das CAM em
escolas mdicas teve finalidade de refletir sobre as evidncias publicadas.
Observaram-se diferentes formas de insero das CAM no ensino, atitudes
positivas dos estudantes de medicina frente a elas e desejo de aprend-las
como objetivo de tratar e orientar futuros pacientes(35).
Mas esta abertura ainda muito lenta. Na maioria dos pases, as TAC
ainda no so regulamentadas oficialmente, no so ensinadas de forma
sistemtica nas faculdades, no so oferecidas pelos convnios. Alm de
pagar por estes tratamentos, os pacientes tambm no so beneficiados pela
deduo fiscal(32,34-37).
Na China, assim como na Austrlia, enfermeiros que gostariam de
trabalhar com as TAC se preocupam por no terem formao adequada, nem
apoio das instituies polticas e tambm pelos tratamentos no serem
indenizados pelos seguros(36-37). Como na maioria dos pases, enfermeiras de
Barcelona apontam a falta de tempo e de disponibilidade das instituies em
a Informao vivenciada durante meu estgio na Escola de Enfermagem de Universidade de Barcelona.
-
47
reconhecer e valorizar as TAC como os principais fatores que dificultam o uso
das prticas(38).
Segundo Einsberg(39), os motivos que mais levam os pacientes a buscar
estas terapias so a procura da promoo da sade e a preveno das
doenas por meio de prticas benficas emocional e espiritualmente. Outros
consideram que a efetividade da medicina convencional indeterminada e/ou
comumente associada a efeitos colaterais e riscos. A aderncia s TAC
tambm costuma acontecer quando os recursos tradicionais para determinada
condio patolgica so esgotados.
Segundo a Comisso Europeia em 1998, estas prticas so utilizadas
para a preveno ou tratamento de doenas crnicas, musculoesquelticas e
problemas psicossomticos(33). Nos EUA, tambm foi evidenciado seu uso nas
condies crnicas de sade como artrite, osteoporose e dores nas costas,
alm de depresso(40). Um recente estudo italiano mostra que nos casos de
cefaleia tambm existe uma grande busca pelas TAC(41). Mdicos adeptos s
TAC defendem que a medicina holstica proporciona a influncia da
conscincia pessoal de maneira benfica sobre o curso, preveno e
tratamento da doena(42).
Todos esto de acordo que este movimento no tem volta, porm
preciso cautela, investimento em pesquisa e na formao de pessoal bem
treinado (33-35,42-44).
Nos ltimos 10 anos houve um grande aumento no exponencial de
financiamento da investigao das TAC nos Estados Unidos, Canad e Reino
-
48
Unido, fortalecendo um desenvolvimento consistente e coerente na capacidade
de investigao. No Reino Unido, por exemplo, fundaes privadas, hospitais
renomados e o Ministrio da Sade uniram-se em prol destas pesquisas. As
fundaes apoiaram financeiramente, hospitais abriram espao para os
estudos e o Ministrio estabeleceu a regulamentao formal do processo de
investigao, alm de custear um programa de bolsas em doutoramento e ps-
doutoramento nesta rea. Isto permitiu um significativo processo de
desenvolvimento acadmico destas terapias nas universidades britnica(44).
So constantes os embates entre profissionais em relao s pesquisas
em TAC. comum que as metodologias aceitas pela sociedade cientfica,
principalmente a ocidental, no sejam adequadas na avaliao das TAC.
Muitos autores defendem que ensaios randomizados controlados so
importantes na avaliao da eficcia das TAC, porm so limitantes para
checar o funcionamento da prtica e a percepo do paciente sobre as
terapias. J as pesquisas qualitativas, tidas como de menor valor por muitos
pesquisadores, podem ajudar na compreenso do significado da interveno
para o paciente, bem como suas crenas e expectativas em relao aos
resultados do tratamento, alm de colaborar na compreenso do contexto e do
processo de interveno e, consequentemente, melhorar a prestao de
cuidados de sade. Deste modo, aliar pesquisa qualitativa ao ensaio
randomizado controlado aumentaria a compreenso das TAC(43).
Com o aumento dos estudos na rea surge a necessidade de padronizar
definies e terminologias das TAC e classificaes as diferentes prticas.
-
49
Algumas propostas esto sendo usadas, mas ainda no h consenso sobre
elas(45-47). O National Center for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM) classificou as terapias disponveis organizando-as em cinco amplas
categorias: Sistemas de Cura; Conexo Corpo-Mente; Suplementos Dietticos
e Plantas Medicinais; Manipulao e Toque; Terapias Vibracionais. Este
modelo foi o indicado pela OMS (Organizao Mundial da Sade) para a
criao de centros de excelncia na investigao e estudo das TAC(47). Uma
abordagem diferente quanto classificao proposta pela Faculty of
Medicine - University of Manitoba, do Canad. Nela no existe a diviso entre
convencional ou no convencional; a classificao baseada nas intervenes
das terapias e as divide em quatro categorias, pensando a terapia do ponto de
vista da forma de aplicao: Corpo, Corpo/Mente, Corpo/Energia e Corpo/
Esprito(48).
Mediante o movimento atual da crescente popularidade das TAC entre o
grande pblico, grupos profissionais esto tentando adaptar-se nova realidade
para poder discutir e/ou indic-las para os pacientes, ou mesmo para aplic-las.
As enfermeiras de Ontrio seguem o College of Nurses of Ontario
Practice Guideline: Complementary & Therapies(48), um guia prtico para a
utilizao das TAC que visa evitar a criao de dilemas para a categoria, uma
vez que ainda no h pesquisas suficientes sobre estas prticas.
-
50
3.1.6. TAC e Medicina Integrativa
A filosofia da medicina integrativa ou integral no exatamente nova.
Tem sido abordada em diferentes pocas de acordo com o contexto e cultura
vigente, embora tenha se perdido de vista em alguns perodos da histria,
quando a medicina oscilava de um extremo para o outro(49).
Esta abordagem resultou do cenrio formado pelo descontentamento
com a medicina biomdica, a expanso das terapias alternativas e
complementares e o impasse causado por posies radicais de ambos os
lados. Por um lado, temos o excesso de fragmentao da medicina com as
inmeras especialidades, o aumento da expectativa de vida e das doenas
crnico-degenerativas, a desigualdade no acesso sade resultante de
tratamentos cada vez mais caros, alm do desgaste da relao mdico/
paciente. Por outro, o avano pela procura dos mtodos complementares, a
falta de regulamentao de ensino e exerccio profissional e poucas pesquisas
cientficas na rea (7,10,25,28-30,35).
O termo Medicina Integrativa (MI) foi criado no final da dcada de 1990
para descrever um novo modelo que retratasse a integrao dos diversos
modelos teraputicos e oferecesse um cuidado integral sade(50).
A Medicina Integrativa tenta unir a medicina convencional com a
complementar, utilizando todas as formas de terapias j consagradas
cientificamente para oferecer o que h de melhor para o paciente. Esta
modalidade, que j est bem difundida nos EUA, procura olhar o indivduo
-
51
como um todo, com compreenso dos aspectos fsicos, emocionais,
psicolgicos e espirituais no processo sade-doena.
A Medicina Integrativa est orientada para a restituio da sade e
ressalta a importncia da relao entre mdico e paciente como aspecto
central. Enfoca mtodos menos invasivos, menos txicos e menos custosos
alm de integrar tanto os tratamentos tradicionais quanto os complementares(49-
50).
No seria exatamente um sinnimo de Medicina Complementar, pois
teria uma concepo mais ampla, cujo princpio iria de encontro ao novo
paradigma holstico de sade: o de lidar com aspectos como sade e cura,
muito mais do que doena e tratamento(51). A palavra integrar significa
tornar (-se) inteiro, completar (-se)(52).
Muitas das prticas complementares advm de sistemas mdicos
prprios, utilizados pelos povos que lhes deram origem como tradicionais, como
a MTC. Portanto, so independentes da Medicina Aloptica. A ideia de integrar
surge como uma possibilidade de suprimir a relevncia de uma forma de
medicina sobre outra, o que de certa forma beneficia a todos, principalmente ao
paciente.
3.2. IRIDOLOGIA E IRISDIAGNOSE Iridologia significa o estudo da ris e Irisdiagnose a cincia que permite
conhecer, atravs da ris aspectos, fsicos, emocionais e mentais do
indivduo(53).
-
52
Esta cincia revela as desordens patolgicas e funcionais do corpo
humano por meio de linhas, pontos anormais e descoramentos da ris(54).
O termo correto quando usado em consultas nesta rea, Irisdiagnose,
que conhecer atravs da ris(53). Neste estudo, a palavra iridologia usada
para designar Irisdiagnose, j que se trata de um termo mais conhecido.
A ris um holograma, parte que representa o todo. Na ris tem-se a
representao do organismo, assim como na palma da mo, na planta do p e
no lbulo da orelha. Quanto mais irregularidades aparecerem no sedoso tecido
da ris, menor a vitalidade, menor a resistncia e mais longe se estar do bem
estar(53).
A anlise da ris pode nos revelar dois aspectos distintos do organismo.
Os sinais fixos mostram os rgos de choque, que reforam a predisposio
deles em adoecer. Os sinais sancionam como o organismo est naquele
determinado momento por meio da colorao e grau de evoluo de uma leso,
por exemplo.
O objetivo da irisdiagnose detectar precocemente os sinais que sugerem
determinadas condies patolgicas(53-55), assim como compreender
comportamentos e modos de relao dos indivduos(53,56-57).
A ris um microssistema completamente formado aos 6 anos de idade e
nela esto contidas as informaes sobre a parte fsica, emocional e mental de
seus donos, o que permite ao iridologista realizar uma abordagem profiltica e
teraputica atravs da pr-diagnose. Uma vez detectados sinais de
-
53
comprometimento, estes rgos devem ser investigados com exames
especficos para afastar a possibilidade de certas patologias(53-58).
A Iridologia no faz diagnstico, ela to somente aponta os rgos de
choque do organismo e, assim, a predisposio deles em adoecer. Em hiptese
alguma a iridologia substitui exames subsidirios, tais como os laboratoriais, de
imagens e outros. Muito pelo contrrio, d subsdios para que o mdico, como
bom detetive, elucide o caso(53).
O maior trunfo da Iridologia est na preveno das doenas, uma vez que
antes mesmo do indivduo apresentar sintomatologia, possvel ao iridologista
detectar sinais de comprometimentos e utilizar meios para manter a
homeostase do organismo, evitando que ele adoea. Deste modo, atua na
manuteno da sade, bem como, na preveno da doena, que de extrema
importncia tanto para o indivduo, como para a sociedade(53-58).
Fundamentando a iridologia, temos que a delicada membrana da ris est
em conexo nervosa direta e indiretamente, com cada uma das partes do nosso
corpo. A ris est em constante atividade e no permanece indiferente a
nenhuma reao nervosa do organismo(54). Ela uma extenso do crebro e
est fartamente dotada de terminais nervosos, minsculos capilares sanguneos
e outros tipos de tecidos especializados. Conectada com todos os rgos e
tecidos, via tlamo ptico e sistema nervoso, a ris torna-se uma espcie de
tela de televiso em miniatura e revela a condio das reas mais remotas do
organismo por meio das mudanas do refluxo neurolgico no estroma e em
suas fibras(58).
-
54
Os princpios que norteiam a Iridologia passam pelo estudo da
homeostasia, atravs da autorregulao, adaptao e compensao; fenmeno
da alergia (hiper e hipoalergia) e Lei de Hering, que refere que a cura deve
ocorrer de cima para baixo, de dentro para fora e na ordem inversa ao
aparecimento dos sintomas. H tambm a lei de Arndt-schultz, que afirma que
se um rgo submetido a um estmulo forte, ele ter uma reao fraca no
futuro e se este mesmo rgo for submetido a um estmulo fraco, ter uma
reao forte no futuro(53).
3.2.1 Principais escolas da Iridologia
Existem diferentes mtodos de estudo da ris e os mais utilizados no
Brasil so o Mtodo Jensen (escola americana), Mtodo Deck (escola alem) e
o Mtodo Ray Id (escola americana). Alm destas, temos abordagens como a
Ditese de Menetrier (escola francesa) e o Cronorischio e Iridologia
Multidimensional da escola italiana.
O mtodo Jensen foi elaborado pelo nutricionista americano Bernard
Jensen. Os pilares do estudo desta escola so os conceitos de constituio
geral, constituio parcial e os estgios evolutivos da leso. A constituio geral
dada pela densidade das fibras da ris e est relacionada com a resistncia, a
capacidade de defesa e a recuperao do organismo. A densidade atribuda
para a ris vai de 1 a 5, sendo 1 a mais alta e 5 a mais baixa, de forma que
indivduos com ris de constituio 1 apresentam maior capacidade de reagir
frente a estmulos diversos, compensar e se recuperar(53). A constituio parcial
-
55
representada pelos rgos de choque, aqueles que nasceram mais fracos e
que, por serem rgos de menor resistncia, sero os primeiros atingidos frente
a estmulos nocivos. Podem-se detectar os rgos de choque com auxlio do
mapa condensado, que mostra a relao topogrfica do rgo na ris (Figura
1)(53).
Figura 1. Mapa Condensado da Iridologia. Battello CF(53)
O rgo de choque aparece com lacunas ou manchas e ao detect-lo
deve-se recorrer a exames especficos para eliminar a possibilidade de
patologias, alm de repor vitaminas e sais minerais que favoream o folheto
embrionrio que deu origem ao rgo em questo. Esta reposio pode ser
feita atravs de alimentos, oligoelementos ou fitoterpicos(53). Os estgios de
evoluo das leses podem ser agudas, subagudas, crnicas ou degenerativas
e so diferenciados pela cor e profundidade da lacuna(53,58). Alm destes
-
56
pilares, a escola Jensen atribui significado a vrios outros sinais da ris, como o
rosrio linftico, os anis de tenso, os radis solaris , os anis de sdio e
colesterol, entre outros(53-56,58).
Os estgios evolutivos nos mostram o grau de profundidade e
comprometimento do rgo de choque. Eles vo desde um estgio mais
superficial e ameno, at uma etapa mais profunda em que se detecta uma
menor capacidade de reao de cura. Quanto mais profunda a leso, mais
camadas do estroma foram atingidas. Cada estgio tem uma profundidade e
colorao diferente(59).
A leso aguda de cor branca e mostra um aumento do metabolismo do
rgo representado neste local da ris, com maior consumo de nutrientes e
energias na tentativa de solucionar o dano. E se isso no for amenizado, a
leso aprofundar mais chegando ao prximo estgio evolutivo. O sinal
subagudo, com colorao branca acinzentada, demonstra a diminuio da
absoro e reteno de nutrientes, m perfuso sangunea, com consequente
diminuio da capacidade de cura. Nas leses crnicas, alm da diminuio de
absoro e reteno de nutrientes, ocorre dificuldade de eliminao das toxinas
oriundas do catabolismo, com alteraes vasculares e nervosas. Aqui a
colorao j cinza. Por fim, no estgio degenerativo, de cor preta, a
capacidade de reao do organismo j se esgotou, ocasionando dano
irreversvel(59).
-
57
O bom iridologista deve detectar o rgo de choque, bem como o seu
estgio evolutivo, e lanar mo de mtodos que evitem o aprofundamento da
leso.
Existem diferentes posies em relao formao dos sinais
iridolgicos. Alguns autores afirmam que os indivduos tm estes sinais
formados j aos 6 anos de idade e outros consideram a hiptese deles irem se
formando ao longo da vida. Os iridologistas americanos consideram a maioria
das lacunas inerentes. Mas ao mesmo tempo, admitem que h lacunas que
podem ser adquiridas por hbitos de vida. Algumas crianas nascem com
lacunas, outras nascem com meras sombras que vo se abrindo se o meio
ambiente e a alimentao no forem saudveis(58).
A escola alem baseia-se na cor da ris e em certos sinais estruturais e
de deposio para estudar a biotipologia do indivduo e suas diferenas nas
funes orgnicas e psquicas, para assim estabelecer o tratamento mais
adequado, uma vez que d a conhecer predisposies bsicas e padres de
reaes(53,56,58). Os indivduos linfticos tm ris azul, verde ou cinza e
apresentam metabolismo lento voltado para assimilao e crescimento. O
sistema mais sobrecarregado o linftico. Indivduos de ris marrom so
chamados de hematognicos ou sanguneos e os seus processos
fisiopatolgicos geralmente so agudos, caminhando para a inflamao e suas
fragilidades costumam estar ligada ao cardiovascular. A mistura dos dois
grupos anteriores resulta no tipo misto biliar ou hepatobiliar que apresenta
dificuldade em eliminar toxinas e os rgos sobrecarregveis so o fgado, a
-
58
vescula biliar e o sistema urinrio. Para cada biotipologia existem tratamentos e
orientaes mais adequadas(53,56). Cada uma destas constituies primrias
est subdividida em subtipos para incluir variaes comumente observadas no
comportamento. Os processos patolgicos no so limitados a um nico tipo de
constituio mas, estatisticamente, ocorrem mais em uma constituio do que
em outra(58).
O mtodo Ray Id foi desenvolvido pelo norte-americano Denny Johnson
e estuda as reas mentais e psquicas do indivduo(53,56-57). Existem trs
padres bsicos de ris: flor, joia e corrente, alm de um quarto tipo que resulta
da combinao flor - joia, o ponta de lana. H necessidade de se compreender
os padres para saber onde o indivduo est desperdiando energia e o que
precisa aprender para viver melhor. As pessoas do tipo Flor costumam ser
emotivas, deixando-se guiar pelos sentimentos. Gostam de msica e artes e
normalmente so bem criativas. Aprendem melhor pela audio e a lio que
precisam aprender focar mais e ter persistncia. Sugere-se que pessoas
como padro joia sejam analticas, reflexivas, observadoras, com facilidade
para aprender e comunicar-se, tendo o dom da palavra. A aprendizagem d-se
pelo visual e precisam aprender a relaxar, a se soltar. O tipo corrente costuma
ser sensitivo e intuitivo, intermedirio entre a flor e a jia. Os indivduos deste
tipo no so nem to emotivos e volveis quanto primeira, nem to rgidos
quanto o segundo e aprendem melhor pela experincia e tem como lio de
vida o movimento. Sobre pessoas do padro ponta de lana, afirma-se tratar de
indivduos pioneiros e inovadores que gostam de desafios e esto sempre
-
59
envolvidos em muitas coisas ao mesmo tempo. Aprendem melhor pela intuio
e pelo toque e precisam aprender a se aquietar e saber parar(53,56-57).
3.2.2 Pesquisas em Iridologia
Apenas 25 artigos especficos sobre Iridologia - com resumo em Ingls,
Francs, Espanhol ou Portugus - foram encontrados nas bases de dados da
literatura cientfica. A insignificncia do nmero demonstra que pouco se
conhece sobre o assunto. Do total, havia 1 reviso sistemtica, 12 pesquisas e
12 se dividiam em editoriais, atualizaes ou histricos. 10 artigos se
posicionaram contra o mtodo, 15 atestaram a favor. Os pases que
contriburam com publicaes foram Brasil, Rssia, Inglaterra, Frana, Estados
Unidos, Coreia do Sul, Dinamarca, Alemanha, Sua, Austrlia, Nova Zelndia,
Ucrnia, China e Romnia(60).
A reviso da literatura sobre Iridologia, baseada em apenas quatro
artigos(61), desencoraja o uso deste mtodo. Outros artigos tambm se referem
a ele de forma negativa, sendo trs atualizaes(62-64) e seis pesquisas
mostrando que no eficaz para diagnosticar determinadas patologias, como
cncer, traumas ortopdicos, doenas renais, problemas vesiculares e
outros(65-70). Contudo, como vimos anteriormente, a Iridologia no se prope a
fazer diagnsticos, e sim pr-diagnoses, revelando apenas os rgos
debilitados que merecem ateno para no adoecer.
Dentre os quinze artigos a favor, somente seis(71-76) so pesquisas; alguns
com metodologia questionvel. Os outros so atualizaes (77-85).
-
60
Um destes estudos coreano e investigou a relao da constituio da ris
e o marcador gentico para hipertenso arterial - o gene polimorfo
Apolipoprotena E (apo E) - em indivduos com e sem a doena(75). Foi
encontrada uma porcentagem significantemente maior de hipertensos na
constituio neurognica da ris, dado que condiz com as observaes de
iridologistas brasileiros(53,58). Esta constituio aumentou o risco relativo de
hipertenso em indivduos com o alelo apo 2 e 4(75).
Em um ensaio clnico controlado com 100 adolescentes (50 com distrbios
de audio e 50 audio normal) foi testada a eficcia da anlise da ris para
identificao do problema de audio. Um iridologista, que no tinha
conhecimento dos diagnsticos dos participantes, foi convidado para analisar
suas ris. Uma identificao correta de 70% do estado de audio foi obtida por
meio de anlise iridolgica e houve uma relao estatisticamente significativa
da anlise da ris com o status da audincia real (p
-
61
anis de contrao (que os iridologistas chamam de anis de tenso) foram
encontrados em pessoas com impulsividade e neuroticismo e estes resultados
so similares aos j encontrados em pesquisas de iridologia, que relatam a
relao deles com comportamentos de ansiedade, irritabilidade e impulsividade(
87,88-90).
Como exposto anteriormente, muito ainda deve ser pesquisado. Tal
possibilidade no deve ser descartada por preconceito ou por diferir do que
temos como verdade, pois a ris parece ainda reservar muitas surpresas.
Pesquisa realizada no departamento de Engenharia Mecnica da
Universidade de Santa Catarina demonstrou que a cor da ris sofre alteraes
em funo de variaes no nvel de glicose na corrente sangunea, levando
concluso de que a medio da glicemia atravs da ris pode ser possvel(91).
Outra pesquisa de gentica e iridologia a de Dopke(92), que relacionou
Gentica e os padres psquicos do mtodo Rayid, uma das escolas da
iridologia. Foi estabelecida relao com o gentipo dos biotipos Corrente, Joia,
Ponta de lana e Flor, mostrando que os padres psquicos so transmitidos
atravs de uma herana autossmica monognica com relao de dominncia
(polialelia).
Estes primeiros estudos na rea de gentica e rs, realizados por
iridologistas e alopatas, mostram que h muito por pesquisar e corroboram com
o pressuposto que os sinais da ris podem se comportar como marcadores
genticos.
-
62
3.2.3 Iridologia e Diabetes Mellitus
Vrias escolas dentro da iridologia estudam sinais que indicam
predisposio para Diabetes mellitus.
Na Escola americana de Jensen, tem-se que os rgos de choque so
os enfraquecidos do organismo. Eles so identificados por sinais que
demonstram diminuio da densidade do tecido (como aberturas de fibras e
lacunas) e acmulo de pigmentos, indicando debilidade do rgo(53).
No mapa condensado da iridologia, esquematizado por Batello (ANEXO
5)(53), o pncreas est localizado na ris direita s 7 horas (comparando-se a ris
a um relgio). No mapa europeu, esquematizado por Ferrandiz(58), o pncreas
localiza-se na ris direita entre 7 e 7:30 horas e na esquerda entre 4 e 4:30
horas.
Outros autores sugerem que, podem ser sinalizados s 4 horas (20) e 8
horas (40) de ambas as ris e que em caso de distrbios extensivos da glndula
inteira, os sinais podem aparecer, tambm, s 2 horas (10) e 10 horas (50)(58).
O que corresponde, como veremos mais para frente, Cruz de Andras.
Lindemann (2005) refere que os pontos iridolgicos do pncreas, em
qualquer caso, tm ntima ligao com o colarete (regio aps a pupila). A ris
direita indica distrbios da funo excrina e a ris esquerda mostra distrbios
da funo endcrina(93) (Fig. 2).
-
63
Figura 2. Representao do pncreas na ris. Lindemann (2005)(82)
Os sinais iridolgicos da alterao funcional do pncreas e do DM
encontram-se, principalmente, na ris E a 40 e 20 (pncreas endcrino),
representando o corpo e a cauda pancretica, respectivamente(93).
Ao identificar um rgo de choque podemos afirmar apenas que o rgo
tem maior debilidade e predisposio em adoecer. No possvel determinar
qual ser a doena que o indivduo tem, teve ou ter. Assim, no caso deste
sinal ser o pncreas, no se pode assegurar se a doena que poder se
desenvolver ser pancreatite, tumor ou diabetes. Porm, conforme Robins(94),
de todas as doenas do pncreas, o Diabetes Mellitus a que tem a maior
frequncia, morbidade e mortalidade.
Outro sinal que indica predisposio para Diabetes Mellitus, a Cruz de
Andras, primeiramente descrita por Josef Karl(93).
-
64
A Escola Alem refere que o sinal da Cruz de Andras ou Cruz de Santo
Andr (Fig. 3) indica especificamente predisposio para Diabetes Mellitus(93,95).
Enquanto o rgo de choque mostra apenas a fragilidade e a probabilidade de
determinado rgo adoecer (e nesse caso DM uma das possibilidades), o
sinal de Cruz de Andras aponta unicamente para a predisposio de DM.
Segundo Batello(95), a presena da Cruz de Andras indica disfuno
endcrina e excrina no pncreas. Os pacientes que apresentam estes sinais
costumam alimentar-se incorretamente e dificilmente aceitam uma mudana
alimentar.
A Cruz de Andras (ANEXO 6) pode ser visualizada em ambas as ris em
forma de 4 lacunas (aberturas das fibras) dispostas as 10, 20, 40 e 50 minutos,
comparando-se a ris com o relgio. Estas lacunas tambm significam tecidos
menos densos e dbeis, predispostos a adoecer(53, 58,93, 95).
Figura 3. Cruz de Andras. Batello CF(95).
-
65
Kramera afirma que sinais de abertura de fibras no crculo 3 da
disposio concntrica da ris (ANEXO 7), indicam predisposio a
desequilbrios hormonaisb.
Ainda segundo a escola alem, encontramos maiores predisposies aos
problemas pancreticos na constituio misto biliar devido predisposio
especial a problemas hepticos e biliares, alm da funo pancretica fraca;
nos hematognicos com ansiedade tetnica por predisposio a erros no
metabolismo de glicose sangunea; nos indivduos com variante pluriglandular
ou hormonal nas diferentes cores de ris, por fragilidade do sistema hormonal,
sobretudo tiride, adrenais, pituitrias e pncreasc.
A principal caracterstica da constituio ansiedade tetnica so os anis
de tenso, o que corrobora com os resultados apontados na pesquisa sobre a
sintomatologia e diagnsticos mais frequentes dos indivduos com estes sinais,
que indica ser o diabetes um dos diagnsticos mais frequentes na faixa etria
de 61-80 anos de pacientes portadores dos anis de tenso(88).
Pigmentos laranja na ris esto relacionados a distrbios funcionais
pancreticos e eventual diabetes, entre outros distrbios hormonais, ainda
conforme a escola Alem de Iridologia(89).
Os estudos da esclera e da pupila corroboram com as investigaes da
ris. Eles tambm podem fornecer dados sobre uma possvel leso pancretica b Palestra Klaus Kramer. VI Jornada de Iridologia. Valinhos/2003. c Alcntara IA, Beringhs L. Apostila do Curso Bsico de Iridologia: Iridologia Alem.
-
66
atravs de vasos na esclera e formato irregular da orla pupilar na rea
correspondente ao pncreas na ris(53).
Battello ressalta, que as mltiplas interseces topogrficas do pncreas
dificultam a identificao dos sinais pancreticos, sendo ento, necessria
criteriosa investigao(89).
Os estudos encontrados sobre Iridologia e Diabetes mellitus reforam as
observaes dos iridologistas.
Ruas(96), em seu estudo Diabetes mellitus e Cruz de Andras conclui
que este sinal est presente em 76% dos portadores da doena, em ambos os
sexos, principalmente na faixa etria entre 61 a 70 anos.
Squizani(87) observou 75% de correspondncia entre os sinais iridolgicos
sugestivos da predisposio de DM e os exames laboratoriais que auxiliam no
diagnstico da doena. Esta pesquisa quantitativa e horizontal foi realizada no
Municpio de Entre-Ijus (RS), em um posto de sade onde o mdico
responsvel membro da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Tanto o
pesquisador quanto o mdico no conheciam os pacientes. Os indivduos
estudados passaram pelo pesquisador, que aps fotografar e analisar suas ris,
encaminhou as pessoas com sinais sugestivos de DM para o