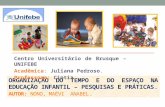TEXTURA RReevista Acadêmica da Fvista Acadêmica da … · Marina Siqueira de Castro (Universidade...
Transcript of TEXTURA RReevista Acadêmica da Fvista Acadêmica da … · Marina Siqueira de Castro (Universidade...

TTRevista Acadêmica da FAMAMRevista Acadêmica da FAMAM
EXTURAEXTURA
Governador Mangabeira - BAGovernador Mangabeira - BAGovernador Mangabeira - BA
V. 6 - N. 11 - Jan./Jun. de 2013 ISSN: 1809-7812

Revista Acadêmica da FAMAM
TRevista Acadêmica da FAMAMRevista Acadêmica da FAMAMRevista Acadêmica da FAMAM
EXTURA
Governador Mangabeira - BA
Jan./Jun. de 2013

TEXTURA. Faculdade Maria Milza. - v. 1, n. 1. (jan. - jun. 2006) - Cruz das Almas, BA, 2006.
Semestral
ISSN: 1809-7812
1. Ciências Humanas. 2. Ciências da Saúde. I Faculdade Maria Milza II. Título
Ficha Catalográfica
Tiragem: 300 exemplares
Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que devidamente citada a fonte.
FAMAM - FACULDADE MARIA MILZA
DIRETOR DA FAMAM
Weliton Antonio Bastos de Almeida
DIRETORAS DO CEMAM (Instituição mantenedora da FAMAM)
Jucinalva Bastos de Almeida Costa
Janelara Bastos de Almeida Silva
EDITORA RESPONSÁVEL
Josemare Pereira dos Santos Pinheiro
CONSELHO EDITORIAL
Adriana Pinheiro Martinelli (Universidade de São Paulo)
Alex Gutterres Taranto (Universidade Federal de São João Del-Rei)
Carmem Lieta Ressurreição dos Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana)
Celi Nelza Zulke Taffarel (Universidade Federal da Bahia)
Edmar José de Santana Borges (Universidade Federal da Bahia)
Elisabete Rodrigues da Silva (Faculdade Maria Milza)
Maria Lúcia Silva Servo (Universidade Estadual de Feira de Santana)
Marina Siqueira de Castro (Universidade Estadual de Feira de Santana / Empresa Baiana
de Desenvolvimento Agrícola)
Marly de Jesus (Faculdade Maria Milza)
Robson Rui Cotrim Duete (Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola / Faculdade Maria Milza)
Sérgio Roberto Lemos de Carvalho (Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola /
Faculdade Maria Milza)
Simone Garcia Macambira (Universidade Federal da Bahia)
ASSISTENTE EDITORIAL
Jonas Cavalcante da Silva
CAPA
Nelson Magalhães Filho

SUMÁRIO
Mulheres fumageiras do recôncavo baiano: heranças socioculturais ...................................................................01
Elizabete Rodrigues da Silva
Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral ..........................................................................07
José Clerison Santos Alves
Mulheres negras e poder na indústria fumageira ..................................................................................................21
Luzia Souza Ferreira; Elizabete Rodrigues da Silva
Festas juninas em Cruz das Almas/BA: suas implicações urbanas e o papel da municipalidade frente às
políticas de planejamento ......................................................................................................................................31
Reinaldo dos Santos Silva; Jânio Roque Barros de Castro
O trem e a comunidade quilombola na cidade de Cruz das Almas/BA .................................................................39
Nilton Antonio Souza Santos
Revisão de literatura sobre o mecanismo de ação da artemisinina e dos endoperóxidos
antimaláricos - Parte II ...........................................................................................................................................47
Laís Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio; Alex G. Taranto; Franco Henrique Andrade Leite
Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e indicadores antropométricos associados em escolares
na cidade de Muritiba/BA.......................................................................................................................................57
Fabrício Sousa Simões; Adriano Batista Souza; Jorge Luiz Santos de Jesus; Tarcísio Dias da Silva
Descentralização: um estudo sobre sua interferência nos serviços de saúde no Brasil .......................................63
Laudiceia Garcia Neves; Norma Irene Soza Pineda


APRESENTAÇÃO
Neste número foram reunidos artigos que contemplam e retratam preocupações que vão desde a
composição histórica do Recôncavo Baiano até a descentralização dos serviços de saúde no Brasil.
Mulheres fumageiras no Recôncavo Baiano: heranças socioculturais, é um trabalho que abre a
seção Ciências Humanas, e que nos contempla com uma investigação em torno da composição do qua-
dro social e as características étnico-culturais que compunham, historicamente, a região fumageira do
Recôncavo da Bahia, na primeira metade do século XX. A partir de tal levantamento é traçado um perfil
socioeconômico e cultural, destacadamente, das trabalhadoras da indústria do fumo.
O artigo Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral, destaca que na filosofia de
Schopenhauer não é possível fundamentar a moral a partir da faculdade da razão, posto que a razão, em
seu sistema, possui apenas uma função lógica, em outras palavras, ela nada tem a ver com a moralidade.
Nesta perspectiva, é apresentada uma crítica de Schopenhauer ao formalismo da moral kantiana.
Em continuidade, no trabalho Mulheres negras e poder na indústria fumageira, são evidenciadas as
trajetórias das mulheres negras que ocuparam espaços de poder no âmbito do trabalho com o fumo na
cidade de Cruz das Almas/BA, num intervalo de quarenta anos (1950 a 1990), destacando, especialmen-
te, as mulheres que presidiram o Sindicato da Indústria do Fumo. Nessas trajetórias, constatou-se a luta
acirrada destas mulheres pela sobrevivência material, bem como pelos espaços de poder, minando a invi-
sibilidade social e política a que eram submetidas no contexto das relações sociais de gênero, raça e clas-
se do período em foco.
Segue-se Festas juninas em Cruz das Almas/BA: suas implicações urbanas e o papel da municipa-
lidade frente às políticas de planejamento, que objetivou compreender os processos e as implicações
espaciais de tais festas no território urbano cruzalmense, principalmente quanto à dinâmica de planeja-
mento. O estudo aponta que, devido a dimensão grandemente espetacularizada que a festa junina da
cidade alcançou, é preciso lançar mão de novos mecanismos de planejamento, que efetivamente gerem
a infraestrutura adequada para a festa.
O artigo que encerra esta seção é O trem e a comunidade quilombola na cidade de Cruz das
Almas/BA, cujo intento principal foi, a partir das memórias e narrativas dos quilombolas, entender em que
medida o funcionamento da linha férrea contribuiu tanto para o desenvolvimento da comunidade em ques-
tão como da própria cidade.
A seção Ciências da Saúde é iniciada com o artigo Revisão de literatura sobre o mecanismo de
ação da artemisinina e dos endoperóxidos antimaláricos - parte II, que corresponde à segunda parte de
uma revisão sobre os endoperóxidos antimaláricos, na busca de novas alternativas terapêuticas para o
tratamento da malária, apontada como uma doença que mata mais do que a AIDS e cujo parasito tem
apresentado crescente resistência aos fármacos atuais.
Em seguida, Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e indicadores antropométricos associa-
dos em escolares na cidade de Muritiba/BA, objetivou estimar a prevalência da HAS em escolares e sua
associação com indicadores antropométricos de risco para a população infanto-juvenil. O estudo revelou
uma relação negativa entre o nível de atividade física e os níveis pressóricos, demonstrando a necessida-
de da prevenção dos fatores de risco através de mudanças nos hábitos de vida dessa população estuda-
da e o desenvolvimento de programas específicos dentro das escolas, que enfatizem a prática da ativida-
de física e bons hábitos alimentares, minimizando a prevalência da HAS precoce.
Finalizando esta edição, Descentralização: um estudo sobre sua interferência nos serviços de
saúde no Brasil, aponta a descentralização das ações e serviços de saúde como um dos principais com-

ponentes do processo de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, em contraposição
a um modelo centralizador. Entretanto, conforme o estudo, intervenções político-partidárias e deficiênci-
as, tanto na administração das verbas públicas destinadas ao setor saúde, quanto na profissionalização
dos gestores do setor, têm rebatido negativamente no propósito de facilitar à população um maior acesso
nos serviços de saúde.
Boa leitura!
Josemare Pereira dos Santos Pinheiro
Editora Responsável

MULHERES FUMAGEIRAS DO RECÔNCAVO BAIANO: HERANÇAS SOCIOCULTURAIS
Elizabete Rodrigues da Silva*
O presente estudo visa delinear a composição do quadro social e as características étnico-culturais que compunham, historicamente, a região fumageira do Recôncavo baiano, na primeira metade do século XX. A pesquisa respalda-se em fontes históricas, primárias e secundárias, que consistem em documentos como “Ficha de Registro de Empregado” das Empresas Fumageiras Suerdieck e Carlos Pimentel, no período que se estende de 1906 a 1959, depositadas na Biblioteca da FAMAM; os Censos de 1940, 1950 e 1980 (IBGE); a obra do memorialista Anphilófio de Castro (1941); além da literatura que se debruça sobre a região e que tem como expoentes Maria de Azevedo Brandão (1998) e L. A. Costa Pinto (1998). Com ênfase na formação étnico-racial da região, nas condições econômicas, grau de instrução e estado civil da população representada nas fontes históricas, o levantamento e leitura dos dados permitiu, então, traçar um breve perfil socioeconômico e cultural das trabalhadoras e trabalhadores da indústria fumageira.
Palavras-chave: Trabalhadoras fumageiras. Traços étnicos. Perfil socioeconômico.
This study aims to delineate the composition of the social and ethno-cultural characteristics that made historically the tobacco region of the Reconcavo Baiano in the first half of the twentieth century. The research draws upon in historical sources, primary and secondary documents that consist of horn "Employee Registration Card" of tobacco companies Suerdieck and Carlos Pimentel, the period extending from 1906 to 1959, deposited in the Library of FAMAM, the censuses of 1940, 1950 and 1980 (IBGE), the work of memoirist Anphilófio de Castro (1941), and the literature that focuses on the region and whose exponents Maria Brandão de Azevedo (1998) and L. A. Philo Costa (1998). With an emphasis on ethnic and racial formation in the region, economic conditions, education and marital status of the population represented in the historical sources, the survey and reading of the data allowed, then trace a brief profile of the socioeconomic and cultural workers and industrial workers tobacco.
Keywords: Workers furnageiras. Ethnic traits. Socioeconomic profile.
INTRODUÇÃO
O estudo sobre as mulheres fumageiras¹ do Recôncavo Baiano circunscreve-se à primeira metade do século XX, considerando que se trata de um período de relativas mudanças econômicas e sociais para a região, tendo em vista a implantação do parque industri-al fumageiro que acelerou, dentre outros fatores, as rela-ções de trabalho e a dinâmica urbana das cidades de Maragojipe, Cachoeira, São Félix e Cruz das Almas.
Esse contexto demarca a trajetória de vida das mulheres fumageiras, como trabalhadoras, que busca-ram neste cenário socioeconômico a sobrevivência material e a visibilidade social, fatos que evidenciavam e, ao mesmo tempo, transgrediam a norma patriarcal, esta que permeava as relações sociais de gênero naquele tempo e espaço².
Partindo desta pesquisa mais ampla, o tema em
evidência, trata especificamente de delinear a composi-ção do quadro social e as características étnico-culturais que compunham, historicamente, a região fumageira.
T R A Ç O S É T N I C O S D A P O P U L A Ç Ã O D O RECÔNCAVO
A composição do quadro social e cultural da popu-lação fumageira, no período supracitado, é herdeira da mais ampla e histórica formação social do Recôncavo baiano, onde ameríndios, africanos e europeus se “en-contraram” e, como em outras regiões, não puderam impedir o processo de miscigenação e a interpenetra-ção de suas culturas. Apesar da participação dos euro-peus, em particular dos portugueses, considera-se maior a presença de traços étnicos e culturais dos indí-
*Doutora em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres Gênero e Feminismo (Universidade Federal da Bahia); Professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM. E-mail: [email protected]¹A expressão “mulheres fumageiras” aqui utilizada baseia-se na identidade de gênero, que, por sua vez, é composta e ao mesmo tempo diferenciada por identidades sociais e políticas. (SCOTT, 1997). Mas, sobretudo, perpassada por uma construção histórica das diferenças e um contexto histórico específico, revelador da experiência dessas mulheres. ²O tema das relações sociais patriarcais no contexto da indústria fumageira deverá ser tratado em um momento.
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 01-06, jan./jun., 2013.

genas, e, sobretudo, dos africanos, no período em estu-do, o que determina a formação étnico-cultural e social das/dos trabalhadoras(es) fumageiras(os).
Quanto aos autóctones, são esparsas as infor-mações. Em “Histórias Menores”, Osvaldo Sá descreve que havia em Maragojipe as aldeias de Conquista da Pedra Branca, dos índios Quiriris e Tapuias e a de Santo Antônio da Aldeia, pertencente à Freguesia de São Bar-tolomeu, sendo dos Tupinambás. Em consequência da comunicação, através do Rio Paraguaçu, do arraial de Santo Antônio da Aldeia com o ancoradouro de Najé³, onde os índios praticavam o escambo e o que mais inte-ressasse à sua manutenção, esta aldeia passou a per-tencer à Vila de Najé. Ainda descrevendo as belezas naturais do Rio das Caboclas situado entre Najé e Mara-gojipe, o autor afirma que este último “produziu a maior safra de mamelucos”. (SÁ, 1981, p. 31-33).
Ainda conta o mesmo autor que “tribos valentes, aparentadas aos Aimorés”, invadiram Capanema, um dos sítios das terras maragojipanas, no século XVIII, embora muito antes Mem de Sá já houvesse “destroça-do aimorés da Serra da Copioba, afugento-os do litoral”. (SÁ, 1981, p. 73).
Mais à frente, em direção a Muritiba, a região era totalmente povoada pelos índios Tupinambás que, no período dos três governos gerais, somaram 47 aldeias. Somente São Félix, constituiu-se numa aldeia de índios com 20 palhoças habitadas por cerca de 200 índios. Porém, logo que o colonizador chegou à região esta população foi gradativamente sendo dizimada. Segun-do Silva (2001):
Com a instituição do domínio português e a resistência indígena, instalou-se a guerra de destruição à esses índios que constituiu-se em um denominador comum na história de ocupa-ção do Recôncavo, da qual resultou o gradativo despovoamento desta região. (SILVA, 2001, p.39).
No entanto, é sabido que os autóctones resisti-ram contundentemente à exploração, à dominação e a quaisquer outras formas de destruição de sua espécie impostas pelo colonizador português. Foi neste proces-so de luta e resistência à escravidão e ao poder sobre o seu território que os índios, mesmo sofrendo grandes baixas em seu efetivo, sobreviveram favorecendo ao
4processo de miscigenação do Recôncavo .
A presença da população negra no Recôncavo está relacionada à escravidão africana que, desde a colonização até o final do século XIX, apresentava a maior concentração do Estado da Bahia. Ao examinar os inventários post-mortem da população desta região, do período de 1750 a 1800, Parés (2005), identificou
dentre os 1.400 cativos africanos uma maioria cujos etnônimos referiam-se a mina, jeje, nagô e angola den-tre outros, termos que designavam uma pluralidade de grupos heterogêneos, mas guardavam certas afinida-des linguísticas e culturais. Ressalta, ainda, que este tipo de documentação expressa o uso dessas categori-as feitas comumente pelos senhores e traficantes. (PARÉS, 2005, pp. 96-97).
Eliane Azevedo (1968), afirma que a demanda dos africanos no Recôncavo da Bahia vinculou-se ao cresci-mento da indústria do açúcar e as plantações de fumo, sendo estas últimas para sustentar o tráfico de escravos no "comércio triangular". (AZEVEDO, 1968, p. 7).
Quanto à evolução demográfica desta população na região, nos séculos seguintes, fez-se necessário cru-zar as informações fornecidas pela Sinopse Preliminar do Censo Demográfico (1980) e os números sugeridos por Roger Bastide (1980), para obter as seguintes infor-mações: no final do século XIX, exatamente em 1890, a população da Bahia era de 1.919.802 habitantes e, des-tes 75,97% eram de negros, relativamente proporcional a estes números também todo o Recôncavo, conside-rando que as cidades de Cachoeira e São Félix eram os principais centros de irradiação negra do Estado, pois foi nessa microrregião que se concentrou o maior número de engenhos de açúcar da Bahia. (IBGE, 1980, pp. 14-15; BASTIDE, 1980, p. 68-70; AZEVEDO, 1968, p. 4).
Mas, “as terras em volta d'água” estabelecia comunicação entre o sertão e a Baía de Todos os San-tos que, com o passar do tempo, contribuiu para dissol-ver a distância entre as diferentes matrizes e processou significativas mudanças no quadro étnico e cultural do Recôncavo. Inicialmente a comunicação se deu através dos rios que ali desembocam e, mais tarde, através das rodovias, contribuindo para a distribuição tanto de pro-dutos e mercadorias diversas como da população que transitava em direção à capital ou ao sertão, destacan-do-se nesse trajeto o porto de Cachoeira como principal ponto de encontro das pessoas e entrelaçamento de cul-turas. (AZEVEDO, 1968, p. 4-7). Ao longo do tempo, este trânsito de coisas, costumes e pessoas promoveu um processo de redefinição étnico-cultural e social, par-ticularmente, para a zona do fumo que aqui é denomi-nada de Recôncavo Fumageiro.
Assim, Lilia Schwarcz (1998) afirma que “era a cultura mestiça que, nos anos 30 [do século XX] des-pontava como representação oficial da nação”. (SCHWARCZ, 1998. p.193). Ainda, na primeira metade do século XX, em viagem pela Bahia, o escritor austría-co, residente no Rio de Janeiro, visitou as fábricas de charutos de Cachoeira e descreveu as etapas da feitura dos charutos se referindo às trabalhadoras, de modo particularizado, pelo seu tipo étnico, como “centenas de
³ Anajé que significa gavião na língua nativa é um topônimo que os conquistadores deturparam para Najé. 4Para a questão vê: AMSF: Jornal da Cidade. Edição Especial, 10/1990; AZEVÊDO, UFBA/Salvador, 1968, pp. 3-14; CASTRO, 1941, p. 34; MATTOSO, 1992, pp. 69-81; SCHWARCZ, 1998, vol. 4, cap. 3, p.193; SILVA, 2001, pp. 39 - 43.
Elizabete Rodrigues da Silva
02 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 01-06, jan./jun., 2013.

moças morenas acham-se sentadas nas salas da fábrica uma ao lado da outra e cada grupo delas exerce uma atividade diferente”. [grifo nosso]. (SWEIG, 1941, p.116).
Ao final da primeira metade do século XX, a popu-lação dessa região já se apresentava densamente mis-cigenada, principalmente, de um tipo étnico que Azeve-do (1968) denomina de "mulato escuro". Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 1940, a população dos municípios de Mara-gojipe, Cachoeira, São Félix e Muritiba somava 105.047 habitantes, sendo 34,14% de cor preta e 46,33% de cor parda. Em 1950, estes municípios somavam uma popu-lação de 110.253, sendo 52,75% de cor parda, ou seja, revela que a maioria era de uma população não branca, nem exclusivamente de cor preta. (IBGE/CENSO, 1950/1958, pp. 95-105).
Apesar da sobrevivência em grande parte, nesta região, da herança de elementos da cultura européia, nativa e, sobretudo, africana, a efetiva convivência entre esses povos, os frequentes deslocamentos das populações, bem como as interpenetrações sociais e culturais que se processavam em todo o Nordeste bra-sileiro facilitaram, particularmente ao Recôncavo, uma complexa formação étnica, cultural e social específica dessa região que, mesmo não sendo estática, contribu-iu para a definição, com certa peculiaridade, das carac-terísticas de sua população.
Além das atividades sociais e culturais, as ativi-dades econômicas ali desenvolvidas, também, repre-sentaram fatores constitutivos da especificidade da população de cada zona que compunha o Recôncavo, considerando que a atividade fumageira marcou, ao longo do tempo, os comportamentos, os costumes, o convívio social e até o modo de pensar e viver daque-las/daqueles que trabalharam e viveram no Recôncavo fumageiro.
OUTRAS HERANÇAS
O Recôncavo dos canaviais, dos engenhos, aquele chamado de “celeiro da capital”, dentre outros que formavam o conjunto das áreas produtivas e, por-tanto ricas da Bahia, enfrentou a partir da segunda meta-de do século XIX, principalmente após a abolição do regime escravocrata e consequentemente o “quebra-mento das forças produtivas”, uma progressiva deca-dência que levou a região a perder a sua antiga impor-tância econômica, política e social, isolando-a dos pro-cessos que desde então marcaram a vida nacional. Dife-rentemente da Cidade da Bahia, aonde tudo ia flores-cendo, “o Recôncavo açucareiro se retrai e suas áreas periféricas se marginalizam”, conforme afirma Maria de A. Brandão (1998, p. 40), dentre outros. Nesse contex-to, C. Pinto descreve a pauperização da população da
região e a intensa utilização da mão de obra feminina, principalmente, na indústria fumageira e afirma que:
E não resta dúvida que é aqui, entre as subáre-as do Recôncavo, que atraso e pobreza são mais visíveis e mais chocantes (...) visitar os bairros proletários de Cachoeira, São Félix, Muritiba, Maragojipe, Cruz das Almas é ver de perto a pobreza amarela da classe trabalhado-ra urbana dedicada à manipulação industrial do tabaco. (PINTO, 1998, p. 122 e 128).
Além do quadro econômico que se delineava na região fumageira, que já inclinamos nosso olhar em momentos anteriores, outras peculiaridades e caracte-rísticas de cunho sociocultural que ali se desenvolve-ram emprestaram uma fisionomia própria à população ligada especificamente à atividade fumageira.
Quanto ao nível de escolarização das/dos traba-lhadores fumageiras(os), há controvérsias. Para a indústria fumageira, Anfilófio de Castro avalia que "(...) é a ocupação de quási a totalidade do seu povo" [Muriti-ba], "o qual, embora com qualidades apreciáveis, é pouco instruído e pouco afeiçoado às letras". (CASTRO, 1941, p. 5). Esta afirmativa deve estender-se nas mesmas proporções para todos os outros muni-cípios da região fumageira, pois, conforme o Censo de 1940, o total da população de cinco anos e mais de idade dos municípios de Maragojipe, Cachoeira, São Félix e Muritiba era de 88.275 e destes 65.720, ou seja, 74.45% não sabiam ler e escrever. Em 1950, segue com pequena diferença, o mesmo ritmo das propor-ções, uma média de 70.65% de analfabetos para o total da população de cinco anos e mais de idade. (IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. R.J.: XX vol. 1958, pp. 95-105).
Considerando que a atividade fumageira se divi-diu no binômio agroindustrial, é preciso não generalizar em qualquer avaliação do gênero. De certo que, a pas-sagem das relações sociais estruturadas sob o trabalho no campo para as relações sociais estruturadas sob o trabalho fabril não determinou um corte radical nos padrões sociais vigentes, permanecendo, ainda, por algum tempo, os mesmos valores, comportamentos, bem como, a formação sociocultural da população envolvida com o trato do fumo. Contudo, quando Maria de A. Brandão, afirma que “as relações de produção determinam aí relações sociais (...)”, (BRANDÃO, 1998, p. 18), possibilita compreender que, de alguma maneira, o processo de industrialização da zona fuma-geira influenciou na dinâmica urbana, social e cultural e, que se analisada separadamente pode-se obter resul-tados diferenciados.
Assim, conforme as anotações das Fichas de Registro das/dos trabalhadoras(es) das principais fábri-cas charutos – C. Pimentel em Muritiba, Suerdieck em Maragojipe e Cruz das Almas, no período de 1906 até à década de 1950 –, ocorreu um processo gradativo de escolarização dessa população. Embora, deva-se con-siderar que se trata de uma amostra restrita e que os
03
Mulheres fumageiras do recôncavo baiano: heranças socioculturais
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 01-06, jan./jun., 2013.

dados são relativos pela flutuação do pessoal naquela localidade, mas, de qualquer maneira, trata-se da reali-dade cultural das/dos trabalhadoras(es) das fábricas de charutos do Recôncavo. Outro fator preponderante para esta análise é considerar que, naquele momento, tratava-se de um processo lento e que a escolarização das classes populares, ainda, não aparecia como um valor, muito menos como valor positivo. Assim, segue a amostra nas tabelas abaixo:
As relações conjugais também revelavam outra face de uma realidade característica da massa traba-lhadora da região fumageira. O casamento nos moldes oficiais previstos pelo Estado e pelo Cristianismo, pre-dominante naquele período, apresentava número bas-tante reduzido, cedendo lugar às uniões livres, na forma do concubinato, àquelas que Pinto denominou de “uniões conjugais extralegais, de puro amasiado, tão fre-quente entre as classes pobres brasileiras, especial-
mente no interior” (PINTO, 1998, p.128), mas que se ins-titucionalizaram como uma prática recorrente nas áreas urbanas da zona do fumo do Recôncavo.
Em seu estudo sobre Muritiba, Anfilófio de Castro identificou que "numa população entre 37 a 40.000 almas, realizando-se apenas, anualmente, 156 casa-mentos legais, atinge as raias do espanto pela insignifi-cância". (CASTRO, 1941, p. 36). Tomando o Censo de 1940, este informa que a população dos quatro municí-pios – Muritiba, Cachoeira, São Félix e Maragojipe – na faixa etária de 15 anos e mais, somava um total de 105.047, destes 76,88% (80.762) eram de pessoas sol-teiras. (IBGE. Censo, 1940. XX vol. 1958, pp. 95-105).
Para as décadas de 1930, 1940 e 1950, uma amostra das Fichas de Registro de Empregados das Empresas C. Pimentel em Muritiba, Suerdieck em Mara-gojipe e Cruz das Almas, trazem as seguintes informa-ções quanto ao estado civil das/dos trabalhadoras(es):
Tabela 1 - Grau de instrução - Mulheres
MULHER 5DÉCADA ALF % N/ALF % NI/O % TOTAL
1930 170 31.89 160 30.02 203 38.09 533
1940 278 55.60 145 29.00 77 15.40 500
1950 204 71.58 47 16.49 34 11.93 285
TOTAL 652 49.47 352 26.71 314 23.82 1.318
Legenda: ALF=Alfabetizada(o). N/ALF=Não Alfabetizada(o). NI/O=Não Informado ou Outros
FONTE: Fichas de Registro de Empregados das Fábricas Suerdieck Maragojipe/Cruz das Almas), Pimentel (Muritiba).
Tabela 2 - Grau de instrução - Homens HOMEM
DÉCADA
ALF
%
N/ALF
%
NI/O
%
TOTAL
1930
98 49.75
50
25.38
49
24.87
197
1940
121 67.60
21
11.73
37
20.67
179
1950
112 80.58
15
10.79
12
8.63
139
TOTAL
331 61.87
86
16.07
118
22.06
515
TOTAL GERAL (MULHER E HOMEM)
1.833
Legenda: ALF=Alfabetizada(o). N/ALF=Não Alfabetizada(o). NI/O=Não Informado ou Outros
FONTE: Fichas de Registro de Empregados das Fábricas Suerdieck (Maragojipe/Cruz das Almas), Pimentel (Muritiba).
5Foram selecionadas estas décadas por apresentarem informações mais uniformes, uma vez que as Fichas de Registro de Empregados das fábricas de charutos foram preenchidas e regularizadas a partir do ano de 1938. Para as décadas de 1910/20, as Fichas apresentam várias lacunas quanto as informações mais específicas das/dos trabalhadoras(es).
Elizabete Rodrigues da Silva
04 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 01-06, jan./jun., 2013.

Tabela 3 - Estado Civil - Mulheres
MULHER
DÉCADA CAS % SOLT % NI/O % TOTAL %
1930 29 5.44 86 16.14 418 78.42 533
1940 68 13.60 258 51.60 174 34.80 500
1950 71 24.91 197 69.12 17 5.97 285
TOTAL 168 12.75 541 41.05 609 46.20 1.318
Legenda: CAS=Casada(o). SOLT=Solteira(o). NI/O=Não Informado ou Outros
FONTE: Fichas de Registro de Empregados das Fábricas Suerdieck Maragojipe/Cruz das Almas), Pimentel (Muritiba).
Tabela 4 - Estado Civil - Homens
HOMEM
DÉCADA CAS % SOLT % NI/O % TOTAL %
1930 42 21.32 57 28.93 98 49.75 197
1940 31 17.32 82 45.81 66 36.87 179
1950 41 29.50 98 70.50 0 0 139
TOTAL 114 22.14 237 46.02 164 31.84 515
TOTAL GERAL (MULHER E HOMEM) 1.833
Legenda: CAS=Casada(o). SOLT=Solteira(o). NI/O=Não Informado ou Outros
FONTE: Fichas de Registro de Empregados das Fábricas Suerdieck (Maragojipe/Cruz das Almas), Pimentel (Muritiba).
Como informa os números acima, do total de 1.318 mulheres registradas nas fábricas de charutos supracitadas, no período de três décadas, apenas 12.75% declararam-se casadas. Assim, as mulheres solteiras na região tinham a primazia numérica em rela-ção às demais. Seguidas, proporcionalmente, dos homens.
É necessário, entretanto, relativizar estes resul-tados, pois nesta época, muitas mulheres eram casa-das “no padre” – expressão usada popularmente para designar o casamento religioso – e, neste caso, elas não eram consideradas, legalmente, casadas. No entanto, conviviam com seus companheiros/cônjuges considerando e absorvendo as mesmas regras de con-vivência conjugal do casamento que ocorria dentro das formalidades oficiais, por este configurar-se como um valor social e moral de alta relevância para aquela soci-edade. Segundo o redator do jornal Correio de são Félix:
Indiscutivelmente, o casamento, nas suas devi-das condições, é uma grande felicidade; é o aurorear de uma nova vida, pontilhada de ter-nuras e esperanças; é a iniciação de uma exis-
tência nova, para novos surtos de trabalho e de fé, para a segurança do futuro, que deve ser a preocupação maiór daqueles que se unem e vão constituir famílias. (DANTAS, 1942, n.º 67).
O casamento civil não era tão comum entre as mulheres das camadas mais baixas daquela popula-ção, por ser distante de sua realidade econômica e soci-al, considerado um ato e um valor da elite motivado por interesses econômicos e sociais. Enquanto que, ser uma mulher solteira não significava apenas aquela que não fosse casada, mas a mulher livre, sem marido e pas-sível de envolvimento em relações amorosas clandesti-nas, situação em que muitas mulheres se encontravam, embora quisessem fugir, pois era um comportamento, radicalmente, rejeitado pelos valores morais daquela sociedade.
Assim, é que o casamento na igreja era entendi-do e vivido por essas mulheres como uma válvula de escape, uma opção para se aproximarem do ideal comum – a convivência conjugal reconhecida – à todas as mulheres daquela época e contexto e de não serem enquadradas na categoria de "solteiras", além do casa-mento religioso ser mais acessível em termos de custos
Mulheres fumageiras do recôncavo baiano: heranças socioculturais
05Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 01-06, jan./jun., 2013.

que o casamento civil.
Enfim, dados referentes ao estado civil, grau de instrução, status econômico e traços étnicos/raciais de uma população tão heterogênea e dinâmica no percur-so de sua história não são, certamente, suficientes para delinear sua identidade sociocultural, mesmo se tratan-do especificamente de uma população de trabalhado-ras/trabalhadores, tampouco determinam, por si só, as origens biossociais desse grupo. Contudo, esses dados, no conjunto, são representativos e permitem uma aproximação do perfil socioeconômico e cultural das mulheres fumageiras do Recôncavo baiano, na pri-meira metade do século XX, que fizeram parte desse cenário e que, certamente, abrigaram a mesma crença subjetiva em uma procedência comum.
REFERÊNCIAS
AZEVÊDO, Eliane S. Populações da Bahia: Genética e História In UNIVERSITAS: Revista de cultura da Uni-versidade Federal da Bahia. N.º 1 (set./dez. 1968). Sal-vador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1968.
BASTIDE, Roger. Brasil, Terra dos Contrastes. Rio de Janeiro: DIFEL (tradução de Maria Isaura Pereira de Queiroz),1980.
BRANDÃO, Maria de Azevedo. Cidade e Recôncavo da Bahia. In BRANDÃO Maria de Azevedo (org.). Recôn-cavo da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador (Ba): Fundação Casa de Jorge Amado; Aca-demia de Letras da Bahia; Universidade Federal da Bahia, 1998.
BRASIL. IBGE. Censo Demográfico: Bahia. Recensea-mento Geral do Brasil, 1940. Rio de Janeiro: 1950 e IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: XX vol. 1958, pp. 95-105.
BRASIL. IBGE, Sinopse do Censo Industrial e do Censo dos Serviços – dados Gerais de 1948. Bra-
sil/IBGE. Rio de Janeiro: 1948. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos/censo_industrial_servicos.pdf. Acesso em 20/11/2009.
BRASIL. IBGE, Sinopse Preliminar do Censo demo-gráfico de 1970: Bahia/IBGE. Rio de Janeiro: 1980.
CASTRO, Anfilófio de. Muritiba: sua história e seus fados 1559 - 1941. Digressões - Notas à Bahia. Bahia: Tipografia Naval, 1941.
MATTOSO, Katia de Queirós. Bahia: Século XIX: uma província no Império. R. J., 1992.
PARÉS, Luis Nicolau. O processo de crioulização no Recôncavo Baiano (1750-1800). Afro-Ásia, n.º 033. UFBA/Bahia: 2005, pp. 87 a 132. Disponível em: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/770/77003304.pdf. Aces-so em: 15/11/2010.
PINTO, L. A. Costa. Recôncavo: Laboratório de uma Experiência Humana. In BRANDÃO, Maria de Azevedo (org.). Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador (Ba): Fundação Casa de Jorge Amado; Academia de Letras da Bahia; Universidade Federal da Bahia, 1998.
SÁ, Osvaldo. Histórias Menores. (Capítulo da História de Maragojipe). Gráfica e Editora ODEAM Ltda. São Félix: 1981.
SCHWARCZ, Lilia Mortz. Nem Preto Nem Branco, Muito Pelo Contrário: Cor e Raça na Intimidade. In NOVAIS, Fernando e SCHWARCZ, Lilia Mortz. Histó-ria da Vida Privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Comp. das Letras, 1998, vol. 4.
SILVA, Elizabete Rodrigues da. Fazer charutos: uma atividade feminina. (Dissertação de Mestrado – FFCH/UFBA). Salvador (Ba): 2001.
ZWEIG, Stefan. Brasil, País do Futuro. Edição eletrô-nica: Ed Ridendo Castigat Mores. Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/paisdofuturo.html#27. Acesso em: 03/01/2011.
FONTES IMPRESSAS
LOCAL MAÇO P/ANO
JORNAL N.º
PUBLICAÇÃO Arquivo Municipal São
Félix -BA 09/08/1942 Correio de São Félix (DANTAS, Pedro J. A família) 67
Arquivo Muni cipal São Félix -BA
10/1990 Jornal da Cidade Edição
Especial
LOCAL DOCUMENTO
Biblioteca da FAMAM (Cruz das Almas -BA)
Fichas de Registro de Empregado da Suerdieck. (1906 a 1998)
Fichas de Registro de Empregado da Empresa C. Pimentel S.A. (1930 a 1988)
Elizabete Rodrigues da Silva
06 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 01-06, jan./jun., 2013.

SCHOPENHAUER E A RECUSA DA RAZÃO COMO FUNDAMENTO DA MORAL
José Clerison Santos Alves*
[...] a ação e o comportamento do homem se diferenciam bastante da ação e do comportamento animal, e como semelhante diferença deve ser vista tão-somente como consequência da presença de conceitos abstratos na consciência.
(Schopenhauer. O Mundo como vontade e representação.)
Neste artigo, mostraremos que, na filosofia de Schopenhauer, não é possível fundamentar a moral a partir da faculdade de razão. Pois a razão, em seu sistema, possui apenas uma função lógica, em outras palavras, ela não tem nada a ver com a moralidade. Nesta medida, apresentaremos a crítica de Schopenhauer ao formalismo da moral kantiana. O filósofo recusa a distinção kantiana entre razão prática e razão teórica, pois, na sua visão, a razão não é uma faculdade do incondicionado, ou seja, ela não pode emitir leis puras para conduzir o agir humano. Na concepção de Schopenhauer, o imperativo categórico não tem poder para fundamentar a moral, pois este, no seu entender, se apoia em meros conceitos abstratos e vazios de conteúdo. À diferença de Kant, o filósofo sustenta que a moral precisa ter uma base empírica.
Palavras-chave: Entendimento. Razão. Vontade. Moral. Liberdade. Compaixão.
In this article, we show that, in the philosophy of Schopenhauer, cannot justify the moral from the faculty of reason. For reason, in his system, has only one logical function, in other words, it has nothing to do with morality. To this extent, we present Schopenhauer's criticism of Kantian moral formalism. The philosopher refuses the Kantian distinction between practical reason and theoretical reason, because, in his view, the reason is not a faculty of the unconditioned, that is, it cannot issue laws to conduct pure human action. In Schopenhauer's view, the categorical imperative has no power to support the morale, because this, in his view, rests on mere abstract concepts and empty of content. Unlike Kant, the philosopher argues that morality must have an empirical basis.
Keywords: Understanding. Reason.Will. Moral. Freedom. Compassion.
*Mestre em Filosofia (Universidade Federal da Bahia); Professor da Faculdade Maurício de Nassau e da Academia de Polícia Militar da Bahia. E-mail: [email protected]
INTRODUÇÃO
No prefácio de O Mundo, Schopenhauer eviden-cia que a sua filosofia é a expressão de um pensamento único no que concerne à Ética, à Estética e à Metafísica. Para o filósofo, todas as partes conservam a unidade desse pensamento único, em outras palavras, há uma espécie de coesão orgânica entre as partes (SCHOPENHAUER, 2005, p. 19-20). Ademais, mesmo que cada parte seja visivelmente independente, cada uma resguarda a expressão do todo. No livro IV de sua obra magna, o filósofo desenvolve a sua ética não pres-critiva. Para isso, ele se recusa a tomar como ponto de partida uma metafísica no sentido dogmático, como tam-bém, rejeita a distinção kantiana de razão prática e razão teórica. Além disso, Schopenhauer afirma que a filosofia possui um caráter puramente teórico. Vejamos isso, em suas palavras:
A filosofia nada mais pode fazer senão interpre-tar e explicitar o existente, a essência do mundo – que se expressa de maneira compre-ensível in concreto, isto é, como sentimento de cada um – e trazê-la ao conhecimento distinto e abstrato da razão, em todas as suas relações possíveis e em todos os pontos de vista. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 354)
Segundo Schopenhauer, a abordagem filosófica será sempre abstrata, pois a própria filosofia é a expres-são de um esforço contínuo para interpretar e explicitar o mundo e as coisas por meio dos conceitos abstratos da razão, levando sempre em consideração todas as suas relações possíveis. Partindo desse ponto de vista puramente abstrato da filosofia, no que tange à expres-são da existência das coisas, vê-se que a abordagem filosófica da ética schopenhaueriana possui um cunho estritamente abstrato, e, por esse motivo, não pode ser
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

prescritiva. Na concepção do filósofo, para tratar da ética não é necessário ser bom, virtuoso e dotado de uma consciência que julgue certos casos com rigor, mas apenas ter condições “de fundamentar filosofica-mente e expor in abstracto o significado moral das ações”(SCHOPENHAUER, 2005, p. 317). Nesta medi-da, o filósofo apresenta o lema: “Pregar a moral é fácil, fundamentar a moral é difícil”. O mais importante na ética schopenhaueriana é inquirir¹, não prescrever. Em suas palavras, podemos ver isso da seguinte forma:
[...] toda filosofia é sempre teórica, já que lhe é sempre essencial manter uma atitude pura-mente contemplativa, não importa o quão pró-ximo seja o objeto de investigação, e sempre inquirir, em vez prescrever regras. Tornar-se prática, conduzir a ação, moldar o caráter: eis aí pretensões antigas que uma intelecção mais perspicaz fará por fim a filosofia abandoná-las. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 353)
Como vimos nos capítulos anteriores, “todo valor do conhecimento abstrato reside sempre na sua refe-rência ao conhecimento intuitivo” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 139). Neste sentido, devemos levar em consi-deração que o conhecimento imediato e intuitivo, que dá origem à virtude e à negação da vontade, é diferente do conhecimento mediato e abstrato que é produzido pela razão. A distinção entre conhecimento intuitivo e conhecimento abstrato é fundamental para que possa-mos compreender o modus operandi da ética schope-nhaueriana. No Livro I de O Mundo, Schopenhauer, ao tratar da ética estoica (Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 148), sustenta que o mais importante é que a filosofia transfira o conceito para a vida e não a vida para o con-ceito (Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 147).
Na filosofia de Schopenhauer, o domínio ético se iguala ao estético. Aqui, as regras prescritivas e o pen-samento conceitual não são o que nela há de essencial. Neste sentido, não podemos ensinar a virtude e nem a genialidade. Na visão do filósofo, assim como o concei-to é infrutífero para a virtude, ele também o é para a arte. Depreenda-se daí, que, na perspectiva do autor de O Mundo, os nossos sistemas morais religiosos e a nossa ética não podem produzir homens virtuosos, nobres e santos e nem a nossa estética pode produzir poetas, pin-tores e músicos (Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 353-354).
No sistema de Schopenhauer, o problema do conhecimento está, mais do que em qualquer outro sis-tema filosófico, estritamente vinculado ao problema do valor. Por sua própria constituição basilar, a filosofia schopenhaueriana atrela o problema da essência ao problema do valor (Cf. CASSIRER, 1957, p. 522). Aqui, a ética funciona como uma espécie de farol que serve
para iluminar os caminhos percorridos pela metafísica, ao passo que recebe desta a plena claridade acerca dos seus próprios fundamentos últimos. Ademais, essa interdependência está presente em todas as partes da filosofia schopenhaueriana: “Sua ação determinante se estende à teoria do conhecimento, cuja orientação é, em aparência, puramente teórica” (CASSIRER, 1957, p. 522).
É importante destacar que a filosofia de Schope-nhauer não recebe seus maiores impulsos da simples intuição do ser do mundo, mas sim da experiência do sofrimento que encontramos nele. De acordo com o filó-sofo, o ponto de partida do problema filosófico e de sua resolução não pode ser encontrado numa dúvida lógica ou em uma certeza lógica mediata, senão na certeza verdadeiramente imediata do mal físico e moral do pró-prio mundo. Segundo Schopenhauer, a solução para o problema filosófico só será encontrada a partir do momento em que compreendermos, claramente, que o mundo não é uma manifestação de um Deus – uma teo-fania – e sim uma manifestação e obra de uma vontade cega de viver. Nas palavras de Schopenhauer, vemos da seguinte maneira: “Se o mundo é uma teofania, então tudo que faz o homem, e faz o animal, é divino e excelente: nada se pode censurar e nada se pode elogi-ar frente à outra coisa: assim, não temos ética alguma” (SCHOPENHAUER, 1958, p. 646).
No livro I de O Mundo, é possível notar que Scho-penhauer apresenta uma concepção “instrumental” da faculdade de razão (Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 141). Para ele, a razão é uma faculdade que possui ape-nas uma função lógica, uma vez que ela produz apenas os conceitos abstratos (as representações abstratas), que, unidos à linguagem, servem tão somente para fixar o conhecimento que a fugacidade do tempo deixaria escapar. Enquanto Kant pensa a faculdade de razão como uma faculdade legisladora de imperativos morais para as ações, em Schopenhauer, a razão responde apenas pelo aspecto lógico e teórico no que concerne ao campo dos fenômenos. Aqui, o uso prático da razão diz respeito apenas à técnica, e, consequentemente, não poderá ter um uso moral. Podemos notar esta mesma percepção em Sílvia Faustino, quando escreve:
Agir racionalmente significa, para Schopenha-uer, simplesmente agir conforme leis da lógica, utilizando conceitos gerais e guiando-se por representações abstratas – nada a ver, portan-to, com a moralidade. Nenhuma decisão moral tem valor intrínseco, já que esta pode ser tanto boa quanto má e servir tanto aos virtuosos quanto aos malvados e injustos. (FAUSTINO, 2007, p. 259)
Toda obra da razão e dos conceitos abstratos
¹A novidade da ética de Schopenhauer consiste na sua proposta de ser uma ética de cunho “descritivo”. As éticas anteriores a dele – a ética aristotélica das virtudes e a ética cristã – eram “normativas”, pois acreditavam que a virtude poderia ser ensinada e que também era possível prescrever normas morais para conduzir as ações humanas. Para Schopenhauer, a “virtude” não pode ser ensinada.
José Clerison Santos Alves
08 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

não nos leva, em última análise, para além do conheci-mento de determinadas relações do real (que são pro-duzidas pela ação do princípio de razão suficiente), mas sem dizer e nem determinar o que o real é em sua ver-dadeira essência. Para Schopenhauer, o núcleo da natureza é o coração do ser humano: só a nossa própria experiência interior, em que nos conhecemos, não como entes que consideram e julgam, que arguem e deduzem, mas sim como seres dotados de vontade, nos entrega a chave para todos os problemas da física e da metafísica. Trata-se, neste sentido, de uma expe-riência fundamental, que não nos limita a captar a essência, simplesmente, pensando-a e, portanto, de fora. É a partir dessa experiência singular que, em certa medida, podemos captar diretamente o que realmente somos. É aqui que podemos descobrir, em partes, a solução do mistério.
Schopenhauer postula que a vontade é o subs-trato de todo fenômeno. Para o filósofo, a vontade meta-física possui em si mesma um caráter moral. Porém, isso não significa dizer que a vontade metafísica possa ser considerada como uma espécie de agente moral concebido desde o paradigma da vontade humana. Aqui, a vontade humana concerne apenas ao grau supe-rior de objetivação da vontade. Neste sentido, ela coin-cide com a vontade moral. Contudo, essa coincidência não deriva diretamente da sua condição humana, mas apenas do fato de ser vontade. Segundo Schopenhau-er, o homem é o mais alto grau de objetivação da vonta-de porque nele a vontade se manifesta de forma mais clara e adequada. Ora, o que o fenômeno humano ofe-rece de mais distintivo em relação aos outros fenôme-nos naturais? Para o filósofo, a faculdade de razão é a causa dessa distinção.
Na filosofia de Schopenhauer, a faculdade de razão não pode dar conta da privilegiada adequação do fenômeno humano a uma vontade que é, por natureza, irracional. Essa adequação tem sua raiz, mais precisa-mente, em algo que a faculdade de razão não origina, e sim condiciona: a moralidade. Na concepção do filóso-fo, a razão, de forma alguma, pode ser considerada como a fonte da moralidade, em outras palavras, não é possível extrair a moral da razão. Segundo Schopenha-uer, a razão condiciona a moralidade na medida em que ela proporciona ao homem a percepção do passado e do futuro, que carece o animal, tornando possível a pos-sibilidade de negar ou afirmar a vontade. Aqui, pode-mos encontrar o núcleo e a base de todo comportamen-to moral. Sendo assim, é possível afirmar que o caráter privilegiado do homem em relação aos mais variados fenômenos naturais não estriba na sua simples raciona-lidade, e sim na própria possibilidade de negar ou afir-mar o substrato de toda realidade: a vontade.
O aspecto mais singular do fenômeno humano não reside na capacidade de produzir as representa-ções abstratas, senão na constatação de que nele se manifesta o caráter moral da vontade metafísica. Além disso, o reconhecimento de que este fenômeno não pode manifestar-se em outros graus de objetivação, por carecer das condições necessárias para isso, contribui, ainda mais, para fortalecer essa perspectiva. O caráter moral da vontade se manifesta no homem; mas não em suas ações, que são meramente fenomênicas, e, por conseguinte, moralmente neutras, mas sim em um único e milagroso acontecimento por meio do qual a liberdade da vontade se manifesta no fenômeno, a saber: a abnegação. A moralidade, no sistema de Scho-penhauer, não é uma característica exclusiva da vonta-de humana. Neste sentido, não queremos dizer que a vontade se torne moral no homem, já que, como vimos anteriormente, o fenômeno humano, por causa de suas particularidades, não consegue dar conta da moralida-de como tal, mas apenas de uma moralidade conscien-te. Enquanto a moralidade comumente pensada tem por fundamento a racionalidade, a moralidade consci-ente consiste em ver o mundo numa perspectiva corre-ta, em outras palavras, na constatação de que a moral não pode ter a racionalidade por fundamento.
Na filosofia de Schopenhauer, a ética se nos apre-senta como a máxima expressão do seu pensamento. Pois, para o filósofo, ela é a chave para a solução do enigma do mundo. Segundo Schopenhauer, a ética des-critiva expressa, com uma maior clareza possível, esse “quê” do mundo procurado pela filosofia. Porém, isso não significaria atribuir a todos os fenômenos naturais um caráter moral. Seria absurdo, com efeito, qualificar de moral a caída de uma folha seca. Não menos absur-do seria, dentro da perspectiva da filosofia schopenhau-eriana, considerar a ação humana como tal. No enten-der de Schopenhauer, as ações humanas são, assim também como os fenômenos naturais, incapazes de moralidade. A moralidade do homem não reside em suas ações propriamente ditas, mas apenas em sua essência: a vontade. Aqui, a mesma vontade que cons-titui a essência da força natural que origina a caída de uma folha seca é também aquela que produz a ação humana. Para Schopenhauer, não podemos conferir moralidade nem às ações e nem à razão, mas apenas à vontade².
Na concepção de Schopenhauer, o mundo e nossa própria existência aparecem necessariamente como enigmas, precisamente, porque a essência interior e originária do mundo não é racional; de qualquer manei-ra, o mundo, não é, em todo caso, absolutamente trans-parente à nossa razão. Neste sentido, o desafio é aceitar a finitude da razão e levar em consideração a impossibili-
²Em Schopenhauer, o significado da ética estriba, em última instância, no caráter intrinsicamente moral que adquire a vontade em seu sistema. Em suma: a vontade moral corresponde à mesma vontade metafísica. Mas, para o filósofo, a vontade metafísica, no que tange à questão da moral, adota um caráter muito particular, a saber: a maldade.
Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral
09Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

dade de oferecer soluções definitivas para os proble-mas. Para o filósofo, fazer filosofia é também aprender a viver sem respostas últimas. Schopenhauer expõe o ver-dadeiro sentido do filosofar com a seguinte passagem com que abre o segundo volume de O Mundo:
No espaço infinito existem inúmeras esferas luminosas, em torno de cada uma delas gira aproximadamente uma dúzia de outras meno-res iluminadas por elas, e, que, quentes em seu interior, estão cobertas de uma crosta sólida e fria sobre a qual uma capa tem engendrado seres viventes e cognoscentes: esta é a verda-de empírica, a realidade, o mundo. Mas para um ser pensante é uma situação penosa encontrar-se numa daquelas inumeráveis esfe-ras que flutuam livremente no espaço infinito, sem saber de onde vem e nem aonde vai, e ser nada mais do que um dos inumeráveis seres semelhantes que se amontoam, se agitam e se atormentam, nascendo e perecendo rapida-mente e sem trégua dentro do tempo sem come-ço e sem fim: nada há ali de permanente, somente a matéria e a repetição da mesma vari-edade de formas orgânicas através de vias e canais inalteráveis. (SCHOPENHAUER, 1958, p. 03)
Com esta passagem, podemos notar que Scho-penhauer escancara o abismo que revela a falta de sen-tido da vida humana. Essa explícita ausência de uma teleologia em sua filosofia é o background da sua con-cepção de razão. Desprezando o reino dos fins, alicerce de muitos sistemas morais, Schopenhauer propõe uma nova forma de pensar a ética, na medida em que não pode aceitar que o eu – enquanto núcleo essencial do ser humano – seja assimilado ao intelecto, entendimen-to ou razão (Cf. FAUSTINO, 2007, p. 260). Com isso, temos aqui a noção de uma subjetividade na qual o inte-lecto não se define como parte essencial do eu. Pois, para o filósofo, o ser humano, em sua essência, é pura vontade. De forma curiosa, no segundo volume de O Mundo, Schopenhauer compara o intelecto com um parasita que habita o corpo (Cf. SCHOPENHAUER, 1958, p. 201). Aqui, temos a imagem de um intelecto que parece surgir mais como um acidente em nossa consciência. Todas as funções orgânicas do nosso cor-po, como também a nossa consciência de modo geral, se nos apresentam como condicionadas por uma von-tade inconsciente e indestrutível.
Na filosofia de Schopenhauer, o conhecimento é reduzido apenas a uma função puramente biológica, ou seja, ele é o instrumento para os impulsos imperativos da vida. Ele indica a estes impulsos os estímulos e os obstáculos; ilumina o caminho que estes precisam seguir para alcançar seu fim determinado; e, por último, como conhecimento racional abstrato, dá a escolher entre diversas “possibilidades” e mune a vontade dos
motivos para essa opção (Cf. CASSIRER, 1957, p. 501). Em suma, todo conhecimento empírico sofre a ação imperativa de vontade, como ressalta Ernst Cassi-rer, até mesmo a ciência, que representa uma das mais altas funções teóricas, aqui, se revela como sujeita aos impulsos e decisões da vontade (Cf. CASSIRER, 1957, p. 501).
No entender de Schopenhauer, a estrutura de toda teoria está secretamente condicionada e domina-da pela “ditadura” da vontade. Nesta medida, até mesmo a ética está sujeita aos seus comandos impera-tivos. Para Schopenhauer, o significado da epistemolo-gia e da metafísica é valorizado apenas na perspectiva em que se vincula a uma análise e solução do problema da moral, que, para ele, é por excelência o problema de toda a filosofia. Como Oscar Damm bem coloca, o cen-tro de gravidade de todo o sistema de Schopenhauer encontra-se em sua ética (Cf. TSANOFF, 1910, 512).
A CRÍTICA DE SCHOPENHAUER À MORAL KANTIANA
Para que possamos compreender a crítica de Schopenhauer à fundamentação racional da moral, faz-se necessário realizar uma passagem pela ética kantia-na. Schopenhauer se considerou um verdadeiro segui-dor da filosofia kantiana, e, em determinados momen-tos, chamou a si mesmo de kantiano. Contudo, a sua fidelidade à herança kantiana não se estende à ética de Kant. Ao contrário da filosofia teórica de Kant, a qual Schopenhauer via como expressão dos maiores insights que já foram produzidos pela mente humana, ele considerou a filosofia prática de Kant como uma ver-dadeira catástrofe intelectual. Para o filósofo, essa catástrofe foi produto do amor de Kant pela simetria arquitetônica, do temor adquirido pela crescente repu-tação filosófica e dos efeitos debilitantes da velhice (Cf. SCHOPENHAUER, 2001, p. 19-22).
No escrito Sobre o Fundamento da Moral de (1840), não premiado pela Real Sociedade Dinamar-quesa³, Schopenhauer evidencia a necessidade de pri-meiro expor e criticar a moral kantiana, como uma espé-cie de preparação para desenvolver o seu raciocínio. Nesta medida, o filósofo afirma a sua intenção: “[...] declaro francamente minha intenção de demonstrar que a Razão Prática e o imperativo categórico de Kant são suposições injustificadas e inventadas para provar que também a ética de Kant carece de um fundamento sólido” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 16). É importante levar em consideração que, nesta obra em particular, Schopenhauer realiza sua crítica à moral kantiana sem fazer uso de sua metafísica da vontade. Neste escrito, o
³Por causa das inúmeras ofensas dirigidas a Hegel e a outros filósofos, a Real Sociedade Dinamarquesa se recusou a premiar o escrito de Schopenhauer.
José Clerison Santos Alves
10 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

filósofo se debruça, de forma analítica, sobre o proble-ma que envolve o verdadeiro fundamento da moral. Também na Crítica da filosofia kantiana, obra que foi publicada como apêndice ao O Mundo como vontade e representação, Schopenhauer não recorre à sua meta-física da vontade para solapar a ética kantiana.
Schopenhauer reserva um terço da obra Sobre o fundamento da moral para expor, de forma detalhada, sua crítica à moral kantiana. No primeiro momento, o filó-sofo reconhece a grande contribuição de Kant no que se refere a uma suposta fundamentação de uma ética não dogmática. No entender de Schopenhauer, a moral kantiana estava à frente das demais de sua época. Ao questionar a fundamentação kantiana da moral, Scho-penhauer pretendia também refutar toda moral produzi-da na sua época, e, de modo particular, a que estava em voga na Alemanha, a saber: a moral dos pós-kantianos. No segundo momento, o filósofo apresenta a sua moral como diametralmente oposta à moral kantiana, mos-trando que há uma diferença basilar no que concerne ao fundamento de sua ética frente ao fundamento da ética kantiana.
Partindo de uma visão antiformalista da ética, Schopenhauer argumenta que a ética kantiana começa com um passo em falso, pois, na visão dele, Kant assu-me uma concepção controversa de ética quando afir-ma: “Numa filosofia prática não se trata de dar funda-mentos daquilo que acontece, mas leis daquilo que deve acontecer, mesmo que nunca aconteça” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 20-21). Para o filósofo, Kant falhou na justificação dessa afirmação, e, por esse motivo, ela pode ser considerada como uma decisiva “petitio principi” (Cf. SCHOPENHAUER, 2001, p.23). Schopenhuaer questiona:
Quem nos diz que há leis às quais nossas ações devem submeter-se? Quem vos diz que deve acontecer o que nunca acontece? O que vos dá direito de antecipá-lo e logo impor uma ética na forma legislativo-imperativa como a única para nós possível? Digo, contrapondo-me a Kant, que em geral tanto o ético quanto o filósofo têm de contentar-se com a explicação e com o esclarecimento do dado, portanto com o que é, com o que acontece realmente, para che-garem ao seu entendimento, e que eles aí têm muito que fazer, muito mais do que foi feito d e s d e h á s é c u l o s a t é h o j e . (SCHOPENHAUER, 2001, p 23)
O filósofo da vontade discorda de Kant quando este afirma, no prefácio da Fundamentação da Metafísi-ca dos Costumes, que existem leis morais puras (Cf. KANT, 1974, p. 200-201). Ora, por que Schopenhauer não aceita a afirmação do seu mestre sobre a existência de leis morais puras? Porque, para ele, o conceito de uma lei nos remete à lei cívil (“lex”): “uma instituição humana que repousa no a rb í t r i o humano” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 23). Além disso, o concei-
to de lei, quando aplicado à natureza, ganha um caráter metafórico, pois uma parte dos modos de proceder dela é conhecida a priori e outra é apreendida a posteriori. Esses modos de proceder da natureza são mantidos sempre de forma constante, e, por esse motivo, “nós os chamamos metaforicamente de leis da natureza” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 23-24).
Para Schopenhauer, só uma pequena parte des-sas leis da natureza pode ser vista a priori. Na concep-ção do filósofo, essa pequena parte fora reunida por Kant, de modo perspicaz, sob o nome de Metafísica da Natureza. Segundo ele, também, a vontade humana se nos apresenta como submetida a uma lei, a saber, a lei da motivação: a motivação é uma forma da lei de causa-lidade, isto é, “uma causalidade mediada pelo conheci-mento” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 23-24). Sendo o homem parte da natureza, a vontade humana estará condicionada a uma lei: “[...] uma lei estritamente demonstrável, inviolável, sem exceções, irrevogável, que não traz consigo uma necessidade “vel quasi” (de uma certa maneira) como imperativo categórico, mas uma necessidade efetiva” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 23-24).
Segundo Schopenhauer, toda ação só acontece na condição de consequência de um motivo suficiente (Cf. SCHOPENHAUER, 2001, p. 23-24). A lei da moti-vação, a qual está submetida à vontade humana, é uma lei da natureza. Neste sentido, a lei da motivação é necessária por si mesma, pois é possível dar provas de sua existência. Em contrapartida, as leis morais, para Schopenhauer, não são necessárias por si mesmas, uma vez que elas encontram suas referências nas dou-trinas religiosas ou nas instituições estatais. Por esse motivo, as leis morais “não podem ser admitidas como existentes sem prova” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 23-24). Schopenhuaer sustenta que Kant, na Fundamenta-ção da Metafísica dos Costumes, ao argumentar que a lei moral deve trazer consigo uma espécie de necessi-dade absoluta comete uma “petitio principii”. O filósofo pergunta:
Como se pode falar de necessidade absoluta para estas supostas leis morais – como, por exemplo, ele cita o “tu não deves ('sollt') mentir” – já que elas, reconhecidamente e como ele mesmo garante, na maioria das vezes e mesmo via de regra, não têm êxi to? (SCHOPENHAUER, 2001, p. 24)
Schopenhauer se recusa a admitir a existência de uma necessidade absoluta para as leis morais. O filó-sofo argumenta que Kant, no prefácio da Fundamenta-ção da Metafísica dos Costumes, tenta justificar uma absoluta necessidade de leis morais, dando como exemplo o comando: “tu não deves mentir” (Du sollt nicht lügen). Schopenhauer percebe que o comando kantiano “Du sollt” (tu deves) encontra sua origem na ética teológica, mais precisamente, nos dez manda-
Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral
11Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

mentos do Decálogo Mosaico. Na visão de Schope-nhauer, quando Kant utiliza, de forma ingênua, a tradu-ção arcaica do alemão para o “Du sollt” e não a forma padrão “Du sollst” ele deixa transparecer claramente a influência teológica em sua ética (Cf. JANAWAY, 1999, p. 255-256). Para Schopenhauer, Kant segue inconsci-entemente uma tendência de, após anos de filosofia atrelada ao cristianismo, levar os postulados teológicos para dentro da ética filosófica.
Na perspectiva do filósofo da vontade, o grande problema da ética teológica reside na sua essência “di-tatorial”. Neste campo, a ética é movida por comandos categóricos, que, internamente, representam a “vonta-de de Deus”. Na visão de Schopenhauer, a ética filosófi-ca deve colocar essa concepção de ética à prova. No entender dele, Kant falhou quando tentou justificar a sua concepção de ética. Schopenhauer argumenta que Kant, ao vincular a ética à lei, acaba se colocando numa situação delicada, uma vez que este rejeita a teo-logia como base da moralidade. Schopenhauer concor-da com a afirmação kantiana de que a ética é distinta e independente da teologia, mas argumenta que essa afir-mação implica numa constatação de que a ética filosófi-ca é também independente dos conceitos morais teoló-gicos.
Kant utiliza os conceitos teológicos como “lei moral”, “comando”, “dever” e “obrigação” em sentido categórico. No entanto, Schopenhauer afirma que esses conceitos precisam de um contexto teológico para fazer sentido. Por exemplo, o comando “tu não deves mentir” (Du sollt nicht lügen) pressupõe a exis-tência de um comandante para que possa ser conotati-vamente efetivo, isto é, ele deve ser imaginado como dotado de uma força interna para que possa ser execu-tado mediante uma punição ou uma recompensa. Den-tro de um contexto teológico, Deus serve como coman-dante. Ao rejeitar o contexto teológico, Kant termina por solapar os conceitos básicos de sua moral. De acordo com Schopenhauer, quando esses conceitos são sepa-rados do contexto teológico, local de onde eles vieram, eles perdem todo o significado.
Cacciola, em sua obra Schopenhauer e a Ques-tão do Dogmatismo, ressalta que o criticismo de Kant, na visão de Schopenhauer, teria perdido sua força inici-al na segunda edição da Crítica da Razão Pura. Segun-do ela, o filósofo acusa Kant de uma espécie de “recaí-da no dogmatismo” (Cf. CACCIOLA, 1997, p. 20). Essa “recaída”, na concepção dele, trata-se de uma brecha que Kant teria deixado em sua própria filosofia, na pers-pectiva de atenuar o confronto entre a filosofia e a teolo-gia, que, por sua vez, terminou permitindo a entrada dos postulados teológicos. É na ética de Kant que, segundo Schopenhauer, essa “recaída” fica mais evidente, pois ele acolhe os postulados teológicos: Deus, imortalidade da alma e liberdade (Cf. CACCIOLA, 1997, p. 20).
No entender de Schopenhauer, Kant, na Crítica
da Razão Pura, não soube definir rigorosamente a essência do entendimento e da razão. Na Crítica da filo-sofia kantiana, o filósofo apresenta vários trechos da Crí-tica da Razão Pura que, na sua visão, demostram a difi-culdade de Kant em determinar, de modo preciso, a essência do entendimento e da razão. Schopenhauer afirma que “Kant nunca chegou a distinguir claramente o conhecimento intuitivo do conhecimento abstrato” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 542). Ora, por que o autor de O Mundo considera tão importante a apresentação de uma definição concisa dessas duas faculdades do conhecimento? Podemos obter uma resposta a partir da seguinte passagem:
[...] se Kant [...] tivesse investigado seriamente em que extensão se dão a conhecer essas duas faculdades diferentes de conhecimento, uma das quais é distintiva da humanidade, e o que, conforme o uso linguístico de todos os povos e filósofos, se chama razão e entendi-mento não teria dividido a razão em prática e em teórica, sem outra autoridade de senão o intellectus theoreticus e praticus dos escolásti-cos (que usam os termos em sentido totalmen-te diferente) e jamais teria feito da razão prática a f o n t e d a s a ç õ e s v i r t u o s a s . (SCHOPENHAUER, 2005, p. 542)
A falta de uma definição precisa das duas facul-dades do conhecimento (entendimento e razão), na perspectiva do filósofo, causou algumas falhas na teo-ria kantiana da representação. Além disso, “este erro de Kant teria acarretado, segundo Schopenhauer, graves consequências no domínio da moral” (CACCIOLA, 1997, p. 95-96). A distinção kantiana entre razão prática e razão teórica, para o autor de O Mundo, é uma prova viva do erro que foi cometido por Kant: a razão prática acabou se misturando com a razão teórica, transfor-mando-se assim, numa espécie de órgão capaz de cap-tar o Absoluto. Neste sentido, na concepção de Schope-nhauer, a filosofia se tornou vulnerável aos postulados teológicos, passando com isso a ser uma ancilla theolo-giae.
Schopenhauer concentra a força do seu ataque no núcleo da filosofia transcendental, a saber: na con-cepção de razão. Na visão do filósofo, a distinção kanti-ana entre as aplicações teóricas e práticas da razão fez com que a própria razão esquecesse os limites que ela mesma se impôs no campo teórico, tornando-se, com isso, no domínio prático, a porta de entrada dos pressu-postos teológicos. Assim, sustenta Cacciola:
É no próprio núcleo da filosofia transcendental, na concepção de razão, que Schopenhauer localiza o germe que teria sido responsável pelo retorno ao dogmatismo. A saber, esta razão, investida do poder de, a partir de si mes-ma, produzir ideias e buscar legitimamente o incondicionado, teria de certo modo, “esqueci-do” as limitações que ela mesma se impôs no domínio teórico, transformando-se, no interes-
José Clerison Santos Alves
12 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

se prático, na fonte de uma causalidade por liberdade, donde emanaria um dever moral a b s o l u t o , o i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o . (CACCIOLA, 1997, p. 20)
Na perspectiva de Schopenhauer, Kant não soube definir, de modo preciso, o que é a razão nem na primeira e nem na segunda crítica. Na Crítica da razão pura, Kant apresenta sete definições da faculdade de razão: 1. Faculdade dos princípios a priori; 2. Faculdade dos princípios em oposição ao Entendimento; 3; Facul-dade de inferir; 4. Condição permanente de todas as ações arbitrárias; 5. Condição de prestar conta das afir-mações; 6. Faculdade de unir os conceitos do entendi-mento em ideias; 7. Faculdade de deduzir o particular do universal. Na visão de Schopenhauer, Kant demons-tra, com todas essas definições da faculdade de razão, a sua dificuldade em determinar com precisão o que é a razão. Na concepção do filósofo, Kant não consegue determinar uma única definição da faculdade de razão. Com isso, no entender dele, surge também uma dificul-dade de expor a característica essencial desta faculda-de.
Em meio às sete definições da faculdade de razão encontradas na primeira crítica, Schopenhauer afirma, nos Manuscritos Póstumos, no texto Zu Kant (1982), que Kant deriva a razão pura prática da primeira definição, a saber: faculdade dos princípios a priori. Na perspectiva de Kant, para que o conhecimento das ações éticas tenha um caráter universal, ele não pode ter uma origem empírica, e, por conseguinte, deve deri-var da razão. Aqui, a faculdade de razão determina a pri-ori os princípios. Para Kant, a razão apresenta-se como prática quando realiza o mesmo procedimento do conhecimento teórico. Nesta medida, da mesma forma que a razão determina os objetos da experiência no seu uso teórico, ela também determina os objetos no seu uso prático, ou seja, ela apresenta leis para as ações.
Kant define a razão teórica como a faculdade dos princípios a priori, e, além disso, estende essa definição à razão prática. Entretanto, ao reservar um uso puro prá-tico para razão, na visão do filósofo, ele não leva em con-sideração as diferenças basilares entre o conhecimento teórico e o prático. Schopenhauer acredita que o conhe-cimento teórico e o conhecimento prático são bem dis-tintos, em outras palavras, cada um responde por uma jurisdição em particular. Para Kant, todo conhecimento teórico é produzido pelo uso teórico da razão; mas uso teórico e uso prático também são distintos por jurisdi-ções particulares. Contudo, parece que Schopenhauer concebe essa distinção de uma forma diferente, em outras palavras, de um modo mais radical. Essa querela surge a partir do momento em que Schopenhauer dife-rencia o processo de determinação de princípios a priori para os objetos da natureza do processo de determina-
ção de princípios para o agir. Pois, para ele, a razão não pode ser responsável por realizar esses dois processos de forma igualmente pura e a priori. Em suma, o proble-ma é que Kant chancela o conhecimento teórico e ético com o mesmo sinal de universalidade e necessidade, porém, no entender de Schopenhauer, ele não leva em consideração que a necessidade das formas dessas duas instâncias do conhecimento é de natureza diver-sa. Cacciola sustenta: “Schopenhauer discorda de que, no domínio teórico e também no domínio prático tenha-mos uma mesma faculdade exercendo funções diver-sas” (CACCIOLA, 1997, p. 150).
Com se sabe, o sujeito kantiano do conhecimen-to é composto pelas formas e pelos conceitos a priori que, por sua vez, são a condição de possibilidade dos objetos na experiência. É importante salientar que a dimensão incondicional das formas a priori da razão teó-rica diz respeito apenas ao modo como os objetos devem aparecer a nós. Aqui, a necessidade da dimen-são apriorística da razão teórica mostra-se apenas na experiência, como também, apenas a ela se refere. As formas a priori presentes na sensibilidade e no entendi-mento do sujeito transcendental produzem uma neces-
4sidade do müssen (ter de), e é por meio dela que opera a razão teórica.
A lei moral que acompanha a razão prática pos-sui uma incondicionalidade diferente da incondicionali-dade da razão teórica. O müssen (ter de) que acompa-
5nha a razão teórica é diferente do sollen (dever) que acompanha a razão prática. Diferentemente do müssen da razão teórica, o sollen da razão prática representa a lei não do que acontece efetivamente, mas sim do que deve (soll) acontecer. Desta forma, é possível notar que a necessidade que envolve a razão teórica é diferente da necessidade que envolve a razão prática. Por esse motivo, para Schopenhauer, elas não podem derivar de uma mesma faculdade, uma vez que uma instaura o müssen e a outra o sollen.
Schopenhauer ressalta, em diversas partes dos seus escritos, que Kant prestou um serviço imortal à filo-sofia quando apresentou a distinção entre o a priori e o a posteriori em sua filosofia teórica. Mas, para o filósofo, o grande problema de Kant, no que concerne ao proble-ma da moral, foi o de ter utilizado a sua célebre distinção entre o a priori e o a posteriori, como uma espécie de médico que oferece o mesmo medicamento para todas as enfermidades, para fazer com que a faculdade de razão pudesse oferecer leis puras para o nosso agir. Schopenhauer condena, de forma enérgica, a assertiva kantiana de um fundamento a priori para as ações huma-nas. Nas palavras de filósofo, vemos da seguinte forma:
Desde que Kant transpôs o método que ele tinha aplicado de modo tão feliz na filosofia teó-rica para a filosofia prática, tendo querido sepa-
4 O verbo “müssen” se refere á uma necessidade (necessidade absoluta): “Es ist ein Mus” (tem de ser). 5 O verbo “sollen” se refere a um dever (sem necessidade absoluta): “Was soll ich tun” (que devo fazer).
Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral
13Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

rar aqui o puro conhecimento a priori do empíri-co a posteriori, admitiu que, do mesmo modo que conhecemos a priori as leis do espaço e do tempo e da causalidade, também, ou de modo análogo, o fio de prumo moral para o nosso agir nos é dado antes de toda experiência e se exte-rioriza como imperativo categórico, como deve absoluto. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 35)
Na filosofia de Kant, a razão recebe o nome de prática quando se move para produzir um raciocínio que desenvolva uma lei para a vontade: o imperativo categórico é a lei que emana desse processo realizado pela razão: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei uni-versal” (KANT, 1974, p. 223). Aqui, na perspectiva kan-tiana, podemos encontrar a origem da moralidade. Não obstante, Schopenhauer acusa a moral kantiana de for-malista partindo da constatação de que “só lhe restou assim, como matéria (Stoff) desta lei, sua própria forma. Esta não é senão a sua legalidade. A legalidade consis-te em valer para todos, portanto, a sua universalidade” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 49). Schopenhauer con-sidera que uma operação puramente intelectual – o imperativo categórico – não tem poder suficiente para fundamentar a moral, uma vez que esta se distancia do real, ou seja, da realidade empírica. Em síntese, na con-cepção do autor de O Mundo, não podemos fundamen-tar a moral a partir de meras combinações conceituais produzidas pela razão. Vejamos isso, em suas pala-vras:
Combinações artificiais de conceitos de qual-quer espécie não podem nunca, quando se leva a sério o assunto, conter o verdadeiro impulso para a justiça e a caridade. Este tem, antes, de ser algo que exige pouca reflexão, ainda menos abstração e combinação, algo que, sendo independente da cultura do intelec-to, fale a todo homem, mesmo ao mais tosco, repousando meramente na apreensão intuitiva e impondo-se imediatamente a partir da reali-dade das coisas. Enquanto a ética não tiver um fundamento desta espécie para apresentar, ela pode promover-se, disputar e exibir-se nos auditórios, mas a vida real dela zombará. Tenho por isso de dar ao éticos o conselho para-doxal de primeiro olhar um pouco para vida humana. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 108)
Segundo Schopenhauer, a contribuição da razão no que se refere à fundamentação da moral é mínima ou, até mesmo, nula. Neste sentido, a ética não tem nada a ver com elucubrações conceituais, já que, na sua concepção, “o fundamento racional da moral acar-reta carência de realidade e de efetividade” (CACCIOLA, 1997, p. 151). Na visão do filósofo, o “mo-tor” que move a moral deve ser algo que se apoie na dimensão intuitiva do conhecimento; algo que atue com violência (Gewalt) para solapar as motivações egoístas que atravessam as ações humanas. Em suas palavras, vemos da seguinte forma:
[...] a moral tem a ver com a ação efetiva do ser humano e não com castelos de cartas apriorís-ticos, de cujos resultados nenhum homem faria caso em meio ao ímpeto da vida e cuja ação, por isso mesmo, seria tão eficaz contra a tem-pestade das paixões quanto a de uma injeção para um incêndio. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 52)
Para Kant, a razão é uma faculdade que se refere “apenas à totalidade absoluta na síntese das condições e só termina no absolutamente incondicionado, ou seja, incondicionado em todos os sentidos” (KANT, 2001, p. 342). Porém, essa busca da razão pela totalidade é sem-pre precária, pois ela “nunca está confinada dentro de limites determináveis” (KANT, 2001, p. 343).
Em suma, a razão sempre acaba extrapolando os limites da experiência sensível, e, por esse motivo, acaba tentando enquadrar os objetos que estão fora da experiência possível – Deus, o mundo e a alma – dentro de uma experiência possível. Para resolver esta proble-mática, Kant afirma que as ideias transcendentais da razão correspondem apenas a princípios regulativos, em outras palavras, a princípios não constitutivos (Cf. KANT, 2001, p. 460). Além disso, ele assegura que os limites encontrados pela razão no que concerne ao seu uso especulativo na presença de “o que é” não tem valor dentro do seu uso prático quando ela produz o “deve ser” (Cf. KANT, 2001, p. 483). Schopenhauer vê a saída kantiana, para resolver o problema da faculdade de razão que sempre tenta ultrapassar os seus próprios limites constitutivos, como uma catástrofe. Como se sabe, Schopenhauer, em sua filosofia, pretende romper definitivamente com a teologia e com todos os concei-tos concernentes a ela. Mesmo que, para seu mestre, os conceitos teológicos correspondam apenas a princí-pios regulativos, o filósofo da vontade se recusa a admi-tir a presença deles na ética filosófica. É necessário lem-brar que Schopenhauer pretende eliminar todo resquí-cio de teologia da filosofia. Pois, para ele, “um filósofo deve ser, antes de mais nada, um descrente” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 45). Isso justifica sua hos-tilidade em relação a todas as formas de religiões positi-vas e clericais, e, de modo particular, a religião judaica, que, no seu entender, é uma espécie de realismo, de oti-mismo e de monoteísmo. Para o filósofo, a lealdade filo-sófica exige um decidido ateísmo no que diz respeito ao ato de fazer filosofia.
Schopenhauer assinala que um dos erros da moral kantiana consiste na sua falta de conteúdo. Para ele, o imperativo categórico carece de realidade e efeti-vidade. O filósofo afirma que Kant se apoia em meros conceitos abstratos – em bolas de sabão vazias de con-teúdo – para fundamentar a sua moral. Vejamos isso, em suas palavras:
Temos de nos lamentar pelo fato de que puros conceitos a priori, sem conteúdo real e sem
José Clerison Santos Alves
14 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

qualquer tipo de fundamentação empírica, nunca poderiam pôr em movimento pelo menos os homens: de outros seres racionais não posso falar. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 52)
Kant pensa numa filosofia moral que se apoie em conceitos puros. Pois, para ele, o fundamento da ética deve ser puro, ou seja, não empírico. Utilizando um caminho diametralmente oposto ao de Kant, Schope-nhauer afirma que a filosofia moral deve se apoiar na representação, quer dizer, no lado tangível da realida-de. Na visão do autor de O Mundo, o fundamento da ética deve ser encontrado na empiria, uma vez que os conceitos abstratos da razão, em sua filosofia, não são construções que se dão a priori, mas sim a posteriori. Em suma, ao contrário da filosofia de Kant, não existem conceitos puros na filosofia de Schopenhauer.
Schopenhauer vê o imperativo categórico como uma formulação egoísta, que, por sua vez, pretende assumir uma forma universal. O filósofo objeta que, no sistema de Kant, os animais, por não serem racionais, foram excluídos da dimensão moral dessa filosofia. Para o autor de O Mundo, um sistema moral que exclua a compaixão para com os animais, não pode ser consi-derado como verdadeiramente moral. Assim, argumen-ta Schopenhauer:
[...] esta moral filosófica que é [...] uma teologia travestida depende totalmente da moral bíbli-ca. A saber, porque a moral cristã não leva em consideração os animais. Estes estão de ime-diato também fora da lei na moral filosófica, são meras coisas, meros meios para fins arbitrári-os, por exemplo, para vivissecção, caçada com cães e cavalos, tourada, corrida de cavalos, chi-coteamento até a morte diante de carroças de pedra inamovíveis etc. Que vergonha desta moral de párias, “schandalas” e “mletschas”, que desconhece a essência eterna que existe em tudo o que tem vida e reluz com inesgotável significação em todos os olhos que vêem à luz do dia. Porém aquela moral só reconhece e con-sidera a única espécie que tem valor a que tem como característica a razão, sendo esta a con-dição pela qual um ser pode ser objeto de con-sideração moral. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 77)
No prefácio da tradução brasileira de Sobre o fun-damento da moral, Alain Roger afirma que Schopenha-uer rompe efetivamente com Kant no início do Livro II de O Mundo. Para Roger, o “parricídio” acontece quando Schopenhauer afirma a cognoscibilidade da coisa-em-si, evidenciando que esta afirmação paradoxal, que seria um escândalo aos olhos de Kant, é o procedimen-to mais original da sua filosofia (Cf. SCHOPENHAUER, 2001, p. 40). Diferentemente de Roger, Alexis Philonen-ko, em sua obra Schopenhauer: uma Filosofia da Tra-gédia, sustenta que a identificação da coisa-em-si com
a vontade, ao seus olhos, não ressoa tanto como um “parricídio”. Segundo Philonenko, é muito mais grave ver Schopenhauer renunciando o primado da razão prá-tica (Cf. PHILONENKO, 1989, p. 233).
Philonenko ressalta que Kant não pretende pro-por, em absoluto, uma nova moral – mesmo que uma minuciosa análise da Fundamentação da Metafísica dos Costumes possa revelar algumas inovações no âmbito da moral – ele pretende se restringir a uma for-mulação exata do pensamento ético. Mesmo que Kant não altere em nada o conteúdo da ética, ela não deixa de ser edificante. Porém, o filósofo da vontade se recu-sa a sustentar o discurso edificante: “seria tão tolo espe-rar que nossos sistemas morais e éticos criassem c a r a c t e r e s v i r t u o s o s , n o b r e s e s a n t o s ” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 354). O sollen kantiano é a necessidade de um querer que se mostra indepen-dente do desejo. Mas, para Schopenhauer, entre vonta-de e desejo existe apenas uma diferença de grau, não de natureza. É a partir desse momento que a ética de Schopenhauer adquire uma conotação psicológica, uma vez que ela se torna uma espécie de descrição psi-cológica dos conteúdos éticos. Aqui, a vontade se encontra reduzida ao desejo, com isso, podemos observar um movimento de “naturalização de todas as orientações morais”. A ruptura com Kant é clara: “o autor da Crítica da Razão Prática distingue desejo e von-tade; Schopenhauer os confunde” (Cf. PHILONENKO, 1989, p. 234).
Ao confundir vontade com desejo, Schopenhau-er nega energicamente o primado da razão prática. Neste momento, na visão de Philonenko, podemos encontrar o verdadeiro “parricídio” (Cf. PHILONENKO, 1989, p. 234). Essa negação da razão prática tem como pano de fundo uma metafísica da natureza, que, por sua vez, apresenta a vontade como um esforço cego para obter satisfação. Entenda-se aqui o conceito de vontade não como princípio racional da ação, e sim como expressão de uma força cega e irracional que manipula internamente o corpo.
O que orienta a concepção ética de Schopenhau-er é a Gleichsetzung, que pode ser traduzida como uma espécie de “equivalência” entre vontade e desejo. A con-cepção de querer schopenhaueriana não será, como em Kant, para além do desejo, uma função metafísica positiva, mas sim um querer que se descobrirá sem fim (Zwecklos). A expressão: “Das Stittengesetz ist das
6Endgesetz” indicará, com uma triunfal clareza, a ideia rechaçada por Schopenhauer: ele nega que a lei moral seja a lei final e descarta com força a ideia de um reino dos fins, pedra angular da filosofia prática kantiana. Enquanto Kant pensa numa realização da liberdade como expressão de uma pura independência; Schope-nhauer acredita numa espécie de liberação das paixões (Cf. PHILONENKO, 1989, p. 235).
6A lei moral é a lei final.
Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral
15Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

Kant retira a moralidade do campo fenomenal, substituindo as considerações empíricas por categorias
7a priori. Não obstante, ao contrário de Kant, Schope-nhauer argumenta que a moralidade deve ser pensada empiricamente (Cf. MESTROVIC, 1989, p. 431). Enquanto Kant sustenta que a base da moralidade se apoia num dever, ou seja, numa obrigação, Schopenha-uer afirma que a verdadeira moralidade deve ser basea-
8da na compaixão e no desejo. Em síntese, para usar o dualismo de Schopenhauer entre o “coração” e a “men-te”, que é a base da distinção entre “vontade” e “ideia”, o filósofo alinha a moralidade com o 'coração' e, por con-seguinte, vai de encontro à compreensão kantiana da moralidade, que, por sua vez, considera a moralidade como um fenômeno da mente e do esclarecimento (Enlightenment) (Cf. MESTROVIC, 1989, p. 431).
É importante evidenciar que Schopenhauer não aceita a concepção de razão como intimamente vincu-lada à ética. No entender do filósofo, não existe neces-sariamente, uma relação entre o comportamento racio-nal e a ética. Neste sentido, é possível notar a diferença entre Kant e Schopenhauer. Para o primeiro, é a razão pura prática que emite a lei para determinar a vontade na ação moral. Para o segundo, a razão não pode deter-minar a vontade, pois a vontade é anterior a razão. Na filosofia de Schopenhauer, a noção de vontade anterior à faculdade de razão está internamente ligada à metafí-sica da vontade. Aqui, agir racionalmente não tem nada a ver com caridade e retidão. O filósofo afirma:
Pode-se pelo contrário agir muito racionalmen-te, portanto refletida, prudente, consequente, planejada e metodicamente, seguindo todavia as máximas mais egoístas, injustas e perver-sas. Por isso é que, antes de Kant, jamais ocor-reu a alguém identificar o comportamento justo, virtuoso e nobre com o comportamento racio-nal. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 57)
Schopenhauer acredita que a moral kantiana é essencialmente egoísta. Na sua visão, a razão prática possui uma base empírica. O filósofo sustenta que a for-mulação do imperativo categórico – “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” – não é desinteres-sada. No seu entender, o imperativo categórico é ape-nas uma nova versão de uma antiga máxima moral ego-ísta: “Não faças aos outros o que não queres que te façam”. Schopenhauer estava determinado em mostrar que a moral kantiana era apenas a moral teológica dis-farçada.
LIBERDADE E DETERMINISMO
Na concepção de Schopenhauer, a filosofia moral de Kant não conseguiu se distanciar do eudemo-nismo da antiguidade, pois retomou em sua forma e em seu princípio uma moral do dever, os pressupostos de origem teológica. Na sua dissertação de doutorado, Sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, Schopenhauer apresentou um determinismo absoluto no que concerne às ações humanas. O filósofo retoma o tema do determinismo, por uma segunda vez, no escrito Sobre a liberdade da vontade (1839). Como críti-co do princípio escolástico de “liberdade de indiferen-ça”, Schopenhauer questiona se a vontade humana, em suas mais variadas manifestações exteriores pode não ser determinada por nenhum motivo, em outras palavras, permanecer independente do princípio de razão suficiente. O filósofo pretende abalar a crença que possuímos no conceito de liberdade enquanto auto-nomia.
Segundo Schopenhauer, a motivação é uma forma da lei de causalidade. Aqui, no entender do filóso-fo, a ligação entre causa e efeito não é muito clara. Por esse motivo, surgem muitos equívocos em relação ao conceito de liberdade. A solução para o problema do determinismo das ações, que se defronta na filosofia moral, não pode ser encontrada na distinção entre razão teórica – que diz o que é – e a razão prática – que dita o que deve ser. A solução para o respectivo proble-ma pode ser encontrada na distinção entre coisa-em-si (vontade que se mostra independente do princípio de razão suficiente) e fenômeno (representação submeti-da ao princípio de razão suficiente). Em síntese, na pers-pectiva schopenhaueriana, a liberdade reside no ser e a necessidade reside no ato.
O filósofo cita a expressão escolástica para legiti-mar a sua teoria determinista: “operari sequitur esse” (a ação decorre do ser). Neste sentido, é possível afirmar que “a responsabilidade moral é a responsabilidade daquilo que o sujeito é na ocasião fornecida pela ação” (LEFRANC, 2005, p. 149). Em contraste, ocorre o con-trário com o livre-arbítrio: “é a hipótese do livre-arbítrio que torna incompreensível a responsabilidade trans-portando a liberdade para o ato” (LEFRANC, 2005, p. 149). É importante assinalar que Schopenhauer não nega a liberdade: o filósofo retira a liberdade dos atos de volição e a transfere para vontade enquanto coisa-em-si. Em suas palavras, podemos ver da seguinte for-ma:
7É importante ressaltar que Kant, em sua filosofia, proibiu expressamente a ligação entre ciência empírica e moralidade. Cf. MESTROVIC, Stjepan G. Moral theory based on the 'heart' versus the 'mind': Schopenhuaer's and Durkeim's critiques of Kantian ethics.8A reputação de Schopenhauer como filósofo é baseada na força da seguinte expressão: “vontade de vida”, o que, às vezes, ele chama de “coração” – paixão, desejo, sexualidade, inconsciente, compaixão etc. – como uma força superior e mais importante que a faculdade de razão, a “ideia” ou a “mente”.
José Clerison Santos Alves
16 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

“operari sequitur esse”. A liberdade não perten-ce ao caráter empírico, mas tão-só ao inteligí-vel. O “operari” de um homem dado é determi-nado, necessariamente, a partir do exterior pelos motivos e a partir do interior pelo seu cará-ter. Por isso, tudo o que ele faz acontece neces-sariamente. Mas no seu “esse” aí está a liber-dade. (LEFRANC, 2005, p. 96)
A vontade é livre porque ela encontra-se fora do princípio de razão suficiente. Para Schopenhauer, a res-posta para o problema do determinismo já estava pre-sente na filosofia de Kant, mais precisamente, na Críti-ca da razão pura. Na visão do filósofo, não havia neces-sidade de Kant ter introduzido, no que concerne a essa questão, o conceito de razão prática e de autonomia, mas apenas o conceito de caráter inteligível (intelligible Charakter) bastaria, aos seus olhos, para resolver essa problemática. Parece que Schopenhauer não demons-tra muito apreço pelas páginas introdutórias da Dialéti-ca transcendental. Porém, na Estética transcendental, o filósofo reconhece a importância da contribuição kan-tiana. Na Crítica da razão pura, Kant nos oferece uma definição do que ele entende por inteligível: “Chamo inteligível, num objeto dos sentidos, ao que não é pro-priamente fenômeno” (KANT, 2001, p. 478). No enten-der de Schopenhauer, essa definição não nos direcio-na, de forma alguma, a uma noção de razão prática. A partir daí, o filósofo reabilita a expressão kantiana de “caráter inteligível”, operando uma distinção entre cará-ter empírico (empirischer Charakter) e caráter inteligível (intelligible Charakter).
Com isso, o filósofo cria uma oposição entre o ato e o ser. Neste sentido, podemos notar, do ponto de vista da metafísica schopenhaueriana, que essa oposição pode ser pensada em referência a dois atos: um no campo dos fenômenos e outro no campo da coisa-em-si. Nas palavras do filósofo, vemos da seguinte forma:
O caráter de cada homem isolado, em virtude de ser por completo individual e não estar total-mente contido na espécie, pode ser visto como uma Ideia particular, correspondendo a um ato próprio de objetivação da Vontade. Esse ato mesmo seria o caráter inteligível, enquanto seu caráter empírico seria o fenômeno dele. O cará-ter empírico é absolutamente determinado pelo caráter inteligível, o qual é sem-fundamento, isto é, enquanto coisa-em-si, Vontade submeti-do ao princípio de razão suficiente (forma do fenômeno). O caráter empírico tem de fornecer num decurso de vida a imagem-cópia do cará-ter inteligível, e não pode tomar outra direção a não ser aquela que permite a essência deste último. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 224)
Na filosofia de Schopenhauer, a origem do signi-ficado moral da ação humana está ligada à doutrina do caráter inteligível. O pano de fundo da sua teoria do
caráter é a metafísica da vontade. Como se sabe, a von-tade se manifesta na representação através dos seus graus de objetivação. Nos animais, a vontade se objeti-va na espécie. No homem, a vontade se objetiva em cada indivíduo. No pensamento de Schopenhauer, o caráter consiste na forma empiricamente conhecida, constante e imutável de uma vontade individual. No plano da representação, a ação de cada homem é determinada por sua índole mais íntima, a saber: o cará-ter inteligível. Nesta medida, todas as ações humanas correspondem ao caráter empírico – manifestação do caráter inteligível. Schopenhauer assinala que os moti-vos não têm poder para determinar o caráter do homem, mas apenas o fenômeno desse caráter. Isto se verifica nas palavras do próprio filósofo:
Os motivos não determinam o caráter do homem, mas tão-somente o fenômeno desse caráter, logo as ações e atitudes, a feição exte-rior de seu decurso de vida, não sua significa-ção íntima e conteúdo: estes últimos procedem do caráter, que é fenômeno imediato da Vonta-de, portanto sem-fundamento. Que um seja mau e o outro bom, isso não depende de moti-vos e influências exteriores, como doutrinas e sermões; nesse sentido, o caráter é algo abso-lutamente inexplicável. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 201)
Aos olhos de Schopenhauer, uma educação moral é impossível, uma vez que somente as circuns-tâncias e o conhecimento dos motivos – por depende-rem do intelecto – podem sofrer mudanças. Em síntese, dentro do direito penal e da pedagogia, através de uma dinâmica motivacional de recompensa e punição, não é possível moldar o comportamento do indivíduo para que ele possa ter uma clareza maior em relação às con-sequências provenientes de um determinado tipo de ação. Como se sabe, a partir da teoria de Kant, Schope-nhauer desenvolve a noção de caráter inteligível. Para isso, ele nega o primado da razão prática, separando a liberdade da razão.
A teoria ética de Schopenhauer é, essencialmen-te, uma ética da compaixão. Por esse motivo, ela se opõe a ética kantiana do dever. Como foi dito, a ética de Kant formula um imperativo que deve funcionar para conduzir os homens em suas ações. Para Schopenhau-er, a moralidade não tem nada a ver com “dever” ou “obrigação”, e, além disso, não pode ter a faculdade de razão como fundamento. Aqui, a questão é ver um mundo na perspectiva correta. O filósofo pontua que comportamento racional nem sempre pode ser consi-
9derado como um comportamento bom. Ele acredita que as ações humanas são formadas mediante a com-binação do caráter imutável, presente em cada pessoa, com um motivo que tem sua origem na consciência de cada uma delas. Portanto, para o filósofo, todas as
9É importante assinalar que vontade e razão, na filosofia schopenhaueriana, correspondem a dois conceitos distintos. Por ser anterior a razão, a vontade exerce um domínio sobre a razão.
Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral
17Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

ações humanas são determinadas, ou seja, não existe 10liberdade do ponto de vista das ações humanas.
Na perspectiva de Schopenhauer, o homem con-centra todas as formas da causalidade, por esse moti-vo, ele se diferencia das demais mudanças que ocor-rem dentro do campo fenomênico. Aqui, a mediação do conhecimento – a motivação – é indispensável no que concerne ao desenvolvimento das ações humanas: essa é a especificidade do princípio de razão suficiente do agir (a autoconsciência é a forma de conhecimento que atua no motivo). Todas as ações que se referem aos motivos podem ser caracterizadas como ações conhecidas pelo corpo do sujeito do conhecimento. Além disso, esse tipo de conhecimento se dirige ao inte-rior do sujeito. Aqui, as ações são compreendidas como movimento do próprio corpo.¹¹ É através da experiência interna (innere Erfahrung) que cada indivíduo reconhe-ce que esses movimentos correspondem aos atos da vontade provocados por motivos. As sensações são as reações imediatas da vontade. Os conceitos são rea-ções mediatas.
A partir da sua teoria dos caracteres, Schopenha-uer apresenta as três motivações que determinam, de forma imediata, o agir humano: o egoísmo, a maldade e a compaixão. Na perspectiva de Schopenhauer, essas três motivações estão presentes em cada indivíduo em diferentes proporções. Diante disso, temos aqui três clas-ses de motivos: o bem próprio, o sofrimento alheio e o bem alheio. Segundo Schopenhauer, um homem de coração duro nunca poderá se transformar, por meio dos conceitos abstratos da razão discursiva, num homem compassivo. Na sua concepção, o coração do homem é incorrigível. Os conceitos abstratos podem até atuar para iluminar a inteligência e oferecer outras opções que determinem os meios para se atingir algo. Mas, mesmo diante disso, o querer permanece inalterável.
A negação da vontade de viver (Verneinung des Willens) é a única forma de libertar as ações humanas do caráter necessário instaurado pelo caráter inteligí-vel. Desse movimento, surge um novo tipo de conheci-mento que liberta o fenômeno humano da influência e do poder dos motivos. Este tipo especial de conheci-mento pode ser concebido como uma espécie de cons-ciência da unidade da vontade presente em todos os fenômenos da representação. Com essa percepção, o homem deixaria de depender dos motivos. Para Scho-
penhauer, o verdadeiro fundamento da moral reside na superação da consciência individual e na constatação de que todos nós fazemos parte da vida universal da vontade metafísica. Através do caminho empírico, o filó-sofo tenta encontrar ações que possuam um autêntico valor moral. Aqui, a ética deve explicar e esclarecer o que realmente acontece, ou seja, observar como agem efetivamente os homens e não como eles devem agir. Em síntese, a ética schopenhaueriana não se propõe a oferecer leis absolutas para reger o fenômeno humano.
O FUNDAMENTO E PRINCÍPIO DA MORAL
Schopenhauer acredita que o verdadeiro funda-mento da moral não reside numa pretensa razão práti-ca, mas sim no “coração” humano. Contudo, o filósofo não deixa de enunciar um princípio geral: ”Neminem lae-de, immo omnes, quantum potes, iuva”. (“Não prejudi-ques ninguém, ao contrário, ajuda a todos quanto pude-res”). É importante ressaltar que o filósofo, mesmo dian-te da sua teoria sobre o caráter imutável, não se conten-tou com uma psicologia que excluísse todo juízo de valor. Ao renunciar a moral do imperativo categórico, o filósofo não renuncia um fundamento para a moral. Por vias empíricas, Schopenhauer pretende estabelecer a existência do fenômeno ético.
Schopenhauer sustenta que o egoísmo e a mal-dade são motivações antimorais: “a motivação principal e fundamental, tanto no homem como no animal, é ego-ísmo, quer dizer, o ímpeto para existência e o bem-estar” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 120). Imerso em sua subjetividade, separado por completo de todos os seres por um abismo, cada indivíduo é para si mesmo o seu próprio mundo. No âmbito social, o egoísmo é o combustível que alimenta a guerra de todos contra todos. Além disso, outros dois móveis alimentam a expe-riência moral: a maldade e a bondade. É importante res-saltar que a filosofia moral clássica acreditava que era possível ensinar a virtude e que ninguém poderia ser voluntariamente maldoso. Contudo, ela esquece que o sofrimento de um determinado indivíduo pode ser pro-curado acima de qualquer interesse pessoal – apenas na perspectiva de fazer o mal pelo mal. Neste sentido, só o ser humano, nunca o animal, é capaz de cometer
10Podemos encontrar no seu escrito Sobre a liberdade da vontade, uma complexa discussão sobre o tema. Neste escrito, Schopenhauer nos apresenta os diferentes sentidos de liberdade, e, finaliza com a afirmação de que a verdade do determinismo não deve servir para legitimar a falta de responsabilidade para com as nossas ações – questão que, para ele, ainda necessita de uma explicação. Em Sobre a liberdade da vontade, Schopenhauer nos apresenta uma distinção entre liberdade da vontade e liberdade de ação. A liberdade da ação consiste na capacidade de fazer alguma coisa, caso um indivíduo queira. Mas, essa liberdade pode ser retirada por obstáculos, por leis, por ameaças ou por danos que comprometam a capacidade física do sujeito. Para Schopenhauer, existem três tipos de liberdade de ação: a liberdade intelectual, a liberdade física e a liberdade moral. Todavia, a questão mais importante, em relação a essa problemática da liberdade, é se, de fato, existe liberdade para desejar entre esse ou aquele curso de uma determinada ação. Visando encontrar uma resposta para este problema, o filósofo apresenta duas fontes de dados concernentes à questão: a consciência de si e a consciência das coisas distintas do eu.¹¹É necessário evidenciar que não existe uma relação causal entre os atos da vontade e os movimentos do corpo: ambos são a mesma coisa. A única diferença que existe entre os atos da vontade e o corpo concerne apenas ao modo como eles são conhecidos. O sujeito do querer não está submetido à causalidade, em outras palavras, ele não é uma realidade empírica. Aqui, a consciência aparece de forma imediata. As ações do corpo funcionam como um meio de conhecer os atos da vontade. Em suma, ato da vontade e movimento do corpo são a mesma coisa.
José Clerison Santos Alves
18 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

uma ação “diabólica”.
O egoísmo essencial, que atravessa a existência de todos os seres, tem sua origem na vontade que se objetiva na pluralidade dos indivíduos. Essa pluralidade é condicionada por tempo e espaço, e, por conseguinte, só pode ser pensada nestes. O filósofo denomina essa pluralidade de principium individuationis (princípio de individuação). O princípio de individuação é a base de todo egoísmo, pois é através dele que a vontade se frag-menta no fenômeno e nos fornece uma consciência indi-vidual que, por sua vez, não condiz com a sua verdadei-ra natureza (a vontade é una). Em cada fenômeno, a vontade está inteira e indivisível. A pluralidade concerne apenas aos fenômenos da representação. Essa cons-tatação está presente na dupla consideração schope-nhaueriana do mundo: como (als) representação e como (als) vontade. Não existem dois mundos, mas sim duas formas diferentes de considerar o próprio mundo.
Schopenhauer rejeita as questões relativas a obrigações morais, pois não é possível prescrever à vontade nenhum dever – a vontade é livre. “[...] é uma contradição flagrante denominar a Vontade livre, e, no entanto prescrever-lhe leis segundo as quais deve que-r e r : “ d e v e q u e r e r ! ” , “ f e r r o - m a d e i r a ! ” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 354). No entender do filó-sofo, é um absurdo tentar impor normas para o querer. A negação do primado da razão prática nasce da consta-tação de que a vontade é anterior à razão. Além disso, a razão se nos apresenta como submetida à vontade e não o contrário. O filósofo cria uma oposição entre ego-ísmo e ação moral. Deste modo, a ética aparece como alheia a toda utilidade e finalidade. Na filosofia schope-nhaueriana, não é possível compreender o significado ético através do prisma da finalidade, já que os fins – a teleologia – só tem lugar no mundo como representa-ção. A liberdade concerne somente à vontade enquanto coisa-em-si e esta é, por sua vez, sem fundamento (Grundlos).
Na ética schopenhaueriana, o sentimento moral é estabelecido pelo próprio caráter do indivíduo – sem a influência de circunstâncias exteriores. Para Schope-nhauer, a moral está intrinsecamente ligada à vontade metafísica. Por esse motivo, não serão as boas ações que irão tornar um homem bom. Aqui, é o próprio homem bom que pratica as boas ações. Segundo o filó-sofo, o verdadeiro fundamento da moral reside no senti-mento de compaixão. Ora, o que vem a ser esse senti-mento? Esse sentimento consiste na capacidade de per-ceber a unidade metafísica da vontade em todos os seres que compõem a tessitura da representação. No entanto, essa unidade só poderá ser percebida median-te a junção entre ética e metafísica. A verdadeira moti-vação moral surge a partir do abandono do princípio de razão suficiente, onde acontece a superação do princí-pio de individuação.
CONCLUSÃO
Para tomar o sentimento de compaixão como legí-timo fundamento da moral, Schopenhauer altera o modo de operação da faculdade de razão. O filósofo apresenta uma divisão entre conhecimento intuitivo (as represen-tações intuitivas) e conhecimento abstrato (as represen-tações abstratas). Por causa dessa divisão, a razão acaba saindo empobrecida. Em síntese, a faculdade de razão passa a responder por aspectos meramente lógi-cos no que concerne ao processo de construção do conhecimento. À diferença do transcendentalismo kanti-ano, que considera a faculdade de razão como respon-sável pela produção dos conceitos puros e das ideias transcendentais, Schopenhauer oferece uma razão com uma única função, a saber: a capacidade de produzir conceitos abstratos. Contudo, na visão do autor de O Mundo, a razão aparece com uma faculdade essencial-mente dependente do entendimento. Aqui, é o entendi-mento que oferece as regras para a atuação da razão. Como se sabe, o entendimento (através de sua de cate-goria de causalidade) unido às formas puras do espaço e do tempo produz as representações intuitivas. Segun-do o filósofo, a faculdade de razão desenvolve as suas esferas conceituais a partir das representações intuiti-vas.
Os conceitos produzidos pela razão devem sem-pre se referir à dimensão intuitiva do conhecimento. Para o filósofo, quando a razão deixa de observar essa regra fundamental, ela passa a produzir conceitos vazios de conteúdo, ou seja, conceitos sem referência empírica. Por exemplo: Deus, alma, substância etc. Essa superio-ridade do conhecimento intuitivo em relação ao conheci-mento abstrato perpassa todas as obras de Schopenha-uer. Na filosofia schopenhaueriana, essa superioridade do conhecimento intuitivo é apresentada, com muita cla-reza, na estética, na ética e na metafísica. É no campo da representação que Schopenhauer desenvolve a ima-gem de uma razão “instrumental”, ou seja, de uma razão “passiva”. Com isso, a razão perde todo o protagonismo de que gozava nos sistemas racionalistas.
É importante evidenciar que a filosofia de Scho-penhauer pretende separar a filosofia da teologia, pois o bom Deus do cristianismo não pode dividir o mesmo espaço com uma força cega e sem fundamento: a von-tade. Schopenhauer ambiciona suprimir toda teleologia e teologia presentes na filosofia. Neste sentido, os con-ceitos teológicos nem servem como acessórios. Essa aversão à teologia se estende à distinção kantiana de razão teórica e razão prática, pois o filósofo acredita que a moral kantiana é uma moral teológica disfarçada, e que Kant adota os conceitos teológicos em sua filoso-fia moral, a saber, a ideias transcendentais da razão. Schopenhauer rechaça a teoria kantiana que considera a razão como a faculdade das três ideias do incondicio-nado (Deus, alma, mundo). Segundo o filósofo, a facul-
Schopenhauer e a recusa da razão como fundamento da moral
19Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

REFERÊNCIAS
CASSIRER, Ernst. El problema del conocimiento III : Los Sistemas Poskantianos. México: Fondo de Cultu-ra Económica, 1957.
CACCIOLA, Maria Lúcia Mello e Oliveira. Schopenhauer e a questão do dogmatismo. São Paulo: Edusp, 1997.
FAUSTINO, Sílvia. Schopenhauer, Wittgenstein e a recusa da razão prática. Revista de Filosofia, Vol. 19, N. 25. Curitiba: Champagnat, pp. 255-272, 2007.
JANAWAY, Christopher. The Cambridge companion to Schopenhauer. New York: Cambridge University Press, 1999.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Manue-la P. dos Santos e Alexandre F. Morujão. Lisboa: Funda-ção Calouste Gulbenkian, 2001.
_______. Fundamentação da metafísica dos costu-mes. in. coleção os pensadores. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
LEFRANC, Jean. Compreender Schopenhauer. São Paulo: Vozes, 2005.
MESTROVIC, G. Stjepan. Moral theory based on the “heart” versus “mind”: Schopenhauer's and Durkheim's critiques of Kantian ethics. Texas: A & M university, 1989.
PHILONENKO, Alexis. Schopenhauer: una filosofía de la tragedia. Trad. Gemma Muñoz-Alonso López. Barcelona, Anthropos, 1989.
SCHOPENHUAER, Arthur. De la quádruple raíz del principio de razón suficiente. Trad. Leopoldo Eulogio Palacios. Madrid: Editorial Gredos, 1981.
________. Die Welt als Wille und Vorstellung. Müchen: Bei Georg Muller, 1982.
________. O mundo como vontade e como repre-sentação. Trad. J. Barboza. São Paulo: Unesp, 2005.
________. The world as will and representation, in two volumes: volume II. Trad. E. F. J. Payne. New York: Dover, 1958.
________. Sobre o fundamento da moral. Trad. M. L. Cacciola. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
________. Sobre la voluntad en la naturaleza. Trad. Miguel de Unamuno. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
________. Contestação ao livre-arbítrio. Trad. Lur-des Martins. Porto: Rés-Editora, 2002.
TSANOFF, Radoslav A. Schopenhauer's criticism of Kant's theory of ethics. The Philosophical Review, Vol. 19, No. 5, pp. 512-534. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2177314. Acessado em: 20 Jun. 2010, 1910.
dade de razão não tem nada ver com o pensamento do incondicionado: “o essencial na razão não consiste de maneira alguma na exigência de um incondicionado, pois, tão logo ela proceda com plena clarividência, tem por si mesma de encontrar que um incondicionado é lite-ralmente uma incoisa” (Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 602). Em sua filosofia, ela é apenas a faculdade das representações abstratas, ou seja, dos conceitos. Aqui, a razão é a faculdade que distingue o homem do animal. Todos os conceitos da faculdade de razão rece-bem todo o seu conteúdo e significado das representa-ções intuitivas. Sem as representações intuitivas, as representações abstratas apenas se convertem em palavras vazias.
No sistema de Schopenhauer, a faculdade de razão carece de elementos apriorísticos, pois o seu conhecimento puro se limita as relações formais, em outras palavras, aos quatro princípios de verdade meta-lógica: identidade, contradição, terceiro excluído e razão suficiente do conhecer. Sendo assim, podemos afirmar que não há uma diferença entre Kant e Schope-nhauer no que concerne ao tema geral da razão prática, mas sim uma divergência radical quanto às questões de princípios. Schopenhauer acusa a ética kantiana de operar com pressupostos indemonstráveis, mas a sua não fica, de modo algum, imune a essa crítica. A moral da compaixão de Schopenhauer não é autônoma, já que necessita do apoio de sua epistemologia e de sua metafisica para sustentar-se. Diante do que foi exposto nos capítulos dessa dissertação, podemos apresentar alguns aspectos que podem corroborar essa afirmação: a inclusão da necessidade no princípio de razão sufici-ente, a asseidade como requisito da vontade, a abnega-ção como expressão da liberdade da vontade, a identifi-cação da coisa-em-si com a vontade, o irracionalismo e a inexistência da razão prática em sentido moral e a ampliação dos conceitos de experiência, intuição e conhecimento.
Na perspectiva de Schopenhauer, o sentimento de compaixão nasce da percepção da unidade que envolve todos os seres pela experiência do sofrimento. Nesta medida, é o sofrimento irredutível, essência da própria vida de todos os seres, que desperta o senti-mento de compaixão. A moral schopenhaueriana pode ser traduzida como a negação da própria vontade na natureza. Esse processo de negação começa a partir do momento em que a vontade se torna consciente no fenômeno humano. Aqui, a vontade pode negar a si a mesma. Para Schopenhauer, a abnegação pode ser considerada como uma espécie de “milagre”. Em suma, o verdadeiro fundamento da moral consiste na identida-de metafísica da vontade para além dos seus mais vari-ados fenômenos. Diminuir a distância entre o eu e o não-eu: eis aí, na perspectiva do filósofo, o mais valioso princípio moral. Podemos resumir essa atitude com a fórmula or iental : “ tat twam ai” – isso és tu (SCHOPENHAUER, 2005, p. 454).
José Clerison Santos Alves
20 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 07-20, jan./jun., 2013.

MULHERES NEGRAS E PODER NA INDÚSTRIA FUMAGEIRA
Luzia Souza Ferreira*
Elizabete Rodrigues da Silva**
Este artigo tem como objetivo evidenciar a trajetória das mulheres negras que ocuparam espaços de poder no âmbito da indústria fumageira na cidade de Cruz das Almas-BA, no período de 1950 a 1990, destacando especialmente as mulheres que ocuparam a presidência do Sindicato da Indústria do Fumo. Dentre elas, evidencia-se a forte presença de Maria Joaquina, uma mulher negra e semi-analfabetizada que fundou o primeiro movimento social desta cidade e sofreu várias formas de repressão nos anos da ditadura. A pesquisa teve como percurso metodológico o acervo documental da empresa Suerdieck, depositado na Faculdade Maria Milza – FAMAM e do Sindicato dos Trabalhadores do Fumo - STIF, bem como, a Fonte Oral, uma metodologia indispensável para trazer à tona as memórias das mulheres negras e trabalhadoras. Desta forma, observou-se que a trajetória das mulheres negras, trabalhadoras da indústria de fumo, foi marcada por uma luta acirrada pela sobrevivência material, bem como, pelos espaços de poder, minando a invisibilidade social e política a que eram submetidas no contexto das relações sociais de gênero, raça e classe daquele contexto.
Palavras-chave: Mulher Negra. Trabalho. Poder.
This article aims to show the trajectoy of Black women who occupied positions of Power within the tobacco industry in the city of Cruz das Almas, Bahia, in the period 1950 to 1990 with particular emphasis on women who occupiend the chair of the Industry Union tobacco. Among them, highlights the strong presence Maria Joaquina, a black women and semi-analfabetizada who founded the first social movement of this city and suffered various forms of repression during the years of dictatorship. The research was methodological course documental company Suerdieck deposited Milze Mary College – FAMAM and Tobacco Workers Union – STIF, as well as the oral source, an indispensable method to elicit memories of black women and workers. Thus, it was observed that the trajectory of blakwomen, workers in the tobacco industry was marked by a bitter struggle for material survival, as well as the spaces of power, undermining the social and political invisibility that were submitted in the context of social relations of gender, race and class that context.
Keywords: Black Women. Work. Power.
*Especialista em História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Faculdade Maria Milza-BA); Diretora do Departamento de Políticas para as Mulheres do Município de Cruz das Almas – BA. E-mail: [email protected].**Doutora em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (Universidade Federal da Bahia); Professora da Faculdade Maria Milza- BA; E-mail: [email protected].
INTRODUÇÃO
O trabalho e o lugar das mulheres trabalhadoras da indústria fumageira do Recôncavo Baiano, no perío-do de 1950 a 1990, se explica a partir da compreensão de um contexto mais amplo que remonta à história do trabalho no Brasil e as várias formas de ocupações assumidas – ou forçadas a assumir – pelas mulheres negras durante o sistema escravista e que traz as suas reminiscências até os dias atuais, no que tange aos espaços de trabalho e de poder ocupados por mulheres negras.
Nesta perspectiva, observa-se, inicialmente, uma historiografia que avança para a história dos exclu-ídos e suas lutas por ocupar seus espaços, pois são pro-duções que oferecem elementos para se compreender
as novas temáticas que podem ser, dentre tantas que a história vista de baixo contemplam, o lugar das mulhe-res negras e trabalhadoras. (BURKE, 1992). Ainda, para refletir sobre a vida dessas mulheres trabalhado-ras, toma-se a concepção de Eduard Thompson (1989), ao afirmar que “a formação social e cultural que pode ser estudada quando eles [operários] mesmos operam um considerável processo histórico”. E, neste caso, dado o significativo contingente da mão-de-obra femini-na, considerada a força motriz que impulsionava a eco-nomia e a cultura da região fumageira, as trabalhadoras se inscrevem na história.
Rachel Soihet (1992) escreve sobre a grande reviravolta na história, pois nas últimas décadas vários grupos se interessaram pela temática dos excluídos, destacando também os estudos sobre as mulheres.
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

Esta autora ainda afirma que “as mulheres são eleva-das à condição de objeto e de sujeito da história isto por-que as mulheres têm constantemente, através da histó-ria cultural e social, encontrado novo campo do seu desenvolvimento”. (SOIHET, 1992).
Assim, as motivações para a realização da pes-quisa partiram da necessidade de discutir a presença das mulheres negras no espaço fabril fumageiro e a sua atuação nos espaços de poder na indústria do fumo na cidade de Cruz das Almas, lugar onde, por um longo período de tempo, foi o maior produtor de fumo do Recôncavo. Também, chama à atenção neste contexto a presença de uma mão de obra especificamente femi-nina, enquanto o comando do trabalho se encontrava em mãos masculinas.
As fontes históricas que permitem evidenciar parte da história das mulheres fumageiras são as fontes orais que, por sua vez, possibilitam o contato direto com os sujeitos e objeto. As fontes escritas e impressas, como as fichas de registro de empregados da fábrica Suerdieck de Cruz das Almas, que se encontram no acervo da Faculdade Maria Milza (Centro de Documen-tação e Memória - CEDOC), permitem compreender as relações de trabalho, inclusive os processos de admis-são e demissão do trabalho, o sistema de contratação temporária, o quesito raça/cor, onde percebe-se nitida-mente a grande quantidade de mulheres negras atra-vés de suas fotografias nos livros de registro. Outra fonte que ofereceu dados significativos foram as Fichas de Filiação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo.
O período pesquisado parte da década de 1950, quando a indústria fumageira no Recôncavo começa a se reestruturar após os problemas enfrentados com a Segunda Guerra Mundial até a década de 1990, quan-do encerra suas atividades em Cruz das Almas. Apesar de Blay (1978) afirmar que a partir da década de 1950 começa a ocorrer um processo de declínio da incorpo-ração das mulheres no setor de atividades industriais no Brasil, chegando em 1970 com apenas 10,5% das mulheres integradas, na indústria fumageira pode-se fazer uma leitura diferente em função de sua especifici-dade quanto à predominância da mão de obra das mulheres, explicada pelo estereótipo da sensibilidade feminina em executar trabalhos manuais e/ou artesana-is. Por outro lado, é nesse período que as mulheres já se encontram inserida nos movimentos sindicais e lutam por direitos adquiridos, como, por exemplo, em 1986 a fábrica Suerdieck ameaça encerrar suas ativida-des e mais uma vez são as mulheres que tomam as rédeas da situação e vão até Brasília, capital do país, solicitando uma posição do governo federal para que 400 mães de família não ficassem desempregas. Esse período de quatro décadas dá uma dimensão de como as mulheres atuaram dentro e fora dos estabelecimen-tos da indústria fumageira.
Desta forma, a preocupação que norteia esta pes-quisa se expressa a partir de alguns questionamentos que apontam para as mudanças e permanências na his-tória das mulheres negras trabalhadoras da indústria fumageira no Recôncavo. Refletir brevemente sobre essas mulheres trabalhadoras exige questionar o seguinte: Como as trabalhadoras, enquanto mulheres e negras, ocuparam ou construíram espaços de atuação de poder na indústria fumageira do Recôncavo? Nesta perspectiva, é que esta pesquisa caminhou para buscar compreender parte da trajetória de mulheres negras no trabalho e nos espaços de poder dentro da indústria fumageira da cidade de Cruz das Almas, no período supracitado.
MULHERES NEGRAS: BREVE PERFIL DE UMA TRAJETÓRIA
O Brasil, que se favoreceu do trabalho escravo ao longo de mais de três séculos, colocou à margem o seu principal agente construtor – negros e negras, estes que passaram a viver na miséria, sem trabalho, sem possibilidade de sobrevivência e condições dignas de vida. Com o incentivo do governo brasileiro à imigração estrangeira e à tentativa de extirpar os negros e as negras da sociedade brasileira, aprendemos a conhe-cer a África por meio dos marcos da história européia. No recorte metodológico que se denomina como pré-história, o continente Africano aparece como o local onde viveram nossos primeiros antepassados; na Idade Antiga, surge como o berço da civilização egípcia. Por fim, só reaparece a partir do século XV, como um apêndice do mundo moderno europeu. (NOGUEITA, 2001).
A África, porém, tem uma história para contar e nós temos Áfricas a conhecer. E é por meio da tradição oral e de outros olhares sobre a documentação escrita e iconográfica que os historiadores tentam, hoje, recons-truir os fragmentos da memória desse continente tão dilacerado pelo intenso tráfico de escravos e pela parti-lha colonial. Uma história que explica grande parte da história do Brasil e, por conseguinte, do povo negro, inclusive os trabalhadores e trabalhadoras da indústria fumageira.
A história da construção do Brasil se confunde com a história dos trabalhadores negros e das trabalha-doras negras que aqui chegaram e aqui permanece-ram. Segundo Maria Nilza (1999), em seu artigo “Mu-lheres Negras”, ao longo da história a mulher negra foi a “espinha dorsal” da família que, muitas vezes, constitu-ía-se dela mesma e dos filhos. Quando havia o compa-nheiro, especialmente no período pós-abolição, este significava para aquelas mulheres apenas alguém a mais para ser sustentado.
O trabalho escravo no Brasil passou desde a agri-
Luzia Souza Ferreira; Elizabete Rodrigues da Silva
22 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

cultura pesada nos canaviais, nas roças de fumo, nos cafezais, na lavoura de subsistência, à mineração, ao doméstico (trabalhadores na casa grande) até ao traba-lho de ganho, sendo assim essenciais para a manuten-ção da economia. Em todos esses espaços, as mulheres negras participaram com seu trabalho de amas de leite, cuidadoras, conzinheiras, ganhadeiras, além de muitas outras formas. Nessa situação, uma escrava poderia vender “doce de tabuleiro”, realizar o transporte de car-gas e pessoas, cuidar de um estabelecimento comerci-al ou fabricar utensílios e quitutes que, geralmente, o seu dono ficava com a maior parte dos lucros obtidos ao longo do dia. A parcela destinada a escrava poderia ser utilizada para alimentação, vestuário e, até mesmo, para a compra de sua alforria. (SOARES, 2007).
Em outros casos também se pode assinalar a existência das chamadas “escravas de aluguel”. Geral-mente, um senhor que passava por dificuldades finan-ceiras ou não tinha meios para explorar todo o seu plan-tel acabava cedendo parte de suas “peças” para um ter-ceiro, que em troca lhe recompensava com uma quanti-dade de dinheiro. A própria administração colonial utili-zou desse recurso para empreender a extração de pedras preciosas no século XVIII. (SOARES, 2007).
Estas questões permitem entender outras. Como observa Douglas Cole Libby (2006) quando afirma: “O braço escravo foi tão ou até mais produtivo que o livre e foi utilizado em virtualmente todas as atividades produ-tivas presente na sociedade escravista, inclusive aque-la de cunho industrial.” Com isto pode-se perceber que a habilidade, o conhecimento dos africanos em muito superava os europeus nos artífices e ofícios na socie-dade escravista do Brasil Colonial. Libby (2006) descre-ve a evolução das técnicas agrícolas, a arte da culiná-ria, as fundições de ferro com os artefatos na constru-ção de ferramentas, a habilidade com madeira nas cons-truções navais, o uso da pedra-sabão na fabricação de utensílios de cozinha, tigelas, jarras e variados objetos ornamentais, o trabalho em ouro e prata, o curtume, o trabalho em couro e a tecelagem dos africanos aqui escravizados.
É a partir deste percurso histórico que, nos sécu-los seguintes, se formou uma massa de trabalhadores livres, tanto para o campo quanto para as cidades, prin-cipalmente no Nordeste brasileiro e, em escala menor, o Recôncavo Baiano, este que representou, por muitos anos, grande parcela da economia baiana. E, é na indústria fumageira que a maioria das mulheres negras do Recôncavo vai encontrar espaço para trabalhar e ascender social e economicamente, durante quase todo o século XX.
A partir desse contexto e considerando as varia-ções temporais que favorecem às transformações soci-ais e culturais, faz-se necessário identificar os lugares ocupados pelas mulheres trabalhadoras da indústria fumageira do Recôncavo Baiano. Para tanto, Silva
(2011) traz uma discussão dos traços étnicos raciais dos povos do Recôncavo onde a composição desse quadro social e cultural da população fumageira, na segunda metade do século XX, é a herdeira máxima da junção de ameríndios, negros e europeus, o que faz uma miscigenação muito própria do Recôncavo Baia-no. Ela ainda afirma que a presença da população negra no Recôncavo está relacionada à escravidão afri-cana que desde a colonização até o final do século XIX, apresentava a maior concentração do Estado da Bahia. (SILVA, 2011). Essa composição étnico-racial, apesar das oscilações no tempo, permanece formando o gran-de contingente de trabalhadoras negras na indústria fumageira no Recôncavo.
No universo de 900 fichas analisadas, dispostas em 09 livros de registro de associados do Sindicato dos trabalhadores do fumo em Cruz das Almas observa-se pelas fotografias que a maioria é de mulheres e mulhe-res negras. Embora o registro da cor tenha passado pelo olhar e concepção do funcionário que preencheu a ficha naquele momento, o que favorece a um resultado, relativamente, diferente, mas que não altera a estrutura do perfil étnico-racial dos trabalhadores e trabalhado-ras. Tomando como parâmetro os livros de número 08 e 09 datados de 1953 a 1954, respectivamente, tem-se uma amostra dos quesitos cor e sexo, conforme se observa nas Tabelas abaixo.
Tabela 1 - Quesito Cor
Cor Homem Mulher Total
Preta 09 47 56
Parda 05 25 30
Branca 00 04 04
Outra 04 06 10
Total 18 82 100
FONTE: Livro nº 08 de Registro de associados do Sindicato dos Trabalhadores do Fumo, 1953.
Tabela 2 - Quesito Cor
Cor Homem Mulher Total
Preta 09 37 46
Parda 13 36 49
Branca 03 01 04
Outra 00 01 01
Total 25 75 100
FONTE: Livro nº 09 de Registro de associados do Sindicato dos Trabalhadores do Fumo, 1954.
Além da evidencia da “cor preta” nas Fichas de Registros de Associados do Sindicato, as tabelas evi-denciam a predominância do sexo feminino no trabalho fabril fumageiro, constituindo um campo fértil para uma futura discussão sobre as relações de gênero nesses
Mulheres negras e poder na indústria fumageira
23Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

espaços. Assim, partindo da premissa de que as mulhe-res formavam um contingente maior que os homens, pergunta-se, então, por que somente 03 mulheres che-garam ao espaço de presidência do sindicato? Neste caso, especificamente, a explicação poderá se encon-trar nas relações sociais de gênero que, a partir das dife-renças biológicas, norteiam as desigualdades de gêne-ro, tornando as mulheres vulneráveis e sujeitas à exclu-são social que se dá no âmbito do trabalho, da classe, da cultura, da raça e da geração.
A AÇÃO DAS MULHERES TRABALHA-DORAS NOS ESPAÇOS FABRIS
Quando Cristina Bruschini (2000) discute Traba-lho e Gênero – Mudanças, permanências e desafios, vemos claramente os desafios, mesmo em contextos diferentes no tempo e no espaço, podemos fazer uma correlação para compreender os desafios na hierarquia e poder das mulheres da indústria fumageira, para comandar um setor ou vários setores dessa indústria, setores esses que no armazém se tratava das bancas de capas, salão de escolhas e o salão das camas de fumo. Nas fábricas, os principais setores eram salão de capas, charutaria e o anelamento, departamentos dis-tintos comandados por contramestre ou contramestra e no geral mestres ou mestras. A essas pessoas era dado o poder de decidir quem trabalhava naquela safra ou não, quem exercia tal função ou não, dentro das empre-sas eram os/as mestres/as que decidiam a vida daque-le/a trabalhador/a.
Um exemplo era D. Maria Lúcia Oliveira, conhe-cida como Cinha, mulher negra, mãe de sete filhos sendo cinco mulheres e 02 homens, solteira, chefe de família que com maestria conduzia o contingente de duzentas mulheres ou mais no período de grandes safras no armazém de seu Edgar, localizado na Praça Geraldo Suerdieck. Neste caso, ao entrevistar mulhe-res que trabalharam com ela, percebeu-se que o poder dado a ela não a desumanizou e não a fez ser tirana.
Ela era muito boa com agente, quando um filho nosso adoecia ela entendia, pois ela também era mãe, diferente do contra mestre Y (preferiu omitir o nome), aí ela dizia: adianta a tarefa e vai ver teu filho. (JOSELINA DA SILVA SANTOS, 2011).
Quando Joselina diz: “ela não se desumanizou” dá a entender que ela era sensível ao sofrimento e a dor de outra mãe que saía para trabalhar e deixava seu filho doente. D. Maria Bernadete ainda enfatiza:
Cinha foi uma grande amiga das mulheres e todos que trabalhava com ela, podia ser homem podia se mulher, ela entendia todo mun-do. Quando tinha uma mulher passando dificul-
dade ela fazia rifa, fazia caixa para arrecadar dinheiro para essa pessoa resolver o problema que a afligia, era muito boa, boa mesmo. ( M A R I A B E R N A D E T E P E R E I R A RODRIGUES, 2011).
Assim, esse espaço não deixa de ser um espaço político, que segundo Foucault as relações de poder entre os indivíduos é algo que se exerce em rede, não existe um agente centralizador, esse poder pode ser do micro ou do macro. As mulheres da indústria fumageira que ocuparam esses espaços sabiam como ninguém exercer o poder fosse ele micro ou macro, estando no comando ou na subalternidade.
As empresas eram da mesma forma, avaliadas pelas mulheres e, segundo seus interesses, elas podi-am ter um conceito positivo ou negativo. Em entrevista com dona Raimunda ela diz:
Armazém bom de trabalhar foi o de seu Jorge Almeida, lá era muito bom, o mestre era homem, o nome dele era Nelson, dava vez agente mulher, pra tomar conta das bancas de capa, da escolha e com isso ficava mais fácil, eu mesma tomei conta da escolha muitas vezes e o trabalho saia melhor porque todo mundo era companheira, companheira mesmo de uma ser pela outra, fosse no que fosse. Tinha Neuza no escritório era boa demais, no dia de pagamento ela chamava uma por uma pra receber o dinheiro e tratava agente muito bem, não esqueço dela. (Raimunda Souza, 2011).
Com isso dona Raimunda afirma que era bem mais harmonioso o processo de relações de poder entre elas, de modo que o companheirismo fazia a coisa fluir de forma melhor. Entre as décadas de 70 e 80, a Suerdieck esteve sob o comando do Grupo Alemão Meli-ta. Dona Vera Lúcia se lembra desse tempo com certa nostalgia.
Foi um período bom quando era com a Melita, gente boa aquele pessoal, não que os daqui fosse ruim não, não, mas quando eles tomaram conta da Suerdieck foi bom pra gente sim! Agen-te passou a ter merenda que eles davam, de oito e meia a nove horas agente ia tomar leite e comer pão, todo santo dia, era bom, pois agen-te até levava pra casa, eu mesmo tomava um pouco e botava o outro no quente frio (garrafa térmica) pra levar pra meus filhos (respira fun-do), pois em casa não tinha. O mestre não que-ria que agente levasse pra casa, era pra tomar lá, mas agente dava um jeito, levava escondi-do. Agente dava um jeito, pelos nossos filhos agente faz tudo não é? (VERA LÚCIA, 2009).
Resistência sutil, também era uma atitude cons-ciente e presente nas ações das mulheres fumageiras, nesse momento elas exerciam o poder por está numa posição de subalternidade o que não a impedia de levar o leite pra casa. Conforme Silva (2001):
Luzia Souza Ferreira; Elizabete Rodrigues da Silva
24 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

Embora fosse na sutileza dessa obediência que residia a sabedoria política da charuteira, ou seja, obedecer não significava recuar, dei-xar-se dominar ou acomodar-se, mas aprender a conviver habilmente com a "inevitável" domi-nação daquela circunstância para atingir o seu objetivo que era manter-se no trabalho. (SILVA, 2001).
Na fala de dona Vera Lúcia acima, é possível per-ceber que muitas vezes se burlava a lei imposta dentro desses estabelecimentos, como por exemplo, levar qualquer coisa que fosse oferecida pela empresa sem a autorização dos chefes, nesse sentido essas mulheres exerciam o poder de burlar a ordem expedida, essa estratégia era comum entre elas, desta forma era proibi-do levar para casa o leite que a empresa fornecia aos tra-balhadores, mas para D. Vera Lúcia tomar o leite ali e não ter em casa para seus filhos soava como incoerente e ela ainda acentua;
Como é que eu adulta tomava leite e meus filhos que era pequeno não tomava! Não tava certo. Tinha vez que eu levava o café no quente frio aí eu tomava o café e botava o leite no lugar, nem dava pra desconfiar. (VERA LÚCIA, 2009).
Burlar a lei imposta dentro dessas empresas parecia fácil para elas. Não era permitido conversar nas bancas, mas isto não quer dizer que elas se mantinham caladas, obedientes à toda e qualquer norma estabele-cida. Dona Maria de Lourdes conta que:
Não era pra nós conversarmos de jeito nenhum, pois eles achavam que atrapalhava na tarefa, mas quem ia aguentar ficar calada o dia todo, agente não era animal, agente con-versava baixinho com a cabeça baixa, quando eles estavam por perto agente ficava calada, tinha mulher que de pirraça cantava e tudo. Ah! Agente contava até novela, mas eles não viam ou fingia que não via. Mas de vez em quando tinha um zunzum danado, aí era cada bronca que agente tomava que ficava até com vergo-nha (...). (MARIA DE LOURDES, 2009).
A “bronca” tomada não as impedia de conversar, nessa rede fazia valer o poder de não se calar, mas bur-lar o sistema macro do empregador. Diante deste con-texto, foi possível perceber que os espaços de trabalho não são apenas preenchidos com as atividades mera-mente técnicas, além destas a trama cotidiana se encarrega de preencher, historicamente, os espaços e o tempo com os interesses, principalmente os das clas-ses, de uma forma muito peculiar elas exerciam o poder de ir contra o que era (pré) estabelecido. Assim, a histó-ria das mulheres negras fumageiras, a partir de seus espaços de trabalho, também, permite vislumbrar parte da história da região do Recôncavo, àquela ligada à cul-tura e indústria do fumo e, especificamente, a história das mulheres negras no trabalho e espaços de poder.
O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do
Fumo de Cruz das Almas era e é uma entidade que representava e representa os/as trabalhadores/as da indústria fumageira também das cidades circunvizinhas como Sapeaçu, Baixa de Palmeira, Castro Alves, São Felipe, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Muritiba entre outras. Fundado em 5 de julho de 1942 e reconhecido pelo decreto-lei n. 1402, de 5 de julho de 1949. Sede própria inaugurada em 22/12/1968, Traves-sa Cícero Nazareno n.º 57, Cruz das Almas-Ba.
O Sindicato dos/as trabalhadores/as da Indústria do Fumo da cidade de Cruz das Almas, entidade pes-quisada onde encontramos mulheres negras no exercí-cio do poder. A pesquisa feita no livro número um (01) do registro de chapas para composição da diretoria do Sin-dicato dos trabalhadores da Indústria do fumo, permite uma análise de classe, gênero e raça. Os registros encontrados estão datados de 1949 e tem em sua com-posição apenas 63 mulheres fazendo parte da diretoria do sindicato onde somente três ocuparam o lugar de pre-sidente, as demais ocupavam lugares de secretária, suplentes conselhos fiscais e tesoureiras.
Não cabe aqui uma discussão de classe, mas identificar as mulheres que ocuparam esse espaço de poder e em especial a mulher negra. No contexto fuma-geiro onde a divisão sexual do trabalho se dava com ênfase bem maior que outros seguimentos, vale desta-car as mulheres negras que em sua maioria formavam a população operária dessa indústria e que foram não só mestras e contramestras, mas presidentes de Sindica-tos assim como suas respectivas suplentes. Uma chapa para composição de diretoria era composta por Presidente, Secretária/o, Tesoureira/a e Conselheira/o fiscal.
No livro número 01 (um) de registro de chapas para candidatas/os a diretoria não apenas constava a composição das chapas, mas também o registro da chapa vencedora daquele pleito. Essa constatação per-mite analisar que diante da quantidade de mulheres fili-adas ao sindicato dos trabalhadores da indústria do fumo de Cruz das Almas, a participação e atuação das mesmas não chegaram a 6% das trabalhadoras. A com-posição de 1962 mostra a chapa vencedora somente de mulheres e a participação dessas mulheres no movi-mento sindical, embora sendo reduzida, não intimidava a fazer uso do poder em prol das companheiras. No livro de ata do dia 03 de julho de 1966, na página 35, relata que quando uma companheira reclama da empresa que está exigindo uma quantidade maior de charutos para a tarefa, ela convoca a todos para não se rende-rem ao empregador, fazendo-se presentes no dia da reunião cento e um associados.
Quando um livro de ata deixa transcrito em seus autos situações como esta, significa que essas mulhe-res exerciam não só o direito que possuíam, mas o poder para se confrontar ao patrão. “Não havia tarefa, agora exigiram, e nem servente tem para ir buscar os
Mulheres negras e poder na indústria fumageira
25Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

paus de charutos, e eu não vou pegar nenhum, eles tem que dá um jeito”. São palavras de Maria Joaquina refor-çadas pela companheira Albertina França. Essa fala revela a forma de exploração aplicada às trabalhadoras, no sistema de produção e a reação delas à situação.
A chapa vencedora de 1978 tem como presiden-te outra mulher negra e que permanece no sindicato por cinco gestões, Benedita Souza Salomão. Ela é mulata, tipo cabocla, semi analfabeta, tímida por natureza, mas firme em suas decisões, trabalhou toda sua vida na fábrica de charutos Suerdieck, dedicou a maior parte dela ao Sindicato e à luta por suas companheiras, foi
presidente, secretária, suplente, conselheira e ainda foi juíza classista junto a Justiça do trabalho representan-do as operárias.
Como presidente do Sindicato, Benedita Souza Salomão, em 1978 traz consideráveis melhorias para a classe. Para a sede do sindicato ela contrata médicos na área de clinica geral, dentistas; cria toda uma estru-tura para acolhimento e atendimento aos associados, cede o espaço permitindo o funcionamento de uma escola para o ensino fundamental I, não só para filhos de associados, mas também para a comunidade do entorno.
Quadro 1 - Chapa da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo, 1962
CARGO/FUNÇÃO NOME
Presidente Marieta Costa Borges
Secretária Benedita Souza Salomão
1ªTesoureira Albertina França
2ª Tesoureira Eufrásia Brandão Braga
Suplente da diretoria Inês Caldas Peixoto
Conselho fiscal Maria Joaquina Souza
Rosinel Silva Lôbo
Maria Luiza Boaventura
Suplente do Conselho Fiscal Rosalina Lopes Santos
Aládia Borges da Silva
FONTE: Livro1 de registro de chapas para diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Fumo de Cruz das Almas
Quadro 2 - Chapa de Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo, 1978
Presidente Benedita Souza Salomão
Secretária Neusa Pereira da Silva
Suplente diretoria Claudia Oliveira Souza
Conselho fiscal Antônia Oliveira Cruz
Maria Aurea Oliveira Cruz
Suplente Conselho Fiscal Maria Luiza Boaventura
Nilza Maria Pereira Silva
FONTE: Livro1 de registro de chapas para diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Fumo de Cruz das Almas
Quadro 3 - Chapa de Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo, 1993
Presidente Josenita Souza Salomão
Suplente da diretoria Maria Bernadete Rebouças Salomão
Ana Lúcia da Conceição Silveira
Conselho Fiscal Valdete Passos Batista
Maria Sonia dos Santos Cruz
Suplente conselho fiscal Rita Maria dos Santos
Raimunda Cerqueira de Souza
Maria da Conceição Trindade
Fonte: Livro1 de registro de chapas para diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Fumo de Cruz das Almas
Luzia Souza Ferreira; Elizabete Rodrigues da Silva
26 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

Em 1993, o Sindicato dos trabalhadores do fumo chega a sua terceira gestão presidida por uma mulher negra, e ativamente politizada dentro dessa dinâmica das lideranças sindicais. Sobrinha da ex-presidente Benedita Souza Salomão, Josenita Souza Salomão ocupa o cargo de presidente deixado por sua tia que se encontrava doente não podendo mais concorrer. Em 1993 a indústria fumageira do Recôncavo passa por uma reestruturação do trabalho e com isso alguns arma-zéns voltam a produzir e o sindicato, que segundo Jose-nita, tem em seu quadro quase cinco mil associados, porém não perdura e o declínio vem de forma voraz, de modo que no início de século XXI essa indústria sucum-be às altas taxas de impostos, e as propagandas que falam do malefício que o tabagismo provoca. Desde então, o Sindicato continua com atividades limitadas, são poucos os armazéns que ainda funcionam com o mínimo de trabalhadores e as grandes fábricas fecha-ram definitivamente.
MARIA JOAQUINA: A VISIBILIDADE DE UMA MULHER NEGRA
Falar em mulher negra na indústria fumageira exercendo certas formas de poder sem falar de Maria Joaquina da Conceição seria deixar uma lacuna aberta. Nascida na cidade de Cruz das Almas, Maria Joaquina da Conceição, nascida em 07 de agosto de 1920, mãe de nove filhos, avó de 41 netos, 50 bisnetos e 03 tatara-netos. Segundo sua filha Jussara, ela estudou até 3ª série do antigo primário, teve seu primeiro filho aos 16 anos de idade, e teve que ir trabalhar para sustentar a família.
A luta de Maria Joaquina começou na antiga fábrica de Charutos Suerdieck, local onde trabalhou até se aposentar, o que não a retirou da luta, pois em 1986 quando a Fábrica Suerdieck estava para fechar as ope-rárias recorreram a ela, pois tinha uma grande influên-cia no meio político, para mediar e ver o que seria possí-vel ser feito para impedir tamanha catástrofe, pois se tra-tava de quinhentos empregos diretos, na fábrica de Cruz das Almas, uma vez que a fábrica de Maragogipe já havia encerrado suas atividades, seriam mais de qua-trocentas mães de família desempregadas, uma vez que o declínio da indústria fumageira já se encontrava em andamento.
Falar de Maria Joaquina é falar de trabalho, resis-tência, movimento social e trazer um pouco da história da África e de mulheres negras. Sempre preocupada com o bem-estar de todas as companheiras operárias, reivindicava os direitos das trabalhadoras e se envolvia nas questões entre patrões e empregados, o que lem-bra Luiza Mahim em sua trajetória ao comandar a Revolta dos Malês em Salvador no século XIX. Diante das grandes injustiças e situação precária das compa-
nheiras que não conseguiam emprego nas empresas enfardadoras (armazéns de fumo), Maria Joaquina deci-diu fundar uma associação chamada CLUBE DAS MÃES em parceria com amigas e amigos operários (os) que estavam na ativa, a exemplo de Maria Conceição (Lozinha), Maria Benedita, Marieta Costa então presi-dente do sindicato, Maria Helena Rodrigues, Hélio Pitanga e alguns estudantes da Escola de Agronomia que admiravam a sua luta e coragem. Esse foi um perío-do conturbado na década de 1960. Nasce aí o primeiro movimento social de mulheres na cidade de Cruz das Almas. A implantação da associação trouxe benefícios para várias mulheres, que juntas conseguiram máqui-nas para os cursos de corte e costura, datilografia, as aulas aconteciam na Sociedade Euterpe Filarmônica. Além disso, eram doados às mães pobres, gêneros ali-mentícios como leite, arroz e feijão. Vale lembrar que elas faziam doações e recebiam doações.
Maria Joaquina foi uma mulher e tanto, não suportava injustiça, ela ficava comovida quan-do via as mulheres e as crianças com trouxas de fumo na cabeça para levar pra fazer o servi-ço em casa, pelo meio da rua, nos passeios das casas perto dos armazéns, fazia dó! E brigava com os donos de armazéns porque não dava trabalho às mulheres dentro das empresas, ela sabia que era pra não pagar a carteira, e aí o pau quebrava. Ela não tinha medo, os enfrenta-va. (MARIA CONCEIÇÃO- LOZINHA, 2011).
Maria Joaquina foi uma líder nata, participou ati-vamente do Sindicato dos Trabalhadores do Fumo, mesmo não ocupando nenhuma cadeira dentro da insti-tuição. Segundo sua filha Jussara, defendia as causas operárias, brigava pelos direitos das mulheres, nas questões de aumento de tarefas (produção) de charu-tos, questões de saúde, questões de emprego com car-teira assinada e todos direitos trabalhistas, dentre outros. Vale lembrar que Maria Joaquina da Conceição nunca esteve no espaço de poder do Sindicato dos tra-balhadores do fumo, mas fazia valer esse poder de mili-tante de movimento social e conhecedora dos direitos adquiridos pelas leis trabalhistas e pela constituição. Maria Joaquina sofreu com a repressão no período da Ditadura Militar, foi apontada como subversiva, teve sua casa invadida pelos militares, chegou a ser presa, preci-sou se esconder, mas não desistiu da luta.
(...) Minha filha entraram lá na nossa casa uma meio dia, ela veio da Suerdieck, quando che-gou lá tenente Romualdo com um policiais pra ver se tinham alguma coisa lá... aí desmancha-ram a associação e aí foi uma perseguição muito grande com ela, Maria Benedita que era companheira dela, e outras pessoas que era pobre e tava no meio desse pessoal defenden-do e eles acharam que por baixo de tudo isso tinha alguma coisa mais forte, e aí minha filha foi uma perseguição muito grande (...). (JUSSARA, 2011).
Mulheres negras e poder na indústria fumageira
27Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

Maria Joaquina continuou sua militância pela jus-tiça social com suas companheiras. Foi uma mulher à frente do seu tempo, sindicalizada, politizada, nunca ple-iteou um cargo dentro do sindicato, muito menos políti-co, porém sentava-se a mesa de negociação com os empregadores e, na maioria das vezes, saía vitoriosa em suas reivindicações. Foi juíza classista, a favor dos empregados em 1974, função exercida na Justiça do Trabalho, para fazer as negociações das rescisões tra-balhistas quando um empregado ou empregada era demitido, sem justa causa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal deste artigo foi tentar revelar alguns aspectos das mulheres negras que estiveram nos espaços de poder da indústria fumageira da cidade de Cruz das Almas e a forma como conduziram essa per-formance, seja na presidência do sindicato, seja na subalternidade. Enfrentando, no dia a dia, as condições adversas, inclusive àquelas inerentes às relações de gênero, de raça e de classe, algumas mulheres traba-lhadoras conseguiram, nesse universo fabril, sair da invisibilidade a que eram submetiam.
As mulheres negras trabalhadoras da indústria do fumo, por muitas vezes burlaram as leis impostas pelo patronato exercendo assim o micro poder que Fou-cault discute tão bem. Os espaços de poder conquista-dos foi fruto de uma força própria da ancestralidade her-dada por mulheres negras africanas.
O espaço do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo, embora de conotação tão desigual, foi de grande relevância para essas mulheres, ali elas conseguiram evidenciar o poder que as mulheres orga-nizadas podiam ter. Embora, possa se afirmar que em função da construção dos estereótipos de gênero, que ofereciam as bases para a divisão sexual do trabalho, das 18 eleições, somente em 03 as mulheres chegaram ao poder.
Assim, pode-se constatar que as rupturas e as permanências ainda são fortes dentro dessa dinâmica. Maria Joaquina, mulher negra e fumageira, que tam-bém conquistou seu espaço político dentro desse con-texto, num período conturbado como foi a Ditadura Mili-tar e diante de toda repressão a que foi submetida, não fugiu da luta e enfrentou, politicamente, o poder instituí-do em nome de suas companheiras. Portanto, escrever parte da história das mulheres trabalhadoras da indús-tria fumageira, considerando sua atuação frente ao poder estabelecido, no sentido de burlar as reações ou de lutar pelos seus direitos e de suas companheiras é tirar-lhes da invisibilidade histórica e da situação de víti-ma apenas, a que são muitas vezes vistas. É fazê-las existir com dignidade a partir dos espaços de trabalho e político em que atuou para sobreviver e viver.
REFERÊNCIAS
ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, E., GENTILI, P. (Org.). Pósneoliberalismo – As políti-cas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
ASEVEDO, Doroty do Rego: O Trabalho Feminino na Agro-indústria Fumageira no Estado da Bahia. Dis-sertação de Mestrado UFBA. Salvador-Ba 1975.
BAER, Werner. A economia Brasileira. 2ª Ed. Revisa-da. São Paulo: 2002.
BLAY, Eva Alterman. Trabalho domesticado: a mulher na indústria paulista. São Paulo: Ed. Ática, 1978.
BURKE, Peter. (org.). A Escrita da História: Novas Perspectivas. São Paulo, UNESP 1992.
BRUSCHINI, Cristina. Gênero e Trabalho no Brasil: novas conquistas ou persistência da discriminação? (Brasil, 1985-95). In: ROCHA, Maria I. B. da. (org.) Tra-balho e Gênero – Mudanças, permanências e desa-fios. Editora 34/ABEP/NEPO-UNICAMP/CEDEPLAR-UFMG, 2000, pp.13-18.
______ e LOMBARDI, M. R. "Instruídas e trabalhade-iras: trabalho feminino no final do século XX". In: ARAÚJO, A. M. C. "Desafios da equidade". Cadernos Pagu. (número especial). Campinas, Pagu/Unicamp, n. 17/18, 2001/02, p. 157-96.
FOUCAULT, Michel. A Microfísica do Poder. (Org. e tradução de Roberto Machado). Rio de Janeiro: Edi-ções Graal, 1979.
LIBBY, Douglas Cole, Org.; FURTADO, Júnia Ferreira. Trabalho Livre, Trabalho Escravo, Brasil Europa, séculos XVIII e XIX. São Paulo, Annablume, 2006
MOTA, Alda Brito da NETO Zahidé Machado. Tempo de mulher – Tempo trabalho entre mulheres proletá-r ias em Salvador . In: SEMINÁRIO SOBRE CAPITALISMO E FORÇA DE TRABALHO, 1, 1983, Sal-vador. Anais... Salvador UFBA, 1986
NOGUEIRA, João Carlos. História do Trabalho e dos Trabalhadores Negros no Brasil (Org.). In. SILVA, Marcos Rodrigues da; LIMA, Márcia. Central Única dos Trabalhadores (CUT) 2001.
SILVA, Elizabete Rodrigues da. Fazer charutos: Uma Atividade Feminina. (Dissertação de Mestrado). Salva-dor: UFBA/FFCH, 2001.
_______. As Mulheres no Trabalho e o Trabalho das Mulheres: Um Estudo sobre as mulheres Fumageiras do Recôncavo Baiano (Tese de Doutorado) Salvador UFBA 2011.
SOARES, Cecilia C. Moreira: Mulher Negra na Bahia
Luzia Souza Ferreira; Elizabete Rodrigues da Silva
28 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.

no Século XIX. EDUNEB 2006.
SOIHET, Rachel. História das Mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamariom, VAINFAS. Ronald, Domí-nios da História: Ensaios e Metodologia. 3ª ed. São Pau-lo, Campus, 1997.
THOMPSON, Edward Palmer. A Formação da Classe Operária Inglesa vol. III a força dos trabalhadores. Paz e Terra, 2ª ed. São Paulo, 1989.
THOMPSON, Paul (1935-). A Voz do Passado - Histó-ria Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
FONTE ORAL
Josenita Souza Salomão. 60 anos. Presidente do Sindi-cato dos Trabalhadores do fumo e Alimentação de Cruz das Almas- Ba. (2011).
Maria Bernadete Pereira, 71 anos. Operária aposenta-da. Rua 02 caminho D Coplan, Cruz das Almas – Ba. (2011).
Maria Conceição. 86 anos Operária aposentada. Suza-na, Cruz das Almas-Ba. (2011).
Maria de Lourdes Sergio Queiroz, 53 anos. Ex-operária
da Fábrica Suerdieck. Travessa da Rua Tiradentes s/n, Bairro D. Rosa, Cruz das Almas – Ba. (2009).
Vera Lúcia Nascimento, 56 anos. Operária aposentada Rua Tiradentes Bairro Dona Rosa. Cruz das Almas-Ba. (2009).
Raimunda Souza, 73 anos. Operária aposentada. Rua Valtércio Barroso Fonseca, 163. Cruz das Almas – Ba. (2009 a 2011).
FONTE ESCRITA
FAMAM. Livros de registro de empregados da Suerdi-eck. Centro de Documentação e Memória da FAMAM/Cruz das Almas. (2009)
FAMAM. Fichas de Registro de Empregado da Suerdi-eck. Centro de Documentação e Memória da FAMAM/Cruz das Almas. (2009/2010)
STIFCA. Livros de Registro de Associados do Sindicato de Trabalhadores na Indústria de Fumos de Cruz das Almas. Sindicato dos Trabalhadores de Cruz das Almas. (2011)
STIFCA. Livro de Registro de chapas para candidatos a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo de Cruz das Almas.(2011)
Mulheres negras e poder na indústria fumageira
29Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 21-29, jan./jun., 2013.


FESTAS JUNINAS EM CRUZ DAS ALMAS/BA: SUAS IMPLICAÇÕES URBANAS E O PAPEL DA MUNICIPALIDADE FRENTE ÀS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO
Reinaldo dos Santos Silva*
Jânio Roque Barros de Castro**
As festas juninas se apresentam como uma das mais importantes manifestações culturais do nordeste brasileiro e sua difusão se estabelece no âmbito regional de forma mais notável em algumas cidades, que através de suas peculiaridades, atraem anualmente milhares de pessoas, tanto do entorno da cidade quanto de outras regiões. Esses deslocamentos inter-regionais são motivados na maioria das vezes, por símbolos culturais, religiosos ou não religiosos, além da intenção de festejar o São João do interior. Pretende-se por meio deste trabalho compreender os processos envolvidos, seus desdobramentos e as implicações espaciais dos festejos juninos da cidade de Cruz das Almas-BA, que é conhecida regionalmente pela ampla dimensão festiva sazonal. A fim de possibilitar o entendimento dessas questões, esse trabalho foi desenvolvido através de entrevistas e questionários à população local e representantes políticos e análise do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), além de contar com alguns autores como Corrêa, Castro, Serpa, entre outros, que serviram como aporte teórico-metodológico para o trabalho. É notório que um grande evento festivo demanda de um planejamento adequado, na medida em que grandes espetáculos podem comprometer sazonalmente, a rotina e o equilíbrio do local, e consequentemente toda dinâmica de circularidade da população. Nesse sentido, conclui-se nessa pesquisa que há a necessidade de repensar o planejamento da festa junina da cidade, na medida em que sua ampla dimensão espetacular, demanda de uma infraestrutura mais adequada.
Palavras-chave: Festas Juninas. Espetacularização. Planejamento. Desenvolvimento Urbano.
The June festivities as one of the most important cultural events in northeastern Brazil and its dissemination is established at the regional most notably in some cities, which through its peculiarities, each year attract thousands of people, both around the city as of other regions. These displacements interregional are motivated mostly by cultural symbols, religious or nonreligious, beyond the intention to celebrate St. John the interior. It is intended by this research to understand the processes involved, its aftermath and the spatial implications of the June festivities city of Cruz das Almas, Bahia, which is known regionally by wide seasonal festive dimension. In order to facilitate the understanding of these issues, this study was conducted through interviews and questionnaires to local people and politicians and analysis of the Master Plan for Urban Development (PDDU), besides having some authors as Correa, Castro, Serpa, between Others, who served as the theoretical-methodological work. It is clear that a great festive event demand for adequate planning, in that great performances can compromise seasonally, the routine and the balance of the site, and consequently the whole of the population dynamics of circularity. In this sense, this research concludes that there is a need to rethink the planning Jerk city, since its large scale spectacular, demand a more adequate infrastructure.
Keywords: June Festivals. Spectacularization. Planning. Urban Development.
*Graduando em Licenciatura Plena em Geografia - Bolsista PIBIC-CNPq, Universidade do Estado da Bahia – Campus V. E-mail: [email protected]**Doutor em Arquitetura e Urbanismo (UFBA); Professor Adjunto do DCH - Campus V – UNEB. E-mail: [email protected]
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

INTRODUÇÃO
As festas populares são de expressiva importân-cia para o entendimento do contexto sociocultural de determinadas sociedades. Nessa perspectiva, propõe-se tratar aqui, da manifestação cultural conhecida naci-onalmente como festas juninas, que ocorre praticamen-te em todo Nordeste brasileiro com destaque para algu-mas cidades que, a partir de suas particularidades cul-turais, desenvolve festejos juninos mais importantes do ponto de vista da sua projeção imagética e midiática.
O objeto de estudo deste trabalho se constitui nos festejos juninos, com recorte no São João da cida-de de Cruz das Almas. A cidade se localiza no Recônca-vo Sul da Bahia, distando 146 km de Salvador e com uma população de 58.606 hab. pelo censo demográfico do IBGE (2010). No seu espaço urbano, é realizada uma das mais importantes festas juninas do interior da Bahia e durante o período festivo, a cidade recebe cerca de cem mil pessoas segundo informações da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer.
Nesse contexto, busca-se entender a dimensão atual da festa, o seu sentido e as questões políticas e urbanas que envolvem as potencialidades turísticas da cidade, ao mesmo tempo fazendo uma associação com aspectos históricos da prática lúdico-festiva em ques-tão.
Tal estudo remete a necessidade da discussão do planejamento turístico no âmbito das festas popula-res no espaço urbano do município. Nesse sentido, este trabalho tem grande relevância como instrumento de auxilio para o planejamento urbano e do São João de Cruz das Almas enquanto manifestação cultural de importância significativa no contexto regional.
OS FESTEJOS JUNINOS NO BRASIL
As festas populares surgem acompanhadas pelos diversos cultos ou tradições, e se estabelecem, das mais diferenciadas formas, configurando-se em eventos lúdicos onde as pessoas buscam fugir da coti-dianidade do trabalho, buscando a obtenção de momentos de prazer com amigos ou familiares.
Para Castro (2009) a sociedade é dinâmica, e dessa o significado dos festejos se modificam ao longo do tempo. As inovações tecnológicas mudou a roupa-gem das manifestações, atendendo a interesses políti-cos e do Estado, e ao mesmo tempo se adaptando às novas demandas da sociedade.
Nesse contexto, o poder público pode torná-la mais complexa a partir de quando ele passa a controlar os espaços festivos, desde que o atendimento aos inte-resses políticos e do capital implicará em mudanças na estrutura dos espaços festivos, portanto causando
outras interpretações e percepções sobre determina-das manifestações.
O Brasil é conhecido pela diversidade dos seus eventos festivos, e essas particularidades fazem parte da constituição da sua identidade e de uniformização dos valores e de condutas. Partindo dessa ideia, pode-se complementar que as festas populares são impor-tantes influenciadores na identidade cultural que por sua vez pode ser transformada seguindo padrões da sociedade ou interesses políticos.
As festas populares estão vinculadas na maior parte das vezes com lazer, movimentos religiosos e ciclos de trabalho, e essas manifestações são potenci-almente reveladoras da cultura de determinados gru-pos socias. Esses movimentos são concretizados em locais amplos em que há a suspensão ou inversão de algumas normas sociais, nas ruas, avenidas ou arenas projetadas, de modo que venha atender aos anseios dos interessados.
Nesse contexto, segundo Da Matta (1987), as dimensões espaciais como a casa, a rua e a praça tor-nam-se sazonalmente importantes em diferentes níveis ao longo do tempo, e tudo isso se explica através do modelo social, político e econômico vigente. É na cida-de que se destaca a maioria dos espaços projetados de lazer, e nele as relações sociais mais complexas do ponto de vista da utilização dos espaços e equipamen-tos de uso público ou privado.
No espaço urbano que se realiza grande parte das manifestações culturais de maior reconhecimento na atualidade, que por sua vez adquirem novas caracte-rísticas através do tempo. Nesse contexto, Corrêa afir-ma que:
O espaço urbano é tanto o reflexo das ações que se realizam no presente como também daquelas que se realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente. (995, p.8)
Tais manifestações são verdadeiras encenações a céu aberto e acontecem nas ruas e praças públicas das cidades visto que são áreas amplas de uso coletivo da população, e dessa forma, os movimentos culturais possuem características particulares de identificação, onde são revividos eventos do passado, lutas, ou mitos folclóricos. Além desses aspectos podem-se destacar as questões religiosas como importantes mediadoras desses movimentos na atualidade a exemplo das festas juninas, com ênfase no São João específico do nordes-te brasileiro.
Porém outras questões são observadas no pro-cesso histórico, das manifestações de cunho religioso, aonde alguns componentes estruturais se extinguem em detrimento de outros, indicando mudanças proces-suais, transformando os caracteres de ordem religiosa e profana.
Reinaldo dos Santos Silva; Jânio Roque Barros de Castro
32 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

AS FESTAS JUNINAS NA ATUALIDADE
As características de alguns movimentos nem sempre são constantes devido ao processo de moder-nização urbana e tecnológica, o que os levam a se tor-nar eventos espetaculares com estruturas grandiosas em espaços amplos, com uma aparelhagem técnica diversificada, comprometendo na maioria das vezes, o seu significado cultural/religioso.
Serpa (2007, p.107) considera que na contempo-raneidade, o consumo da cultura parece ser o novo paradigma para o desenvolvimento urbano, onde as cidades são reinventadas a partir da reutilização das for-mas do passado, gerando uma urbanidade que se base-ia, sobretudo, no consumo e na proliferação (desigual) de equipamentos culturais. Nasce a cidade da “festa-mercadoria”.
Será que as festas populares são suficientemen-te fortes para resistirem aos impactos da crescente modernização capitalista e ao desenvolvimento de ati-vidades turísticas? É notório que as transformações de ordem cultural das fastas populares estão intimamente relacionadas a condições econômicas, sociais e políti-cas, entendendo a partir daí a importância dessa nova ordem de festas-espetáculo na sociedade.
Sobre essa questão, Castro (2009, p.69) afirma que a espetacularização da sociedade vem acompa-nhada da mercantilização e da necessidade de difundir através dos meios de comunicação, ideias, valores e culturas que antes e limitavam a uma projeção local e regional. Esse fato está associado a crescente mer-cantilização da cultura, ampliando as possibilidades e anseios do capital, através da mídia.
Nas festas-espetáculo atuais, é de extrema importância a discussão do planejamento para que se possa pensar numa forma de execução mais promisso-ra do ponto de vista da redução dos possíveis impactos sociais e ambientais provenientes da atividade turística. Para Rushmann (2002) qualquer atividade seja ela polí-tica, econômica ou social é necessário um planejamen-to prévio, a fim de evitar problemas futuros.
A finalidade do Planejamento turístico consiste em ordenar as ações do homem sobre o territó-rio e ocupa-se em direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequa-da evitando, dessa forma, os efeitos negativos nos recursos, que os destroem ou reduzem sua atratividade. (RUSCHMANN, 2002, p 9).
Assim o planejamento, em linhas gerais, significa projetar ou organizar a fim de se obter resultados eco-nômicos ou sociais satisfatórios. Não diferente de qual-quer outra forma, o planejamento turístico perpassa por essa significação e requer uma ação conjunta dos vari-ados atores, e a atuação de órgãos administrativos com-petentes na idealização e promoção de atividades e equipamentos necessários para a subsistência do turis-
mo como uma atividade de lazer e como fonte de renda.
A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM CRUZ DAS ALMAS
Cruz das Almas se destaca no cenário nacional pela promoção das festas juninas com enfoque para o São João. Até a década de 1980, predominavam os bai-les carnavalescos como manifestações mais importan-tes e logo após tais práticas lúdicas foram aos poucos sendo substituídas pelas festas urbanas com os trios elétricos, promovidas pela municipalidade.
Essas mudanças estão se intensificando ao longo do tempo, repercutindo nas formas e funções espaciais e culturais da cidade, principalmente no que tange a importância histórica das dimensões espaciais, determinada pelos interesses dos grupos promotores, nesse caso a prefeitura.
As manifestações lúdico-festivas no espaço urba-no se constituem por todos os bairros da cidade, a partir das visitas às casas de amigos e familiares, ou uma caminhada pelas praças ornamentadas durante o São João, consumindo comidas e bebidas típicas, além de adereços que compõe a simbologia cultural do período.
Nas festas espetacularizadas que são realizadas na cidade, se apresentam bandas de projeção nacional, com grande carga midiática, tornando a festa em um grande evento regional, e essa característica é capaz de explicar o intenso fluxo turístico sazonal em Cruz das Almas no mês de Junho.
Por volta de 1990, são implantados os Festejos Juninos espetacularizados na cidade pelos gestores públicos, em detrimento dos antigos carnavais e os trios elétricos, estabelecendo-se uma modalidade festiva, corrompida pelos interesses do capital, caracterizando-se, portanto, como um marco para uma configuração pri-mitiva e espetacular do são João de Cruz das Almas.
Festas juninas em Cruz das Almas/BA: suas implicações urbanas e o papel da municipalidade frente às políticas de planejamento
33Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

Considera-se que os eventos festivos podem interferir significativamente na dinâmica espacial local. É importante, portanto, pensar num planejamento por parte dos órgãos responsáveis, estabelecendo as deci-sões de acordo com as necessidades da comunidade.
Os principais locais públicos frequentadas pelos foliões são a Praça Senador Temístocles, Praça Multiu-so e Praça do Sumaúma (Bairro Lauro Passos). A Praça Senador Temístocles, por exemplo, se localiza no cen-tro comercial, próximo a Prefeitura Municipal, Bancos e a Igreja Matriz da cidade e era um antigo local de reali-zação da abolida prática da “Batalha de Espadas”. Tal praça foi recentemente reformada pelo poder público municipal em 2010.
A reforma da Praça Senador Temístocles atende à proposta prevista no PDDU da cidade, atualizada em 2008, que prevê a:
Qualificação urbanística e paisagística da sede, de modo a propiciar um ambiente que res-ponda às necessidades dos moradores quanto à qualidade dos serviços básicos, lazer, cultura e outros. (PDDU, 2008, p.12).
É percebido, a partir de medidas como essa a cri-ação de estratégias, através da consolidação de atribu-tos paisagísticos para fomentar o desenvolvimento soci-al e econômico. Assim sendo, o poder público completa o sentido com a importância da qualificação urbanística e paisagística da área do centro tradicional de modo a reforçar a referência e o caráter simbólico de centralida-de local e regional. (PDDU, 2008, p.12).
Observa-se que a proibição da prática da batalha de espadas determinada pelo poder judiciário munici-pal, leva em consideração, entre outras razões, a refor-ma da praça principal e a questão da preservação urba-nística e paisagística da cidade, considerando que as espadas são artefatos capazes de depredar equipa-mentos particulares e de uso coletivo.
Figura 01 - Praça Senador Temístocles Passos
Fonte: Reinaldo Silva. Saída de Campo, Janeiro de 2012.
Assim como a Senador Temístocles Passos, a Praça do Sumaúma, localizada no bairro Lauro Passos, próximo ao centro da cidade, se destaca no que tange o São João no sentido de sediar o “Arraiá”, ou seja, o momento culminante dos festejos. O bairro onde se localiza a praça é composto por moradores de classe média, e possui estrutura plana com ruas largas, interli-gadas ao centro, e sem dúvida, esses fatores contribuí-ram para a sua escolha pela prefeitura.
A Praça do Sumaúma tem esse nome em decor-rência de uma grande árvore que foi reservada no local é um espaço pouco frequentado em relação às outras. Tal situação se deve pelo fato da população do bairro ser de classe média, e a partir daí não ter o hábito de caminhar, pois a maioria dispõe de meios de transpor-tes, mantendo uma relação indireta com esse espaço público.
Por ser uma área consideravelmente tranquila, do ponto de vista do fluxo de pessoas, a mesma é utili-zada como espaço de caminhada matinal e andar de bicicleta ou skate, além de ser utilizada para treinamen-to ou provas de autoescolas, como se pode observar na figura 02.
Desse modo, é percebido que o bairro foi plane-jado no intento de proporcionar um cotidiano confortá-vel aos moradores, fato que é contraditório durante os festejos de São João. É, portanto nesse espaço que se realiza o grande espetáculo junino de Cruz das Almas, e nesse período a praça recebe, segundo a prefeitura, mais de cem mil pessoas, o que seria uma quantidade questionável para a capacidade do local.
Figura 02 - Praça do Parque Sumaúma
Fonte: Reinaldo Silva. Saída de campo, Janeiro de 2012.
Reinaldo dos Santos Silva; Jânio Roque Barros de Castro
34 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

Além do Arraiá da Cultura Popular I no Parque Sumaúma, é também realizado o Arraiá da Cultura Popular II na Praça Multiuso ou Praça Ramiro Eloy Pas-sos. A Praça Multiuso ou Ramiro Eloy Passos se consti-tui como um espaço alternativo em que as pessoas que preferem uma festa mais tranquila podem frequentar.
O P L A N E J A M E N T O D O S Ã O J O Ã O N A P E R S P E C T I VA D O P L A N O D I R E TO R D E DESENVOLVIMENTO URBANO (PDDU)
O planejamento e a organização correta de mani-festações culturais que atraem grande massa, princi-palmente em espaços públicos, são de fundamental importância para garantir o sucesso de tais projetos, de acordo com os anseios e necessidades da população envolvida e dos foliões.
Nesse sentido, pensar no planejamento festivo junino no âmbito de cidades como Cruz das Almas implica na ideia de construção de propostas concretas a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, a fim de solucionar problemas do passado e prevenindo futuros.
Nessa perspectiva, o PDDU do referido municí-pio contempla o São João no sentido de buscar, como proposta de estruturação espacial:
Contribuir para fomentar e fortalecer a história e as manifestações culturais locais, sobretudo em relação aos Festejos Juninos, e na sua difu-são enquanto valor social. (PDDU, 2008, p. 65).
A garantia do sucesso de projetos como este, se dá entre outros fatores, pela consolidação de uma políti-ca de infraestrutura urbana adequada, com a participa-ção coletiva e equilibrada nos benefícios. Tal projeto foi votado em audiência na categoria 3, de acordo com seu grau de importância em relação aos demais. Assim sen-do, as categorias 1, 2 e 3 seriam respectivamente importantes, urgentes e prioritários.
No que tange ao “Projeto espaço do São João”, reconhece-se a importância de se pensar na relocação do espaço a partir da capacidade do Parque Sumaúma.
No entanto, a festa ainda carece de uma melhor estruturação, sendo indicada a realiza-ção de estudos e plano específico que contem-ple, dentre outros aspectos, o local mais apro-priado, a infraestrutura para realização do even-to e medidas para recuperação dos investimen-tos do Poder Público, mediante utilização de instrumentos fiscais. (PDDU, 2008, p.47).
Sobre essa questão, a relocação é sem dúvida uma alternativa de melhoria da qualidade dos festejos na cidade, a partir da redução da densidade massiva da festa. Além da importância do planejamento espacial, a relação custo/benefício deve ser analisada, de modo que o investimento na promoção da festa não onere a receita municipal, proporcionando prejuízos aos cofres públicos e, portanto à população.
Pensar na população que reside no Parque Sumaúma reforça ainda mais essa necessidade, desde que a mesma consiste num bairro residencial, e desse modo, o espetáculo modifica completamente a dinâmi-ca da mesma.
A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turis-mo e Lazer, em consonância com o Plano Diretor, consi-dera a inviabilidade de adquirir outro local, por algumas razões relevantes. Primeiro porque o investimento para a montagem de uma infraestrutura adequada seria muito cara, tanto no quesito da dimensão quanto ao preço de lotes de terra por m² na cidade de Cruz das Almas, que é considerado muito elevado.
Mas, portanto o que deve ser feito? Esse questio-namento deve ser debatido, uma vez que as questões de ordem cultural são de nível 3, ou seja, prioritárias, segundo o PDDU. Nota-se então, a partir da análise do Plano Diretor, que o poder público municipal não apre-senta propostas ou projetos definitivos para que acon-teça a relocação do espaço da festa. Além da questão da relocação, a polêmica das Espadas não apresentou sucesso no que tange ao projeto “Discutindo a Guerra de Espadas” do Plano diretor, pois o fabrico e a queima do artefato foram definitivamente proibidos.
Este projeto deve agregar ainda, ações de fis-calização da utilização das espadas nos feste-jos juninos, além de medidas educativas com vistas a um exercício mais consciente e res-ponsável da “guerra de espadas”, com a reali-zação de seminários e produção de cartilha que trate de temas como os cuidados a serem adotados pelos espadeiros, locais desaconse-lháveis para a ocorrência das “guerras de espa-da”, respeito ao patrimônio público e à seguran-ça dos moradores da cidade etc. (PDDU, 2008, p.31).
Com a partir da proibição da prática, ficou claro
Figura 03 - O Espetáculo Junino no Sumaúma.
Fonte: Reinaldo Silva. Saída de Campo, Junho de 2012.
Festas juninas em Cruz das Almas/BA: suas implicações urbanas e o papel da municipalidade frente às políticas de planejamento
35Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

que não se obteve êxito no que se refere à educação dos espadeiros e da padronização e determinação de locais adequados proporcionando, portanto danos ambientais e ao espaço público.
Importante salientar que as espadas se constitu-íam em um atributo cultural muito importante, no que tange a divulgação do ponto de vista midiática do São João. Portanto, diante de polêmicas como essas, vê-se a necessidade de uma nova revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Cruz das Almas.
A PERCEPÇÃO DA FESTA PELA POPULAÇÃO
A festa de são João de Cruz, com certeza é uma das mais importantes do ponto de vista do fluxo de foliões da Bahia e do Nordeste brasileiro. Dentre os entrevistados todos afirmaram participar diretamente ou indiretamente do evento nos diversos espaços. A Praça Multiuso, por exemplo, é frequentada principal-mente por pessoas idosas ou pais com crianças, sendo que o local oferece, segundo os entrevistados, uma opção de lazer mais tranquila com bandas locais.
A Praça do Sumaúma consiste numa opção de diversão mais radical no que tange a maior concentra-ção de pessoas e pelas apresentações de artistas de nível regional e nacional. Assim sendo, é notória uma distribuição espacial hierarquizada da festa, percebida pela importância desse espaço. Conforme a Figura 04 as atrações musicais se constitui como fator de atração de foliões para o espetáculo.
A partir da leitura da Figura 04, fica claro que as atrações musicais não estão sozinhas em relação à atra-ção de foliões. Pode-se ainda observar que a Batalha de Espadas era até então o principal elemento “magné-tico” que instigava a visita e participação dos turistas no espetáculo, graças a sua beleza pirotécnica revestida pelo perigo. Levando em consideração a opinião públi-ca, a questão das Espadas gerou e ainda gera muitas polêmicas entre os moradores, devido a sua importân-cia cultural.
Figura 04 - Fatores de Atração do Visitante
Fonte: Reinaldo Silva. Saída de Campo, Janeiro de 2012.
As AtraçõesMusicais 30%
A Batalha deEspadas 50%
Planejamento daFesta 20%
Em terceiro lugar e não menos importante se observa o planejamento da festa pelo poder público municipal. Porém, segundo o gráfico, o planejamento como fator de atração não ocupa posição de destaque, tendo em vista que apenas 20% das pessoas manifes-tou sua opinião nesse sentido, sendo que os elementos que compõe o espetáculo tem mais poder.
O gráfico abaixo representa o planejamento e organização no âmbito das Festas Juninas do ponto de vista da sua avaliação.
Com base nas informações do gráfico 45% das pessoas classificaram a organização da festa como “boa”, justificando que o poder público municipal ofere-ce toda infraestrutura necessária para os tipos de foliões. Cerca de um terço afirmaram que o planeja-mento pode ser considerado como regular, na medida em há a necessidade de se pensar nos problemas soci-oambientais que envolvem o evento.
Parte da amostra avaliou o planejamento da festa como ruim, justificando que o espaço para a festa (a Praça do Sumaúma) não comporta a quantidade de foliões que prestigiam o espetáculo, pois para a sua dimensão atual torna-se necessária uma relocação.
Figura 04 - Avaliação do Planejamento da Festa
Fonte: Reinaldo Silva. Saída de Campo, Janeiro de 2012.
Bom 45%
Regular 32,5%
Ruim 22,5%
É percebido que as opiniões são variadas no que toca à questão organizacional e estrutural da festa como todo. Em relação às consequências da promoção do São João, os moradores apontaram como positivo o fluxo de turistas que fomenta o comércio e consequen-temente aumento dos postos de trabalhos temporários, principalmente em hotéis, lanchonetes e restaurantes da cidade.
Além do papel econômico, a questão da intera-ção cultural e entretenimento foram apontados como fator positivo, contribuindo dessa forma para divulga-ção da cidade para o país. Considera-se que é impor-tante refletir em que medida às questões apresentadas acima podem ser consideradas como positivas.
Como aspectos negativos, foi dada uma atenção especial para a questão da poluição sonora e ambien-tal, levando em conta o fluxo de foliões no espaço urba-
Reinaldo dos Santos Silva; Jânio Roque Barros de Castro
36 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

no, principalmente na Praça Senador Temístocles Pas-sos e no Sumaúma. A falta de estrutura suficiente pro-voca engarrafamentos constantes, comprometendo a dinâmica funcional da cidade.
Em entrevista com Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, foi colocada a ques-tão da proposta de relocação, com o intuito de minimi-zar os distúrbios causados pela concentração de foliões no espaço principal. Segundo o secretário:
“Eu acho que na minha opinião de secretario e cruz-almense, não tem como relocar porque se sair da praça do sumaúma, vai pra qual lugar? A nossa cidade não tem áreas amplas abertas desocupadas e a gente vê que tem essa preo-cupação, pois alguns terrenos que utilizamos são alugados e anos após ano são construídos novas casas e há uma preocupação para que não haja uma concentração muito grande de foliões na praça do sumaúma.” (Mário do Jor-nal, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer).
Percebe-se a partir daí, que existe uma dificulda-de para a relocação da festa devido à falta de espaços amplos e disponíveis. Assim sendo, a alternativa para o secretário seria então, promover um equilíbrio entre as duas principais praças, ou seja, a descentralização da festa.
“... e a alternativa no momento é colocar ban-das de peso tanto na Praça do Sumaúma quan-to da Praça Multiuso, sendo uma forma de divi-dir o público, vamos supor, no mesmo horário você tiver Flávio José na Praça do Sumaúma você tem Adelmário Coelho na Praça Multiu-so... nem todos gostam de Flávio José ou Adel-mário Coelho, então uma parte vai ficar numa praça e um parte vai ficar na outra e então o que poderia fazer em relação a esse problema é essa investida. Então seria equilibrar com novos espaços... vai aumentar o custo vai.”.” (Mário do Jornal, Secretaria de Esporte, Cultu-ra e Lazer).
Para o secretário, a melhor alternativa seria a des-centralização da festa, colocando bandas de peso, tanto no Parque Sumaúma, quanto na Praça Multiuso. Essa proposta é baseada no exemplo do carnaval de Salvador, que por sua vez, foi descentralizada com obtenção de sucesso.
Uma das reflexões mais pertinentes dos morado-res consiste no direcionamento da renda proporcionada pela festa. Será que os benefícios econômicos aten-dem realmente a toda a população ou apenas a uma minoria estabelecida em seus pontos comerciais, resta-urantes ou hotéis? Será que as propostas do PDDU são suficientes para atender as demandas dos festejos?
Voltando a indagação inicial desse trabalho, no tocante à força das festas populares para resistirem aos impactos da modernização capitalista, conclui-se que, as mesmas não são capazes de se manter sem a
influência dos modelos e padrões de natureza capitalis-ta, entendendo que tais influências interferem não só nas estruturas espaciais projetadas, mas também na mentalidade dos espectadores, consequentemente na demanda da sociedade como todo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema capitalista de produção do espaço faz parte dos fatores que influenciam os padrões da socie-dade, alterando de modo cada vez mais frequente, as demandas, anseios e necessidades. Assim, uma mani-festação cultural, que por sua vez remete a concretiza-ção das práticas de um povo, sofre demasiadamente, adaptações de acordo com esses padrões. A concep-ção de espetáculo é aplicável para os festejos juninos de Cruz das Almas – BA.
Com base na pesquisa, pode-se constatar que a cidade referida possui uma dinâmica festiva muito intensa, do ponto de vista do grande público e de sua projeção imagética, com repercussão nacional, onde se apresentam de peso midiático considerável. Assim sen-do, os impactos são notáveis, a exemplo da superlota-ção do espaço, considerado insuficiente para compor-tar o grande público. Nesse sentido, pensar numa festa junina organizada remete a necessidade de melhorar o seu planejamento a partir das ferramentas legais a exemplo do PDDU.
Numa perspectiva propositiva, entende-se a rele-vância de revisão do Plano diretor, no tocante às priori-dades e demandas para as manifestações populares da cidade, mais especificamente, o São João como prin-cipal festa. Ainda nessa perspectiva, vê-se a necessida-de do poder público repensar na população como o todo, não apenas no que se refere à infraestrutura, mas sim, converter as potencialidades turísticas em desen-volvimento.
REFERÊNCIAS
CASTRO, Jânio Roque Barros de. Dinâmica territorial das festas juninas na área urbana de Amargosa, Cachoeira e Cruz das Almas - BA: espetacularização, especificidades e reinvenções. Santo Antônio de Jesus, 2009.
CORRÊA, Roberto Lobato. “Cultura e cidade: uma breve introdução ao tema”. In: Ana Fani, Alessandri Car-los e Amália Inês Geraiges Lemos (orgs.). Dilemas urba-nos: novas abordagens sobre a cidade. São Paulo: Con-texto, 2003.
_____ A Geografia Cultural e o urbano. In: CORRÊA, R. Lobato e ROSENDAHL, Zeny (Orgs). Introdução à Geografia Cultural. 1ª edição. Rio de Janeiro: Ber-
Festas juninas em Cruz das Almas/BA: suas implicações urbanas e o papel da municipalidade frente às políticas de planejamento
37Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

trand-Brasil, 2003.
CRUZ DAS ALMAS. Plano Diretor de Desenvolvi-mento Urbano. Relatório Final. Cruz das Almas, 2008.
DAMATTA, Roberto. A casa e a rua. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
HARVEY, David. . Condição pós-moderna: uma pes-quisa sobre as origens da mudança cultural. 2. Ed. São Paulo: Loyola, 1993. 349 p. ISBN 85-15-00679-0 (broch).
____. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.
RODRIGUES, Adyr Balastreri (Org.) Turismo e desen-volvimento local. 3. Ed. São Paulo: Hucitec, 2002.
RUSCHMANN, Doris Van de Meene. Turismo e plane-jamento sustentável: A proteção do meio ambiente. Campinas, SP: Papirus, 1997.
SERPA, Angelo. O espaço público na cidade con-temporânea. São Paulo. Contexto, 2007.
SWARBROOKE, John. Turismo sustentável: concei-tos e impactos ambientais. São Paulo: Aleph, 2000.
YÁZIGI, Eduardo, CARLOS, Ana Fani Alessandri, CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Turismo: Espaço e pai-sagem e cultura. 2. Ed. São Paulo. Hucitec 1999.
Reinaldo dos Santos Silva; Jânio Roque Barros de Castro
38 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 31-38, jan./jun., 2013.

O TREM E A COMUNIDADE QUILOMBOLA NA CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS-BA
Nilton Antonio Souza Santos*
O presente artigo apresenta como objeto de estudo a formação Comunidade Quilombola na cidade de Cruz das Almas. O objetivo norteador foi compreender a relação do trem com a comunidade da linha, a pesquisa está concentrada entre os anos de 1938 a 1950, a escolha desse recorte se deu aproximadamente no ano de 1938, quando surge à comunidade com a chegada dos primeiros moradores, e na década de cinquenta começava a construção da linha nova, que tinha como intuito de facilitar o transporte da estação velha para o centro da cidade. A partir das memórias e narrativas dos moradores da cidade, das experiências e vivências deles, possibilitou entender as várias maneiras que o trem contribuía para o desenvolvimento e crescimento da cidade assim como da comunidade, associando ao surgimento e formação da mesma. O trem proporcionou sociabilidades e práticas no cotidiano da cidade contribuindo na mudança do espaço e trazendo uma nova dinâmica nas relações entre o trem e as pessoas. A partir de tal analise, o estudo foi desenvolvido no contexto. O estudo utilizou-se, como fonte privilegiada, os depoimentos de ferroviários aposentados, moradores e ex-moradores da comunidade e da cidade. Além das fontes orais, foram analisadas fontes escritas como jornais e fontes imagéticas como fotografias.
Palavras- chave: Comunidade Quilombola. Trem. Cruz das Almas.
This paper presents an object of study the formation Quilombo Community in the city of Cruz das Almas. The guiding objective was to understand the relationship with the community of the train line. The research is concentrated between the years 1938 to 1950. The choice of this cut was in the year 1938 when the community comes up with the arrival of the first inhabitants, and 1950 is the year that will begin construction of new line, which had as its objective to facilitate transport to the old station the city center. From the memories and narratives of the city's residents, their experiences and the experiences made it possible to understand the various ways that the train contributed to the development and growth of the city and the community, linking the emergence and formation of the same. The train provided sociability and practices in the life of the city contributing to the change of space and bringing a new dynamic in relations between the train and people. From this analysis, the study was developed in the context. The study was used as a singular source, the testimony of railroad retirees, residents and former residents of the community and the city. Apart from oral sources, written sources were analyzed as newspapers and photographs as source imagery.
Keywords: Quilombo Community. Train. Cruz das Almas/BA.
*Especialista em História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Faculdade Maria Milza/BA); E-mail: [email protected].
INTRODUÇÃO
No inicio do século XX a produção brasileira se locomovia em lombos de animais, e costas de homens, o aumento das produções fez com que houvesse a necessidade de transporte que escoasse a economia em maior quantidade por um custo bem menor. Devido a essa necessidade é inaugurada a primeira Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), por sua vez, construiu no ano de 1886 uma ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa nova estrada de ferro diminui o tempo nas viagens, que dependendo do percurso leva-ria até semanas, quando feita por animais ou a pé.
O transporte ferroviário fez parte da ascensão da economia brasileira em meados do século XIX, e teve grande importância no desenvolvimento das cidades no Brasil, na maioria delas construídas com fins comercia-is, com o objetivo de transportar mercadorias como:
café, açúcar, farinha, fumo e outros produtos de peso. E em seguida usada para transportar pessoas, passando a ser um dos mais importantes meios de transporte mais usados da época.
Alguns documentos analisados afirmam que os primeiros trilhos da Estrada de Ferro chegam a Salva-dor com seus primeiros metros, saindo do centro da cidade, passando pelo porto até Mapele, esse seria os primeiros 21Km da Estrada de Ferro por volta de 1860. (SALVADOR, Rede Ferroviária Federal S/A, p. 4).
Aliado a esse estudo sobre o Trem na Cidade de Cruz das Almas, torna-se viável perceber uma possível relação, baseando-se na perspectiva de estudos cen-trados nas comunidades remanescentes de quilombos. Esse projeto está centrado na linha de estudos Afro-brasileiros, com o objetivo de compreender a relação do trem e a Comunidade Quilombola, uma vez que, existe toda uma interdependência, pois essa comunidade é
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

composta em sua maioria por negros, conhecida como “Comunidade da Linha”, por conta da linha do trem no devido espaço.
A metodologia desempenhada nesse estudo foi composta por alguns documentos, projetos referentes ao tema, bibliografias que discutem a temática aqui exposta, entrevista com moradores e ex-moradores da comunidade quilombola, a fim de entender como se dava a relação entre o trem e a comunidade. A realiza-ção desse trabalho consiste em contribuir para a pes-quisa no âmbito histórico e acadêmico, visando identifi-car o conhecimento da existência dessa comunidade.
Segundo alguns relatos, o trem tinha uma impor-tância fundamental no cotidiano das pessoas, sendo o principal agente responsável para formação dessa comunidade. Contudo, analisar essas experiências de vida formada por uma comunidade negra de gente sim-ples, num Recôncavo diversificado socialmente e cultu-ralmente, reflete a relevância do valor social que possui esta pesquisa, dando valores a esses sujeitos antes relegados pela historiografia.
Nessa expectativa o presente artigo está organi-zado na seguinte divisão: o trem na cidade e a comuni-dade. Assim o presente estudo terá um grande signifi-cado para historiografia baiana, já que existem poucos trabalhos na região sobre esses grupos.
É preciso ainda considerar que estimular a dis-cussão sobre estudos centrados na área Afro-brasileira, viabiliza toda uma produção histórica que por muitos é relegado, sem o menor valor e atenção a qual merece. Um estudo também pautado no social em seu âmbito local torna-se imprescindível, o que permite tam-bém deixar viva a história dos remanescentes de qui-lombo no Brasil, podendo ainda colaborar para colocar no cenário historiográfico regional/local todo um levan-tamento de fontes históricas sobre o trem e a comunida-de quilombola no presente município.
O TREM NA CIDADE
A estação de Cruz das Almas está ligada á Estra-da de Ferro Central da Bahia, linha Sul, que liga-se ao trecho que prossegue fazendo junção com a Estrada de Ferro do Brasil em Minas Gerais. “Até as duas primeiras décadas do século XX, a maioria das viagens da Bahia para o Centro- Sul do país era basicamente a pé, ou em lombos de animais” (ESTRELA, Educ, 2003).
A chegada do trem vai conectar os Estados, as pessoas, e resolver problemas e interesse das elites da época. Um dos inventos que vai surgir nesse momento é a primeira locomotiva no início do século XIX com alguns quilômetros e com velocidade abaixo de 20Km/h, pelo Engenheiro Inglês George Stephenson, dando inicio a Era das Ferrovias.
Figura 1 - Estação Velha de Cruz das Almas,em Ruínas. (11/08/2009)
Fonte: Arquivo Pessoal Nilton Antonio Souza
Antes da chegada da Estrada de Ferro ao Brasil, a produção brasileira se locomovia nas estradas de terra as margens do rio, por lombo de animais, carro de bois, costa dos homens além do Transporte Flúvio – Marítimo; produtos como café, cana de açúcar, algodão entre outros produtos agrícolas. O aumento nas produ-ções de mercadorias fez com que houvesse uma necessidade de um transporte que escoasse em maior quantidade, pois havia muitas dificuldades para trans-portar as mercadorias de uma região para outra, já que, os meios de transporte existentes eram muitos escas-sos e lentos. Além de transportar em maior contingente as mercadorias, o transporte ferroviário surgia como moderno e rápido para aquela época. Segundo Estrela:
O deslocamento para o Centro- Sul era peno-so, difícil, dispendioso, exigindo das pessoas enorme desgaste físico e emocional. As condi-ções das chamadas estradas reais eram péssi-mas colocando em risco a vida de viajantes que s e a v e n t u r a v a m a p e r c o r r ê - l a s . (ESTRELA,2003, p.78)
Para melhoria e dinamismo, o governo incenti-vou algumas empresas nacionais e internacionais, garantindo algumas isenções para que elas incentivas-sem a vinda da Estrada de Ferro para o país.
No inicio da instalação da Estrada de Ferro Cen-tral da Bahia (EFCB), quem era Prefeito na cidade de Cruz das Almas era o Major Alberto, filho do Senador Temístocles. A abertura da linha naquela época estabe-leceu um traçado e dependia das pessoas que morava nos terrenos para autorizarem a abertura. Para a Rede Ferroviária dá procedimento á instalações dos trilhos principalmente no Recôncavo Baiano foram precisas algumas negociações entre o poder público e privado em Cruz das Almas. Os políticos que estavam no poder tinham forte influência nas decisões políticas, econômi-cas e no direcionamento da cidade. O trem iria passar por onde hoje é chamada Rua Rio Branco.
De acordo com a memória coletiva, várias ver-
Nilton Antonio Souza Santos
40 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

do casamento foi de trem, esse meio de transporte pro-porcionou para a vida do casal, de alguma forma, sen-sações e emoções indelegáveis na memória dos prime-iros dias da vida conjugal. Por outro lado percebe-se na entrevista de D. Maria, que foi também um momento de dificuldade quando a mesma chegou na cidade ás dez horas da noite, momento em que a cidade já “adorme-cia”,carregando muitos de seus utensílios e foi na esta-ção que ela conseguiu abrigo para guardar seus perten-ces, pois a dificuldade em ter um transporte para o cen-tro da cidade era muita. Desta forma observa-se que a Estação de Cruz das Almas se configurava como um lugar multifuncional. Milton Santos escreve que “os meios de transportes existentes na época eram apenas o carro de boi, o lombo dos animais e as costas do homem, além de transporte flúvio- Marítimo por inter-médio de barcaças” (SANTOS, 1998, P. 71).
De acordo com os relatos acredita-se que havia muita dificuldade para sair da região por outros meios de transportes, as estradas eram irregulares, muitos buracos, e os transportes eram poucos, então para se locomover de um município para outro, o trem era o mais confiável, mesmo com atrasos que não deixavam de ocorrer, existia o horário.
A Estação do Pombal foi aberta pela E. F. Central da Bahia na sua linha principal, em 1881. Com trecho de São Feliz a Machado Portela nessa época Cruz das Almas ainda não era município, emancipando-se nos anos de 1889, dezesseis anos após a inauguração da E. F. C da Bahia, o prédio que hoje está em ruínas foi reconstruído em meados dos anos 40, pelo Engenheiro Eurico Macedo. (SÁ, 2007). Nesse momento a Estação do Pombal passou a ser chamada de Estação de Cruz das Almas, alguns anos depois quando constrói o Ramal no centro da cidade, a Estação velha passa a ser cha-mada de Estação Eurico Macedo e o Ramal que seria a Estação Nova, fica com o nome de Cruz das Almas.
sões explicariam o motivo para o Trem não ter passado no Centro de Cruz das Almas, segundo Maria de Lur-des, “existiu um canavial na rua: Rio Branco que proibi-do pelo seu proprietário, impediu que a Estrada de Ferro passasse pelo centro da cidade” (Maria Lurdes, 28.10.2009). Já o senhor Alino Mata Santana em seu depoimento conta que:
Quando Temístocles soube que o Trem iria pas-sar por ali, ele foi ao Rio de Janeiro na Compa-nhia, anunciar a proibição da linha no centro da cidade, alegando que deixaria de fazer suas “sestas” depois do almoço por causa do baru-lho do trem, incomodaria no seu descanso. (04.10.2009).
As elites políticas de Cruz das Almas exerciam uma relação significativa com as elites políticas nacio-nais, o poder desse homem teve forte influência na geo-grafia da cidade. Segundo relato de Alino Mato Santana:
Cruz das Almas ainda era muito pequena, uma vilazinha com pouco mais de mil habitantes, havia poucas casas na praça. As que ficavam em mais destaque era a do Senador Temístho-cles e do filho dele Major Alberto que ficou conhecido como o mais poderoso político local. A cidade era praticamente a praça, tinha um pedaçinho onde hoje é a rua da vitoria, um peda-cinho da rua dos poções o resto era tudo mata,-tinha um caminho que ia da cidade para Esta-ção do Pombal, as ruas iniciais que partia da praça para Estação passou a ser chamadas, Rua da Estação, estrada que levaria a Estação do trem e rua Rio Branco ou estrada de ferro como é conhecida, onde iria passar o Trem. Como a Estação do Pombal ficou muito longe do centro da cidade, as pessoas pra chegar á Estação normalmente iam caminhando ou de animal. (04.10.2009).
Aproximadamente seis quilômetros separam a centro da cidade de Cruz das Almas para Estação Fer-roviária, para as pessoas embarcarem, quando dispo-nível fretavam os escassos transportes até a Estação, ou partiam a pé caso optasse. Segundo a moradora de Cruz das Almas D. Maria de Lurdes conta que “O trem foi o transporte mais utilizado pelos moradores, viajan-tes e comerciantes de Cruz das Almas, atendia as necessidades da população, o trem era o único meio de transporte que existia”. Em sua entrevista D. Maria de Lurdes diz que:
Quando eu casei, vim morar em Cruz das Almas de trem, cheguei aqui as dez horas da noite, não tinha como trazer as coisas todas, pegou o de mais necessário o resto ficou no gal-pão da estação pra pegar no outro dia, e toda vez que eu queria viajar para Castro Alves ou outro lugar era de trem, não tinha outro trans-porte. (LURDES, 28.09.2009)
A primeira viagem de D. Maria de Lurdes depois
Figura 2 - Estação de Cruz das Almas, área de embarcação de pessoal (11/08/2009)
Fonte: Arquivo Pessoal Nilton Antonio Souza
O trem e a comunidade Quilombola na cidade de Cruz das Almas-BA
41Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

O trem era um dos meios privilegiados de trans-porte no município de Cruz das Almas que ligava uma região a outra, que fazia a interlocução, a troca de cultu-ra, adentrava fazendas, matas e plantio. Serviu para transportar muitas pessoas para as varias regiões do Brasil por onde passou os trilhos da Leste Brasileiro. O transporte ferroviário tinha várias funções em Cruz das Almas, tanto para atender a população da cidade como no Recôncavo em geral, além de trazer muitas matérias prima, o trem era muito utilizado para mover a economia de Cruz das Almas.
O trem fez parte da ascensão da economia brasi-leira em meados do século XIX, e não foi diferente na região onde hoje está localizada a cidade de Cruz das Almas, teve grande importância para sua construção e desenvolvimento.
A Estação de Cruz das Almas já foi por décadas lugar de sociabilidade, hoje encontra abandonada, e apesar do desprezo, ainda funciona como transporte de cargas seguindo a linha Sul, de Salvador a Minas Gera-is, seguindo para São Paulo ao longo do tempo. A estra-da em seu percurso passou por diversas cidades e loca-lidades entre elas: São Felix, Muritiba, Cruz das Almas, Castro Alves, Iaçu, Queimadinhas, Bandeira de Melo, Itaité, Machado Portela, Iramaia,Contendas, Brumado, Caculé, Urandir, Espinosa, Mamonas, Monte Azul no Estado de Minas Gerais. Sendo incorporada em 1957, com todos os seus bens ao Patrimônio da Rede Ferro-viária Federal S/A.
Com bases nessas informações e percebendo a importância que teve o trem para a cidade de Cruz das Almas, criou um olhar atento e curioso para a comuni-dade da linha, atual comunidade quilombola, um estudo centrado na investigação sobre a relação que teve o trem com a formação da comunidade.
A COMUNIDADE DA LINHA EM CRUZ DAS ALMAS
A comunidade negra rural da linha, que localiza-se a quatro quilômetros do atual centro da cidade de Cruz das Almas é composta por famílias que se instala-ram nas proximidades da linha do trem e por ventura foram construindo suas casas, e ali foram feitas as roças para o abastecimentos das famílias que naquele espaço se formaram. Inicialmente só havia casas de taipa e casas de palhas, e assim foi desenvolvendo-se a comunidade no espaço próximo a linha férrea.
Assim nesse contexto conceitua-se o termo rema-nescente de Quilombo que recaí a idéia de que há uma existência/sobrevivência da comunidade que por certas vias depende da historização do seu passado. Segundo Reis e Gomes:
No Brasil essa memória não é absolutamente apagada, se consideradas as comunidades chamadas de remanescentes de quilombos
que realmente podem traçar seu passado até agrupamentos constituídos antes da abolição, em 1888. (REIS E GOMES, p.10 1996).
Tendo como fonte metodológica a memória oral, percebe-se a importância desses relatos, onde mora-dores que ali vivem ou viveram resgatam a historicidade desses sujeitos para a formação que compõe a comuni-dade.
Para melhor aprofundamento desse estudo tor-nou-se imprescindível, conceituar algumas palavras chaves que são pertinentes ao desenvolvimento da mesma. Para iniciar coloca-se em face á semântica da palavra/termo quilombo, como escreve a autora Gloria Moura:
Quilombo tem etimologia no idioma africano quimbundo (...) derivaria de Kilombo, socieda-de iniciática de jovens guerreiros mbundu ado-tada pelos invasores jaga ou imbangala, estes formados por gente de grupos étnicos desenra-izada de suas comunidades. (MOURA,1996, p.328)
(...) quilombo contemporâneos no Brasil, comu-nidades integradas á humanidade, cuja diversi-dade cultural precisa ser respeitada e reconhe-cida. Para o imaginário brasileiro, quilombo foram agrupamentos de africanos escravisa-dos fugidos de engenho, fazendas e minas que tentaram reproduzir vida comunitária á seme-lhança da África, terra de origem, para fugir dos maus-tratos infligidos pelo senhorio branco europeu. Cabe tratar de quilombo contemporâ-neo comunidades remanescente, terras de pre-to, mocambos, terras de santo ou santíssimo ou terras de herança sem formal de partilha que o movimento social fez sinônimas, aplicando o artigo 68 da Constituição. Desvela parte da his-tória do negro no Brasil atual. (MOURA, 1996, p. 327/328,)
Conforme o conceito do termo Quilombo, extraí-dos do autor acima podemos re-significar a importância e transparecer um pouco da historização da então comunidade quilombola, que tem como início da sua for-mação aproximadamente no ano de 1938. (D. Constân-cia, 22.09.2011)
D. Constança uma das moradoras mais antigas da comunidade conta que veio de uma família de ori-gem muito humilde e morava no terreno da atual escola de Agronomia, aos dezessete anos já trabalhava como arrendeira na fábrica de fumo, nessa época, o Governo Federal praticamente expulsou os moradores e fazen-deiros do terreno que ali residiam. A mesma afirma que alguns moradores não receberam nem se quer aviso que seriam expulsos, esses moradores e fazendeiros foram obrigados a deixar suas casas, sendo que os fazendeiros receberam uma pequena gratificação do governo como forma de pagamento da sua retirada do local, relembra que alguns desses fazendeiros “morre-ram de paixão” (desgosto), devido ao fato ocorrido. Os
Nilton Antonio Souza Santos
42 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

demais moradores de condições desfavoráveis como o caso da família de D. Constança nada receberam, res-tando-lhe apenas procurar um local para morar.
Continuando, D. Constança conta que sua mãe preocupada em ter uma moradia diante da situação, resolve ir ao encontro do mestre de linha responsável pela estrada de ferro (E. F. C.B) que passa pela da atual comunidade, onde solicitou que pudessem construir naquele local, o pedido foi aceito, porém houve uma con-dição a qual teria que ser construída a quinze metros antes ou depois da linha para melhor segurança. Ao chegar nessa nova localidade conhecida como Fazen-da grande Beira do Rio (atual comunidade quilombola), havia uma única moradora que se chamava Maria São Pedro de Jesus, e também alguns trabalhadores da pedreira (D. Constância, 22.09.2011). A partir de então foram chegando outros moradores com particularida-des distintas, uns com autorização do chefe de linha outros sem, e assim foi formando a comunidade próxi-ma à linha. Sobre o conceito de comunidade negra rural Gloria Moura esclarece:
Comunidade negra rural habitada por descen-dentes de africanos escravizados, com laços de parentesco. A maioria vive de culturas de subsistência, em terra doada, comprada ou secularmente ocupada. Valoriza tradições cul-turais de antepassados (religiosas ou não) e as recria no presente. Possui história comum, nor-mas de pertencimentos explícitas, consciência étnica. (MOURA, 1996, P. 330).
Fomos capazes de mostrar que se trata de grupo social com identidade muito definida, constituindo uma comunidade exclusivamente de negros, distintas radicalmente dos demais grupos circunvizinhos e que ocupa a área de forma contínua (...), fundamental é a capacida-de do grupo de constituir um território autôno-mo e demarcá-lo simbólica e geograficamente. (MOURA, 1996, p.333)
E sobre tais características foram modelando e estruturando - se a formação da comunidade. Por outra vias surgiam os problemas que permeavam a todos que viviam naquela localidade, a falta de água, energia, tra-balho, transporte, credibilidade de emprego para os moradores, pois tinham ainda que lidar com o precon-ceito dificultando muito a sobrevivência no espaço.
Algumas mulheres da comunidade sofriam vári-os tipos de descriminação, homens que residiam na atual escola de agronomia de melhores condições financeira iam até a comunidade para beber e fazer far-ras, incomodando assim a comunidade local, insatisfei-tos com a reação dos moradores, apelidava-os de “bai-xa da égua”. (D. Constância, 22.09.2011)
Durante a década de cinquenta devido ás dificul-dades dos viajantes e comerciantes em transportar as cargas para o centro da cidade, para melhor facilidade em deslocar minérios e outros produtos para o recônca-
vo e para o exterior, principalmente pelo porto de Mara-gojipe, foi criado um Ramal da linha velha para o centro da cidade, essa nova linha passaria dentro da comuni-dade estabelecendo facilidade para população cruzal-mense.
Muitos dos moradores viram no trem um meio de socialização com pessoas que não estavam inseridas no contexto da comunidade, já que próximo era o lugar onde trem descarregava e carregava produtos, como também embarques e desembarques de pessoas que viajavam para diversa localidade. Surgindo assim expectativas por dias melhores. D. Maria de Lurdes conta que:
Depois que o povo migrou igual a “bando” de borboleta, gente de não chegar até seu destino, porque caía nos trilhos, à classe não comporta-va aquele povo todo, não tinha onde se mover, era menino chorando, às vezes urinava ali mes-mo, era o povo do Norte. (LURDES, 27.10.2009).
Pois, naquela época o trem era o meio de trans-porte mais utilizado pelos cruzalmenses, muito normal que as viagens fossem difíceis e perigosas devido o excesso de passageiros.
No depoimento do Sr. Simão também morador da comunidade, afirma que nasceu e cresceu dentro da comunidade vivenciando o crescimento e o desenvolvi-mento da mesma, ele conta às dificuldades que a comu-nidade passou, afirma que sempre houve descasos das autoridades políticas locais com referencia aos direitos básicos da sociedade. Devido a essa dificuldade, aos catorze anos Sr. Simão saiu para trabalhar em busca de novas oportunidades, hoje com sessenta e dois anos e morador dessa comunidade vivência grandes mudan-ças e grandes conquistas.
Hoje Sr. Simão é um dos membros da associa-ção dos moradores da comunidade da linha, ver em meados do século XX pela primeira vez água encanada vinda de uma fonte revertida de cimento, esta água só se tornou possível com ajuda do Sr. Catarino Pereira dos Santos morador dessa comunidade, juntamente com o Sr. Carlos Valter dono de um estabelecimento comercial no Centro da cidade de Cruz das Almas.
A fonte de água abasteceu por mais de oito anos todas as casas da comunidade da linda, só veio a dimi-nuir seu abastecimento por volta de 2008, quando ali chegou água encanada. Hoje ainda se encontra em fun-cionamento abastecendo aproximadamente dez casas, por motivos financeiros.
Podemos entender a comunidade quilombola da linha como um lugar de resistência, pois desde seu ini-cio houve dificuldade com esses moradores que residi-am na localidade seja nas condições financeiras ou nas adversidades que sempre esse povo de coragem e resistência lutou e batalhou para encontrar e chegar ao reconhecimento. Esse traço marcante como expressão
O trem e a comunidade Quilombola na cidade de Cruz das Almas-BA
43Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

de resistência torna-se a história da comunidade negra da baixa da linha semelhantes a centenas de outras comunidades negras espalhadas pelo Brasil que fize-ram do silêncio uma arma poderosa de demarcação de sua alteridade frente aos grupos circundantes.
Portanto, em face às esses questionamentos, conclui-se que a história da comunidade quilombola por sua vez está enquadrada com a própria história da linha ferroviária na região estudada.
Figura 3 - Associação e Igreja da comunidade atualmente (13.08.2011)
Fonte: Arquivo Pessoal Nilton Antonio Souza
formação ainda há uma visão preconceituosa por parte de algumas pessoas sobre os moradores dessa locali-dade, apontando-os como marginais e desqualificados, uma visão sem fundamento, que não confere ao com-portamento desses moradores. Alguns sim apresentam situações que requerem uma atenção maior, são famíli-as de baixa renda com necessidades de incentivos de políticas publicas sociais. Por outro lado ocorreram transformações em que alguns moradores passaram a ter um trabalho fixo, possuindo salários e carteiras assi-nadas mantendo desta forma o sustento familiar, muito deles trabalham no centro da cidade, tendo condições favoráveis em adquirir bens materiais, educação para os filhos e outros recursos necessários. Portanto trata-se de uma comunidade inserida nos movimentos cultu-rais e sociais da cidade de Cruz das Almas.
Um forte avanço bastante significativo para a comunidade foi o reconhecimento enquanto comunida-de quilombola. Inicialmente foi uma proposta da Prefei-tura e da Secretária de Políticas Especiais de Cruz das Almas, formulou-se o projeto com a realização de um estudo que iria ocorrer com as comunidades rurais da cidade, na área de abrangência municipal com o objeti-vo de obter dados etnográficos para um possível relató-rio descritivo das comunidades rurais:
As pesquisas de campo iniciaram na Comuni-dade da Baixa da Linha tiveram inicio no mês de Agosto de 2009. O objetivo, nesse caso, era perceber a dinâmica própria da comunidade e sua possível identificação enquanto remanes-cente de quilombo. Este relatório, portanto, visa atender a esta solicitação (...) com os anse-ios da comunidade local, viabilizando assim, a garantia dos direitos constitucionais aos quais as Comunidades Negras quando identificadas Remanescentes de quilombos, têm assegura-do pela Constituição Federal. (Projeto Levanta-mento de Quilombos, p.2)
Por anos esse povo viveu sob ameaça em perder suas casas e terras, hoje a comunidade é reconhecida como remanescente de quilombo o que trouxe conforto e segurança para a comunidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunidade da linha, atualmente reconhecida como comunidade quilombola, demonstra-se na sua contextualização histórica, um espaço de significação e re-significação na vida dos sujeitos que teve e tem nela suas vidas inseridas, mesmo com as dificuldades e con-tratempos que não deixaram de ocorrer, trouxe para a comunidade cruzalmenses em geral outra visão ao des-tacar as especificidades particularmente concentradas naquela região, sob a iniciativa de instituições políticas da cidade e também alguns colaboradores envolvidos em levantar dados qualitativos com relação ao estudo
Figura 4 - Fonte de água da comunidade (13.08.2011)
Fonte: Arquivo Pessoal Nilton Antonio Souza
Depois de algumas reivindicações e listas assi-nadas pela população da comunidade visando sempre à melhoria e o bem estar dos moradores, que viveram aproximadamente um século sem água encanada e sem luz elétrica, conquistados apenas no século XX. Atualmente essa comunidade tem tido muitos resulta-dos favoráveis, luz elétrica, água encanada, telefone (orelhão).
A comunidade apresenta modificações bastante relevantes em seu contexto geográfico e social. Na sua
Nilton Antonio Souza Santos
44 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

concentrado na formação da comunidade, influencian-do no desenvolvimento da mesma.
Assim foi possível contextualizar a relação do trem com a comunidade, traçando as especificidades. Ao analisar a relação do trem com o município de Cruz das Almas foi relevante traçar/identificar um panorama geral sobre o trem, realizado através do levantamento de fontes orais, bibliográficas que permeavam desde a criação da Rede Ferroviária no Brasil, evidenciando o período de surgimento da rede ferroviária, o ramal que estava inserido na cidade de Cruz das Almas, para quais finalidades, onde localizava, qual era o intuito, sendo esses alguns questionamentos esclarecidos durante o andamento do estudo, pois a necessidade maior do aproveitamento do trem era que houvesse um transporte que escoasse a economia em escala por um custo menor, sendo inaugurada a primeira Estrada de Ferro Central do Brasil.
Durante o andamento dessa pesquisa também foi observado toda a dinâmica de funcionamento do trem, mostrando todo o contexto histórico da chegada da Estrada de Ferro no Brasil, na Bahia e em alguns tre-chos do Recôncavo, citando como se davam as várias formas de instalação das estradas e ramais dos respec-tivos lugares, além de caracterizar toda influência na modernização e crescimento do país, como também a chegada dos primeiros trilhos na Bahia e seus tantos ramais que se estalaram por todo o Recôncavo. Enfati-zando a importância da Estação Ferroviária de Cruz das Almas e o Novo Ramal que se estalou na mesma. Identificando ainda a relação/contribuição do trem para com a comunidade.
Sobre a comunidade constatou-se que é uma comunidade rural negra, que teve sua origem através de pessoas com contextos distintos. De acordo com tre-chos do projeto Levantamentos de quilombos, diz que atualmente a comunidade consta cerca de cento e sete casas, além de dose casas abandonadas, num total de cento e dezenove casas aproximadamente.
Foi notória a contribuição do trem para a existên-cia da comunidade quilombola, ao tempo que contem-plou questões que permeavam sob sua formação, desenvolvimento e por fim afirmação como remanes-centes de quilombo. Assim evidenciou inicialmente a representatividade do trem e a comunidade de forte atu-ação ao nome estabelecido antes conferido a atual comunidade quilombola.
Ficou claro nas entrevistas concedidas pelos moradores e ex-moradores que o trem estabeleceu um papel importante para a sobrevivência de muitos famili-ares, onde contemplava formas empregatícias mesmo sendo estas temporárias, ou por período.
Ao analisar as relações do trem com as pessoas, através dos relatos, fica evidente que a população de Cruz das Almas dependia do trem para resolver as necessidades do seu dia a dia. Além de ser o transporte
mais usado pelos Cruzalmense no auge da Ferrovia.
Para o município de Cruz das Almas, é possível afirmar que o trem representou para a população em geral incluindo a comunidade quilombola um forte signi-ficado na memória das pessoas que utilizavam desse transporte, no cenário cultural, social e econômico, aju-dando para a modernização e o crescimento da cidade. O município ganhou uma nova dinâmica com a existên-cia do trem, uma vez que, a sociedade foi se modifican-do com as novas praticas costumes e lazer em decor-rência da função social do trem.
A custo ficou para a memória daqueles que apre-ciavam e os que viajavam a lembrança deste tão impor-tante meio de transporte, que representou em muitos momentos da vida dos moradores, uma importante forma de viver, crescer e sonhar.
REFERÊNCIAS
Delgado, Lucilia de Almeida Neves. Historia Oral – tem-po, identidades – Belo Horizonte: Autentica 2006. 136p. – (leitura, escrita e oralidade)
BARBOSA, Pulo Corrêa. Minas dos Quilombos/ Paulo Corrêa Barbosa, Schuma Schumaher, Caces.- Brasília: MEC/ SECAD, 2088.
FERREIRA, Marieta de Morais (org.). 1994. Entre - vis-tas: abordagens e usos da história oral. Rio de Janeiro: FGV
FONSECA, Maria Nazareth Soares (org). Brasil afro-brasileiro/organizado por Maria Nazareth Soares Fon-seca. – 2. Ed.,1. Reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 352p.
ESTRELA, Ely Souza, Os sampauleiros: cotidiano e representações – São Paulo: Humanistas FFLCH/USP: Educ., 2003
REIS, João José. Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil- São Paulo: companhia das letras, 1996.
ZORZO, Francisco Antonio. Ferrovia e Rede Urbana na Bahia: Doze Cidades Conectadas Pela Ferrovia do Sul do Recôncavo e Sudoeste Baiano (1870-1930) - Uni-versidade Estadual de Feira de Santana, 2001.
Paulo, Davi da Silva / Maria Evelene do Santos Pereira. Dos Rios aos trilhos- Evolução do Transporte Urba-no Ferroviário do Recife, 2008.
MOURA, Glória. A força dos tambores: a festa nos qui-lombos contemporâneos. In: SHWARCZ, Lilia Moritz; REIS, Letícia Vidor de Souza (Org.) .Negras Imagens: ensaios sobre cultura e escravidão no Brasil. São Pau-lo: Ed. Universidade de São Paulo: Estaçao Ciência, 1996.
O trem e a comunidade Quilombola na cidade de Cruz das Almas-BA
45Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

SANTOS, Milton. A rede urbana do Recôncavo. Sal-vador: Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regio-nais - Universidade Federal da Bahia, Imprensa Oficial, 1959.
Resumo de Históricos dos Imóveis a Serem Inseri-dos nas Minutas de Escrituras. Salvador, Rede Ferro-viária Federal S/A.
Sá, Manoelito Roque Actas e Atos, resumo histórico da câmara Municipal de Cruz das Almas: gráfica e Editora Nova Civilização, Ltda., 2007.
Lowenthal, David. Como conhecemos o passado. Projeto História. (17) São Paulo: EDUC, 1998.
FONTES ORAIS
SANTANA, Alino Mata Santana, 60 anos, Memorialista da cidade de Cruz das Almas. LURDES, Maria de, 86 anos, moradora da cidade de Cruz das Almas
SANTOS, Catarino Pereira, 71 anos, morador da comu-nidade NASCIMENTO, Simão do, 62 anos. morador da comu-nidade
SANTOS, Maria Constança, 90 anos, moradora da comunidade
FONTES ESCRITAS
Fotos : Todas de arquivo particular (Nilton Antonio Souza Santos)
Jornal: Jornal Informativo RN- Janeiro de 1972 nº14 Correio da Bahia - 06 de agosto - 2000 nº16
Documentos escritos: Resumo de Históricos dos Imó- veis, Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA.
Projeto Levantamento de Quilombos: Prefeitura Municipal de Cruz das Almas (Secretaria Municipal de Políticas Especiais.
Nilton Antonio Souza Santos
46 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 39-46, jan./jun., 2013.

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O MECANISMO DE AÇÃO DA ARTEMISININA E DOS ENDOPERÓXIDOS ANTIMALÁRICOS– PARTE II
Laís Cardoso Almeida*
Elisângela Santos *
Carine Sampaio *
Alex G. Taranto **
Franco Henrique Andrade Leite ***
Artemisinina é uma lactona sesquiterpênica com um grupamento endoperóxido, a qual vem sendo usada contra cepas de Plasmodium falciparum resistentes ao tratamento com cloroquina. Os compostos endoperóxidos agem supostamente no grupo heme levando a redução da ligação peróxido e produção de radicais que podem matar o parasito. Estudos recentes mostraram que a artemisinina pode inibir a enzima ATPase cálcio-dependente (PfATP6) localizada no retículo sarco/endoplamático, ou seja, fora do vacúolo do parasito Plasmodium falciparum. Atualmen-te, a malária mata mais do que a AIDS e o pressuposto da crescente resistência adquirida pelo parasito aos fárma-cos atuais endossa a necessidade pela busca de novas alternativas terapêuticas. Para a realização do estudo foi feito um levantamento bibliográfico nos principais livros e periódicos indexados no portal CAPES. A artemisinina e os endoperóxidos são representantes de uma nova classe de fármacos antimaláricos. Devido à resistência adquiri-da pelo parasito aos derivados quinolínicos, a artemisinina e seus derivados estão sendo empregados como terapia de escolha para o tratamento de malária. O mecanismo de ação destas substâncias, embora ainda não totalmente esclarecido, é completamente diferente dos antimaláricos convencionais, sendo, portanto uma nova esperança para o tratamento da malária. Este artigo é a segunda parte de uma revisão sobre este os endoperóxidos antimalári-cos, o qual o mecanismo de ação destes compostos é discutido detalhadamente.
Palavras-chave: Mecanismo de ação. Artemisinina. Endoperóxidos. Antimaláricos.
Artemisinin (QHS) is a sesquiterpene lactone with an endoperoxide function being currently used against strains of Plasmodium falciparum. Endoperoxides are supposed to act on heme leading to reduction of the peroxide bond and production of radicals that can kill the parasite. In addition, recent studies show that artemisinin can inhibit the
2+sarco/endoplasmic reticulum Ca -ATPase (SERCA) orthologue (PfATP6) of P. falciparum in Xenopus oocytes. Nowadays, malaria kills more than AIDS and the assumption of increasing parasite resistance to current drugs endorse the search for new therapies. To conduct the study was done in a literature major books and journals indexed by the CAPES. Artemisinin and endoperoxide are a new class of antimalarial drugs. Because acquired resistance by the parasite to quinoline derivatives, artemisinin and its derivatives are being used as therapy of choice for treating malaria with the current problem of resistance to antimalarial drugs. The mechanism of action of these drugs, though in debate by literature, is completely different from conventional antimalarial which introduce a new hope for the malarial treatment. This paper is a second part of a review which the mechanism of action of these compounds is showed with more details.
Keywords: Mechanism of action. Artemisinin. Endoperoxide. Antimalarial drugs.
*Acadêmicas do Curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza (FAMAM) E-mail: [email protected];**Professor Adjunto, Universidade São João Del Rey - UFSJ, Campus Centro-Oeste Dona Lindu, Minas Gerais. E-mail: [email protected];***Doutorando em Biotecnologia (Universidade Estadual de Feira de Santana); Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA; E-mail: [email protected]
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de novos fármacos antimalá-ricos torna-se extremamente importante, consideran-do-se que a resistência adquirida pelo parasita às dro-gas quinolínicas utilizadas para combater a malária tem ocasionado a altas taxas de mortalidade, principalmen-te em crianças.
Existem quatro espécies do gênero Plasmodium que infectam os seres humanos. Estes parasitos são transmitidos para o homem através da picada de fême-as Anopheles. O parasita responsável pela maioria das infecções fatais da malária, Plamodium falciparum pode matar os pacientes em questão de horas. A maio-ria das cepas de P. falciparum tem criado resistência a cloroquina e outros antimaláricos tradicionais sendo este a principal razão para o desenvolvimento de novos fármacos.
Cerca de 1,5 a 2 milhões de pessoas morrem de malária, sendo que 3 mil crianças morrem por dia na Áfri-ca. Os países mais comprometidos são Índia, Brasil (cerca de 300 mil casos/ano), Afeganistão e outros paí-ses asiáticos, incluindo a China. Especula-se que 50% da mortalidade entre a população indígena no Brasil deve-se à malária causada por Plasmodium falciparum (CAMARGO, 2003).
MECANISMO DE AÇÃO DA ARTEMISININA
Meshnick e colaboradores (1996) propuseram que o mecanismo de ação dos endoperóxidos antimalá-ricos deve ocorrer em duas etapas. Na primeira etapa, a artemisinina é ativada pelo heme ou pelo íon ferro(II) livre, produzindo radicais livres e espécies citotóxicas. Na segunda etapa, estas espécies reagiriam com uma proteína específica associada à membrana do parasita levando-o à morte (figura 1) (MESHNICK et al, 1996). Pandey e colaboradores (1999) propuseram um possí-vel mecanismo em três etapas, para explicar os efeitos
dos endoperóxidos sobre o parasita. Estas etapas incluiriam inibição da degradação da hemoglobina, ini-bição da polimerização do heme e interação da artemi-sinina com a hemozoína, o que resultaria na quebra do pigmento malárico e formação de um complexo com as unidades de heme. Estas sugestões explicam a forma-ção rápida de heme livre e a conseqüente geração de uma fonte transitória de heme, responsável pela ação da artemisinina e dos demais endoperóxidos antimalá-ricos. Isto explicaria a ação rápida destes fármacos quando comparados com os antimaláricos quinolínicos (PANDEY et al, 1999). Eckstein-Ludwing e colaborado-res (2003) apresentaram um novo alvo molecular para a artemisinina. Neste trabalho (RIDLEY 2003), foi demonstrado que além da formação de radicais livres que alquilam várias proteínas, a artemisinina atua ini-bindo irreversivelmente a enzima ATPase cálcio-dependente (PfATP6) localizada no retículo endopla-mático, ou seja, fora do vacúolo do parasita.
O mecanismo da reação entre a artemisinina e compostos contendo o íon ferro(II) foi estudado inicial-mente por Posner e colaboradores (1994). Em um tra-balho inicial, ele empregou um derivado 1,2,4 trioxano marcado isotopicamente e o reagiu com FeBr em pre-2
sença de THF, levando à formação de três produtos: dio-xolona, aldeído e hidroxidioxolona, todos produtos de metabolismo (figura 2). Em todos os casos ocorre inici-almente a quebra da ligação peróxido após transferên-cia de um elétron do ferro(II) para a ligação O-O, segui-da de deoxigenação, conforme mecanismo de ação dos endoperóxidos descrito anteriormente (POSNER, 1992).
Em trabalhos subseqüentes, ele avançou na interpretação do mecanismo propondo que este se pas-
sava através de migração de hidrogênio do tipo 1,5(POSNER, 1994), levando à formação de um radical secundário em C (Figura 3).4
Esta conclusão estava relacionada à atividade de compostos substituídos na posição C , os quais 4
apresentam baixa atividade biológica (Figura 4).
Ativação
Fe ou heme
Alquilação
Proteína AlvoEspécies citotóxicas
Figura 1 - Representação da ação da artemisinina proposto por Meshnick.
Laís Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio; Alex G. Taranto; Franco Henrique Andrade Leite
48 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

OMe
O
H
OTs
HO
*
O
OMe
O
H
OTs
FeO
HO
.*
*
.
OMe
O
H
OTs
FeO
O
H
O
H
OTs
O*
OMe
H
OTs
O
O
O
*
OMe
O
H
OTs
O
FeO
.
O
*
OH
O
H
OTs
* O
H
H
O
OTs
O
.- MeO
-.-
OMe
O
H
O
O
OTs
*
*
OMe
O
H
O
O
OTs
Dioxolona
Aldeído
Hidroxidioxolona
Figura 2 - Mecanismo inicial proposto por Posner. A rota A leva à formação da dioxolona. Na rota B forma-se o aldeído, enquanto na rota C ocorre a formação do derivado hidrodioxolona.
-Fe(II)
Fe(IV)=O
A B
Migração 1,5-H
..
O
O
O
H
H
O
HO
O
O
H
H
O
O
Fe(II)
O
O
H
H
HO
O
O
O
O
H
H
HO
O
O
O
H
H
HO
O
Fe(III)O
O
O
H
H
O
O
H
Fe(III)O
O
O
H
H
O
O
O
Figura 3 - Mecanismo proposto por Posner passando pela migração 1,5 do H. Na rota A tem-se a saída direta de Fe(II) levando à formação do derivado epóxi e pela rota B forma-se o alceno correspondente que por
oxidação origina a espécie epóxi.
Revisão de literatura sobre o mecanismo de ação da artemisinina e dos endoperóxidos antimaláricos - Parte II
49Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

Figura 4 - Importância da substituição em C . Compostos com R = Me , substituição em C , possuem muito 4 1 4
menor atividade do que compostos equivalentes com R = H.1
Substituinte IC 50 (ng/ml)
R 1 R 2 W2
Indochina
D6
Africana
H Me 4,5 3,5
Me H >500 >500
Me Me >500 >500
Artemisinina 8 8
OMe
O
H
O
O
OH
R2
R1
Posner sugeriu que, além da formação de um radical secundário, a atividade antimalárica da artemisi-nina poderia originar-se na formação de um intermediá-rio eletrofílico do tipo epóxi (POSNER, 1995), sendo este um potente agente alquilante, ou na formação de uma espécie ferro-oxo de alta valência.
A presença desta última espécie foi mostrada em reações de captura com hexametilbenzeno de Dewar, que rearranja para hexametil benzeno, com sulfeto de metilfenila, que sofre oxidação para o sulfóxido corres-pondente, e com tetralina, que é oxidada para hidroxite-tralina (Figura 5).
Outra observação importante está baseada no fato de que derivados da artemisinina que apresentam um bom grupo de saída na posição C não formariam o 4
intermediário ferro-oxo e, conseqüentemente, seriam compostos inativos (Figura 6).
Finalmente, Posner propôs que além dos fatos citados acima, ocorreria também a formação de um radi-cal primário, oriundo da quebra homolítica da ligação C -C , com formação de dicetona e de formiato de meti-3 4
la (Figura 7), os quais também apresentam atividade antimalárica quando gerados in situ (CUMMING et al, 1998).
Fe=O
O H
P h S
M e
O
III
IV
Fe-O .
P h S
M e
Tetralina
Sulfeto de metilfenila
Hexametilbenzeno de Dewar
Figura 5: Evidências da formação do intermediário ferro-oxo.
Laís Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio; Alex G. Taranto; Franco Henrique Andrade Leite
50 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

X = Me 3 Sn
. - X
O M e
O
H
H O F e + 3
O
O M e
O
H
H O
X
F e + 3
O
.
Figura 6 - Mecanismo de eliminação de grupos de saída na posição C .4
MeO
O
H
O
O
O
O
H
O
O
Me
MeO
O
H
O
Ac
Ac
O
O
H
O
Me
O
O
H
O
O
H
Me
Me
MeO
O
H
HO
MeO
O
H
HO
O
MeO
O
H
O
HO
O
O
H
HO
O
?
OO
+ HCOMe
O
Fe+3
Fe+3
Fe+3
Fe+3
Fe+2
Fe+2
Fe+2
Fe+2
Fe+3
Fe+4
O
O
.
.
.
.
.- -
Fe+2-
Dicetona
Formiatode metila
Derivadoepoxidado
Radical primário
Radicalsecundário
Figura 7 - Mecanismo proposto por Posner explicando a formação de um radical primário, de uma dicetona, de formiato de metila e o derivado epóxido.
No entanto, Posner foi duramente criticado por Jefford, 1996 e por Avery, 1996 tanto quanto à formação das espécies radicalares quanto à formação do produto intermediário do tipo epóxi. Jefford, 1996, além de pro-por que a atividade antimalárica da artemisinina seria devido à interrupção do processo de desintoxicação do heme por transfêrencia de um dos oxigênios do grupa-mento peróxido para o heme, levando à formação de
um derivado oxiheme (Figura 8)(JEFFORD et al, 1995).
Propôs ainda, que a transferência de H não pode-4
ria ocorrer devido à grande distância entre o hidrogênio de C e o oxigênio O , acima de 2,1 Å, não havendo por-4 2
tanto a formação do radical secundário em C (Figura 4
9).
Além disso, o agente redutor no meio reacional - +2de Posner seria o íon Br e não o Fe (figura 10)
(JEFFORD, 1996).
Revisão de literatura sobre o mecanismo de ação da artemisinina e dos endoperóxidos antimaláricos - Parte II
51Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

F
e N
N
N N
-O O O O
-
F
e
N
N
N
N
-O O O O
-
O
QHS DeoxiQHS
Figura 8 - Formação do derivado oxiheme de por transferência de oxigênio da artemisinina para o heme.
QHS
Fe
+2
A
B
+
O
O
O
H
H
O
O
O
O
O
H
H
O
O
O
O
O
H
H
H
O
O
.
.
.
.
.
_
1,5 H
Fe
+3
Fe+3
1,3 H
Não evidenciado
O
O
O
H
H
O
H
O
Fe
+3
O
O
O
H
H
O
H
O
O
A
c
O
O
H
H
O
- Fe+2
Quebra
3,4
O
O
O
H
H
OO
Fe
+3
- Fe
+2
Figura 9 - Mecanismo proposto por Jefford onde não há evidências da migração 1,5 H.
QHS
O
O
O
H
H
O
O
O
O
O
H
H
H
O
O
.
. .
.
O
O
O
H
H
OHO
O
O
O
H
H
O
_
Br
-
Br
O
O
_
O
O
Br
.
Br
-
H
-Figura 10 - Mecanismo de rearranjo da artemisinina através da redução com Br /THF.
Laís Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio; Alex G. Taranto; Franco Henrique Andrade Leite
52 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

Cálculos de orbitais moleculares usando meto-dologias ab initio ou semi-empíricos (TARANTO et al, 2002) mostraram que os anéis contendo o grupamento peróxido podem assumir uma conformação do tipo bote, com baixa energia de ativação, resultando em fácil migração do hidrogênio em C para o radical em O . 4 2
Porém deve-se observar que os mesmos cálculos mos-traram que a quebra homolítica da ligação C -C pode 3 4
ser competitiva com a migração 1,5 de hidrogênio.
Por sua vez, Avery, 1996, tentou isolar o epóxido através da síntese de um análogo mais estável, onde o O foi substituído por um grupo CH . Contudo, não 13 2
houve evidências de que o epóxido havia sido formado durante o processo de rearranjo. Adicionalmente, um
epóxido sintético semelhante à artemisinina apresen-tou-se completamente sem atividade antimalárica (figu-ra 11).
Semelhante a Posner, e colaboradores (1994) propuseram um mecanismo via espécies radicalares e por carbocátions os quais explicariam a formação dos produtos encontrados. Estes compostos seriam fontes de hidroperóxidos, os quais fornecem espécies eletrofí-licas, radicais hidróxidos ou radicais alcóxidos, que seri-am capazes de hidroxilar biomoléculas ou abstrair áto-mos de hidrogênio delas, levando conseqüentemente à morte do parasita (figura 12) (HAYNES; PAI; VOERSTE, 1999; OLLIARO et al, 2001).
OH
HO
H
O
Figura 11 - Derivado epóxido destituído de atividade biológica.
O
O
O
O
O
H
H
O
O
O
O+
O
H
HH
H+
O
O
O
O
O
H
HH
H+
O
O
O
O
O
H
HH
O
O
O
O
O
H
H
Fe2+
O
O
O
O
H
HO
H
O+
O
O
O
O
H
HH
+
-
Hidroxilação e oxidaçãode biomoléculas
Figura 12 - Mecanismo proposto por Haynes, no qual ocorre a abertura do anel peróxido gerando hidroperóxidos.
Revisão de literatura sobre o mecanismo de ação da artemisinina e dos endoperóxidos antimaláricos - Parte II
53Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

Algumas observações podem ser feitas a respei-to dessa hipótese. (i) Se a reação de abertura do anel endoperóxido for rápida o suficiente para competir com a reação de geração do radical livre, não haveria peque-nas concentrações de ROOH e portanto não poderia exercer um efeito fatal sobre o parasita. (ii) Ainda não foi caracterizada a biomolécula que sofreria a ação dos radicais gerados. (iii) Em princípio o parasita seria capaz de eliminar esses radicais através de enzimas contra o estresse oxidativo (WU, 2002).
Finalmente, Wu et al, 1998, propuseram um mecanismo para a reação entre a artemisinina e o heme que contempla os demais mecanismos descritos na lite-
ratura, além de explicar a formação de outros produtos identificados por eles. Estes autores estudaram o meca-nismo de decomposição da artemisinina fazendo-a rea-gir com sulfato ferroso em acetonitrila, obtendo assim os produtos mostrados na figura 13.
Similar ao mecanismo proposto por outros auto-res, a degradação da artemisinina começa com a trans-ferência de elétrons do Fe(II) para a ligação endoperóxi-do, quebrando-a e levando à formação de dois ânions radicais (radical em O ou radical em O ), os quais 1 2
podem ser interconvertidos. Estes por sua vez, através de rotas isoladas, levam aos produtos finais conforma mostra a figura 14.
O
O
H
H
O
O
HOO
O
O
H
H
O
HO
O
O
H
H
O
O
O
Figura 13 - Produtos isolados por Wu e colaboradores, como resultado da reação de decomposição da artemisinina na presença de FeSO .4
Figura 14 - Mecanismo proposto por Wu e colaboradores.
Laís Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio; Alex G. Taranto; Franco Henrique Andrade Leite
54 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

Cabe ressaltar que durante o processo de redu-ção com Fe SO não foi obtida a deoxiartemisinina, 2 4
embora este composto seja predominante na reação com outros agentes redutores (POSNER; OH 1992, POSNER et al, 1994, 1995, CUMMING et al, 1998). Con-tudo, a sua formação foi proposta. Outro fato importante foi o isolamento do intermediário do tipo epóxido, obtido inicialmente por Posner (POSNER; OH 1992, POSNER et al, 1994, 1995, CUMMING et al, 1998) e criticado por outros autores (AVERY et al, 1996). Entretanto o próprio Wu, 1998, descreve que este apresentou rendimento muito baixo (1 a 2%) e que foi isolado juntamente com outros produtos de alta polaridade e baixo ponto de fusão, sendo necessário uma reação de acetilação para que eles pudessem ser completamente isolados.
Atualmente, o mecanismo mais aceito para a ação da artemisinina envolve a formação do complexo de transição, por intermédio dos átomos de ferro do heme e O1 do endoperóxido. A posição relativa da arte-misinina com respeito ao heme é determinada por inte-rações estereoeletrônicas entre ambos, as quais afe-tam o rearranjo do complexo até o rompimento da liga-ção Fe-O. Portanto, a investigação em maiores deta-lhes de tais interações no complexo é importante do ponto de vista do reconhecimento molecular do heme com respeito à artemisinina. (COSTA; KIRALJ; FERREIRA; 2007).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura apresenta duas principais propostas para ação dos endoperóxidos, uma defendida por Hay-nes e a outra por Posner. Estas são divergentes entre si (OLLIARO et al, 2001). No entanto, a teoria apresenta-da por Posner, a qual foi defendida dos argumentos apresentados por Olliaro, é a mais aceita pela comuni-dade científica (POSNER; MESHNICK, 2001).
De qualquer forma, melhor compreensão do mecanismo de ação é etapa fundamental para que se possa desenvolver fármacos mais eficazes, muito embora, esse avanço seja mais impedido por questões econômicas e políticas do que por questões científicas (MESHNICK et al, 1996).
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Suporte financeiro e físico da FAMAM- Faculdade Maria Milza, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-al de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB – PPP-2006).
REFERÊNCIAS
AVERY, M. A. et al, Strucuture-Activity Relationships of the Antimalarial Agent Artemisinin.Total Synthesis of (+)-13-Carbaartemisinin and related Tetra- and Tricyclic Structures. J. Med. Chem., v. 39, p. 1885-1897, 1996.
CAMARGO, E. P. Malária, Maleita, Paludismo, Ciência e Cultura, v. 55, n. 1, 26-30, 2003.
COSTA, M. S.; KIRALJ, R.; FERREIRA, M. M. C.;Estudo teórico da interação existente entre a artemisinina e o heme. Quím. Nova v.30 n.1 São Paulo jan./fev., 2007.
CUMMING, J. N, et al , Design, Synthesis, Derivatization, and Structure-Activity Relationships of Simplified, Tricyclic, 1,2,4-Trioxane Alcohol Ana-logues of the Antimalarial Artemisinin. J. Med. Chem., v. 41, p. 952-964, 1998.
ECKSTEIN-LUDWING, et al. Artemisinins target the SERCA of Plasmodium falciparum. Nature, 2003, 424, 957–61.
HAYNES, R. K.; PAI, H. H. O.; VOERSTE, A.; Ring Opening of Artemisinin (Qinghaosu) and Dihydroartemisinin and Interception of the Open Hydroperoxides with Formation of N-Oxides – A Chemical Model for Antimalarial. Mode of Action. Tet-rahedron Lett., v. 40, p. 4715-4718, 1999.
JEFFORD, C. H. et al, The Decomposition of cis-Fused Cyclopenteno-1,2,4-trioxanes induced by Ferrous Salts and Some Oxophilic Reagents. Helv. Chim. Acta, v. 78, p. 452-458, 1995.
JEFFORD, C. H. et al, The Deoxygenation and Isomerization of Artemisinin and Artemether and Their Relevance to Antimalarial Action. Helv. Chim. Acta, v. 79, p. 1475-1487, 1996.MESHNICK, S. R. et al, Second-generation Antimalarial Endoperoxides. Parasitol. Today, v. 12, p.79-82, 1996.
MESHNICK, S. R. et al, Second-generation Antimalarial Endoperoxides. Parasitol. Today, v. 12, p.79-82, 1996.
OLLIARO, P. L. et al, Possible modes of action of the artemisinin-type compounds. Trends Parasitol, v. 17, n. 3, p. 122-126, 2001.
PANDEY, A. V. et al, Artemisinin, an Endoperoxide Antimalarial, Disrupts the Hemoglobin Catabolism and Heme Detoxification Systems in Malarial Para-site, J. Biol. Chem., v. 274, p. 19383-19388, 1999.
POSNER, G. H. et al, Evidence for Fe(IV)=O in the Molecular Mechanism of Action of the Trioxane Antimalarial Artemisinin. J. Am. Chem. Soc., v. 117, p.
Revisão de literatura sobre o mecanismo de ação da artemisinina e dos endoperóxidos antimaláricos - Parte II
55Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

5885-5886, 1995.
POSNER, G. H.; MESHNICK, S. R. Radical mecha-nism of action of the artemisinin-type compounds. Trends Parasitol., v. 17, n. 6, p. 266-267, 2001.
POSNER, G. H.; OH, C. H. A Regiospecifically Oxy-gen-18 Labeled 1,2,4-Trioxane: A Simple Chemical Model System To Probe the Mechanism(s) for the Antimalarial Activity of Artemisinin (Qinghaosu). J. Am. Chem. Soc., v. 114, p. 8328-8329, 1992.
POSNER; H. G. et al, Mechanism-Based Design, Syn-thesis, and in Vitro Antimalarial Testing of New 4-Methylated Trioxanes Structurally Related to Artemisinin: The Importance of a Carbon-Centered Radical for Antimalarial Activity. J. Med. Chem., v. 57, p. 1256-1258, 1994.
RIDLEY, R. G. To kill a parasite. Nature, v. 424, n. 21, p. 887-889, 2003.
TARANTO, A. G. et al, The role of C-centered radicals on the mechanism of action of artemisinin. J. Mol. Struct. (Theochem), n. 580, p. 207-215, 2002.
WU, W. M. et al, Unified Mechanistic Framework for the Fe(II)-Induced Cleavage of Qinghaosu and Derivatives/Analogues. The First Spin-Trapping Evi-dence for the Previously Postulated Secondary C-4 Radical. J. Am. Chem. Soc., v. 120, p. 3316-3325, 1998.
WU, Y. How Might Qinghaosu (Artemisinin) and Related Compounds Kill the Intraerythrocytic Malaria Parasite? A Chemist's View. Accounts Chem. Res., v. 35, n. 5, p. 255-259, 2002.
Laís Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio; Alex G. Taranto; Franco Henrique Andrade Leite
56 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 47-56, jan./jun., 2013.

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS ASSOCIADOS EM ESCOLARES NA CIDADE DE MURITIBA - BA
Fabrício Sousa Simões*
Adriano Batista Souza*
Jorge Luiz Santos de Jesus****Tarcísio Dias da Silva
Dados epidemiológicos brasileiros relatam prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em crianças e adolescentes entre 6 a 8%, e estudos americanos apresentam valores entre 2 e 10%, com faixas equivalentes de resultados. Neste contexto, o objetivo do presente estudo é estimar a prevalência da HAS em escolares e sua associação com indicadores antropométricos de risco para a população infanto-juvenil. Pesquisa quantitativa, de base populacional, delineamento transversal. A seleção dos participantes atendeu critérios de inclusão: idade entre 10 e 17 anos, ambos os sexos, e matriculados na escola pesquisada. Os dados foram coletados através do questionário internacional de atividade física (IPAQ 8.0) na versão curta, estimando o nível de atividade física. Os estudantes foram submetidos à coleta de dados antropométricos (peso corporal, altura e circunferências: cintura e abdômen) e verificação da pressão arterial. A prevalência da HAS encontrada mostrou-se parecida com dados brasileiros e americanos mais recentes. Características epidemiológicas observadas em adultos também foram encontradas, onde a prevalência é maior no sexo masculino. Relações positivas da PA com o IMC também foram encontradas. Existe para a amostra estudada uma relação negativa entre o nível de atividade física e os níveis pressóricos, demonstrando a necessidade da prevenção dos fatores de risco através de mudanças nos hábitos de vida dessa população estudada e o desenvolvimento de programas específicos dentro das escolas, que enfatizem a prática da atividade física e bons hábitos alimentares, minimizando a prevalência da HAS precoce.
Palavras - chave: Hipertensão arterial. Fatores de risco. Escolares.
Brazilian epidemiological data reported the prevalence of systemic arterial hypertension (SAH) in children and adolescents to be between 6 to 8%. Similarly, American studies show a similar range of results between 2 and 10%. The objective of this study is to estimate the prevalence of SAH in the school population and to assess anthropometric indicators of risk to the juvenile population. This study utilizes population-based quantitative research and cross-sectional design. The selection of participants included both genders, were between 10 and 17 years old, and were enrolled in the studied school. Data was collected using the short version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ 8.0). Anthropometric data was collected including blood pressure, weight, height, and the circumferences of their waist and abdomen. The prevalence of SAH found in the students proved to be similar to the recent Brazilian and American data. Epidemiological characteristics were observed in adults where the prevalence of SAH is higher in males. Positive relationships between BP and BMI were also found. In the sample, there is a negative relationship between physical activity and blood pressure levels. This demonstrates the necessity of risk factor prevention through changes in lifestyle and the development of specific programs within schools that emphasize physical activity and good eating habits to help reduce the early prevalence of hypertension.
Keywords: Hypertension. Risk Factors. School Population.
*Coordenador do Núcleo de Estudos em Educação Física e Saúde – NEEFS (FAMAM); Mestrando em Ciências da Motricidade Humana (Universidade Pedro de Valdívia- Chile); Professor do Curso de Licenciatura em Educação Física - E-mail: [email protected].**Pesquisadores do Núcleo de Estudos em Educação Física e Saúde – NEEFS (FAMAM0. Professores de Educação Física.
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 57-61, jan./jun., 2013.

INTRODUÇÃO
A HAS, uma entidade clínica multifatorial, concei-tuada como uma síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados da pressão arterial, asso-ciados a alterações metabólicas e hormonais e a fenô-menos tróficos (hipertrofias cardíacas e vasculares), deve ser entendida não apenas como uma situação patológica de cifras tensionais permanentemente ele-vadas, mas um conjunto de fatores denominado de Sín-drome Hipertensiva.
A prevalência da hipertensão arterial é elevada, estima-se que cerca de 15% a 20% da população brasi-leira adulta é hipertensa. Embora predomine na fase adulta, sua prevalência em crianças e adolescentes não é desprezível e varia entre 2% a 13%, em diferentes regiões do mundo, sendo responsável pelo desenvolvi-mento de doenças cardiovasculares como: cardiopatia isquêmica, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca e nefropatias crônicas.
Sua prevalência na população juvenil no Rio de Janeiro – RJ, está em torno de 7%, em Belo Horizonte - MG e Florianópolis - SC são de 12% (GUS et al., 2004). Em Salvador - BA, 4% das crianças e adolescentes têm hipertensão arterial (MATOS; LADEIA 2003).
A taxa de incidência da HAS é de 30% na popula-ção brasileira, chegando a mais de 50% na terceira ida-de, e está presente em 5% dos 70 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. São 3,5 milhões de crianças e adolescentes que precisam de tratamento (ROSA; RIBEIRO, 1999).
As correlações positivas entre as variáveis: ida-de, peso e altura das crianças e dos adolescentes com os valores da pressão arterial são observados em popu-lações jovens, onde o peso e o índice de massa corpo-ral (IMC) são as variáveis que apresentam maior corre-lação com a pressão arterial devido ao determinismo dos níveis pressóricos pelo desenvolvimento físico (GARCIA et al., 2004). E, o peso e a altura em ambos os sexos têm uma relação linear com a pressão arterial sis-tólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) inde-pendente da idade.
A reconhecida influência na diminuição dos níve-is pressóricos da atividade física e a relação inversa entre quantidade total de atividade física e incidência de hipertensão arterial é fator de influência, considerando que crianças e adolescentes tendem a ficar obesos quando sedentários e a própria obesidade contribui para torná-los ainda mais sedentários.
Entre os diversos indicadores de risco que contri-buem para o desenvolvimento da hipertensão arterial em crianças e adolescentes, destacam-se: os níveis ini-ciais elevados de pressão arterial, a história familiar, a obesidade e o sedentarismo. A identificação precoce desses indicadores na prevenção de eventos cardio-vasculares constitui importante contribuição na preven-
ção das morbidades e na efetividade do tratamento anti-hipertensivo, como colocado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Tendo em vista o acometimento de alterações da pressão arterial, a relação de indicadores antropométri-cos com os valores da pressão arterial, e, principalmen-te a correta caracterização desses indicadores para a prevenção de danos.
Estudos devem ser efetuados, para auxiliar na prevenção primária de uma série de complicações car-diovasculares e neurológicas, de forma simples e prin-cipalmente eficaz. Diminuindo a morbi-mortalidade e o ônus representado para o sistema da saúde.
MATERIAIS E MÉTODOS
Pesquisa quantitativa, de base populacional, deli-neamento transversal realizada numa escola estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada na cidade de Muritiba/Bahia, utilizando a coleta de dados para identificar as variáveis antropométricas e o nível de ati-vidade física, e, assim estabelecer quais são os fatores de risco na população estudada.
A seleção dos participantes atendeu os seguin-tes critérios de inclusão: ter idade entre 10 e 17 anos, ambos os sexos, estar matriculado na escola onde foi realizado o estudo, e a assinatura do Termo de Consen-timento Livre e Esclarecido (TCLE), pelos pais e/ou res-ponsáveis, confirmando a participação e entendimento do propósito da pesquisa e, de seu desligamento a qual-quer momento quando assim desejarem.
Os dados foram coletados através da aplicação do questionário internacional de atividade física (IPAQ) na sua versão curta, proposta pela organização mundial de saúde (CRAIG, 2005) para estimativa do nível de ati-vidade física, avaliação antropométrica (peso, altura, cir-cunferências de: cintura e abdômen), índice de massa corporal (IMC), circunferência de cintura (CC) e índice de conicidade (IC), seguindo as recomendações para ponto de corte dos respectivos indicadores para obesi-dade e risco coronariano. Os estudantes foram submeti-dos à verificação da pressão arterial respeitando todos os procedimentos na aferição da pressão arterial.
Para calcular o tamanho da amostra, foi utilizada a proposta de Luiz e Magnanini (2002) para estudos epi-demiológicos, com intervalo de confiança de 95%, erro tolerável de 5% e uma prevalência estimada de HAS de 5%, considerando resultados apresentados em outro estudo (ROSA; RIBEIRO, 1999), e como estimativa segura por corresponder ao maior tamanho de amostra que pode ser calculado. Sendo a amostra selecionada de forma aleatória, utilizando-se a tabela de números aleatórios (THOMAS; NELSON, 2002). Garantindo assim a representatividade da população em estudo e
Fabrício Sousa Simões; Adriano Batista Souza; Jorge Luiz Santos de Jesus; Tarcísio Dias da Silva
58 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 57-61, jan./jun., 2013.

igual probabilidade de participação na amostra.
Os dirigentes e professores da escola foram infor-mados sobre os objetivos e procedimentos para autori-zação e liberação do estudo, e para posterior aborda-gem dos participantes da pesquisa, que ocorreu em sala de aula com explicação pelos próprios pesquisadores.
Na avaliação do nível de atividade física, os voluntários responderam o IPAQ (versão curta), onde classifica três níveis:
Mínimo (categoria 1), onde os indivíduos que não satisfazem os critérios para as categorias 2 ou 3 são considerados inativos;
Moderada (categoria 2), os indivíduos que atin-gem um dos três requisitos: três ou mais dias de ativida-de vigorosa de pelo menos vinte minutos por dia ou, cinco ou mais dias de atividade de intensidade modera-da ou caminhada de pelo menos 30 minutos por dia, ou, cinco ou mais dias de qualquer combinação de intensi-dade moderada ou vigorosa;
Elevada (categoria 3) quando atinge qualquer um dos seguintes critérios: atividade de intensidade vigorosa em pelo menos 3 dias e acumulando pelo menos 1500 MET-minuto ou sete dias de qualquer com-binação de intensidade moderada ou vigorosa atingin-do um mínimo de pelo menos 3000 MET-minutos.
A avaliação antropométrica seguiu normas padronizadas (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988), e foram: peso corporal (kg), aferição realizada através de uma balança eletrônica Filizola (Indústrias Filizola SA, São Paulo – SP, Brasil), da linha Personal Line 2000, tipo plataforma. A estatura (m) aferida com
® estadiômetro caprice Sanny (American Medical do Bra-sil, Brasil) com medida máxima de 2,10 m, estando o escolar sem sapato, com roupas leves e encostado na parede. Sendo utilizada para análise a média de três mensurações tanto para peso corporal como para altu-ra. Para medida das circunferências da cintura e abdô-men foi utilizada fita métrica metálica com trava, marca
®Sanny (American Medical do Brasil, Brasil), estando à criança em pé, após expiração completa, com definição de medida de 0,1 cm.
Para o Índice de Massa Corporal (IMC) utilizada 2a equação IMC = peso (kg)/altura (m ), sendo conside-
rado normal IMC entre 18,5 a 24,9, sobrepeso IMC entre 25 a 29,9, obeso IMC entre 30 a 34,9, extrema-mente obeso IMC entre 35 a 39,9 e obesidade mórbida IMC maior ou igual a 40. O IMC é utilizado largamente na avaliação do estado nutricional devido a sua alta cor-relação com a massa corporal e indicadores de compo-sição corporal, sua capacidade de predizer riscos de patologias e a não necessidade de se usar dados de referência antropométricos no diagnóstico do estado nutricional (COLE, 2000). No presente trabalho, per-centis selecionados de IMC foram calculados, por sexo e faixa etária. Os percentis selecionados foram os tradi-cionalmente utilizados em estudos de distribuição de
valores antropométricos populacionais em crianças e adolescentes.
O Índice de Conicidade (IC) também avaliado nesse estudo tem por objetivo identificar a distribuição de gordura e o risco de doenças (VALDEZ, 1993). Este índice baseia-se na idéia de que o corpo humano muda do formato de um cilindro para o de um cone duplo com o acúmulo de gordura ao redor da cintura (PITANGA; LESSA, 2002). A faixa teórica vai de 1 a 1,73 e é calcula-
da através da seguinte equação: CC/0,109√(PC/AL
onde: CC = circunferência da cintura(m); PC = peso cor-poral (kg); AL=altura (m). Valdez (1993), descreve como um índice simples e prático para determinação da gor-dura abdominal e um forte preditor de morte prematura e doenças cardiovasculares, podendo ser usado como índice do nível de adiposidade, mas não independente-mente das concentrações de colesterol e da pressão sanguínea.
A aferição da PA ocorreu por meio do método aus-cultatório utilizando-se de esfigmanômetro aneróide da marca Missouri Indústria e Comércio Ltda., com braça-deiras e estetoscópio (rappaport techline), adequados a amostra pesquisada, seguindo as recomendações da V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (MION JR et al., 2006).
Após a devolução do TCLE o IPAQ foi aplicado em sala, nas aulas da disciplina Educação Física (antes do início das aulas), no turno vespertino, com permis-são do docente responsável, e explicação de seu pre-enchimento. Constou na folha do questionário espaço para a identificação do aluno e o número corresponden-te à lista de chamada, contudo, esta identificação foi de livre escolha, sendo informado que mesmo se identifi-cando não seria exposto seu nome na pesquisa. E a coleta das medidas antropométricas, em método de cir-cuito, exceto a aferição da pressão arterial que foi reali-zada individualmente em uma sala reservada. Respei-tando-se a seguinte ordem:
Primeiro - Aplicação do questionário (IPAQ- ver-são curta);
Segundo – Aferição das medidas antropométri-cas e calculo do IMC e IC;
Terceiro – Aferição da pressão arterial.
A PA foi mensurada no braço direito posicionado à altura do coração, com o aluno relaxado na posição sentada. Após cinco minutos de descanso prévio, men-suraram-se duas medidas com intervalo de repouso de cinco minutos, registrando-se a menor medida. A PA sis-tólica (PAS) foi determinada no aparecimento dos ruí-dos (fase I de Korotkoff) e a PA diastólica (PAD) no desa-parecimento dos ruídos (fase V de Korotkoff). Utilizan-do-se os valores previstos nas V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, (MION JR et al., 2006), para classificação da HAS. A análise estatística dos dados foi realizada através do programa SPSS 17.0 para Win-dows. Para as variáveis, foi realizada a comparação de
Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e indicadores antropométricos associados em escolares na cidade de Muritiba-BA
59Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 57-61, jan./jun., 2013.

médias entre sexos utilizando-se o teste t de Student (distribuição simétrica).
Sendo a pesquisa analisada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Maria Milza (FAMAM), sob protocolo nº1483/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a coleta dos dados e sua análise descritiva, os resultados obtidos apresentaram: a média da idade foi de 15,78±2,21 anos, onde 68% eram do sexo femini-no e 32% masculino. A média encontrada para o IMC res-peitando os percentis para a população foi de
219,20±3,02 kg/m , onde 6% dos pesquisados encontra-2vam-se na faixa de 25 a 30 Kg/m , 48% com valores de
2 2IMC entre 20 kg/m e 24,99 kg/m e 52% da amostra com 2IMC < 20 kg/m (tabela 1), caracterizando mais da meta-
de da amostra com níveis saudáveis de gordura corpo-ral, segundo classificação do IMC para faixa etária.
A PA sistólica elevada (≥140 mmHg) foi verificada
em 6% e a PA diastólica elevada (≥90 mmHg) em 10%,
nenhum dos pesquisados tinham PA sistólica e diastóli-ca elevadas concomitantemente, e 2% com valores limí-trofes de acordo com os percentis de estatura para ambos os sexos e idade.
A HAS foi mais prevalente nos alunos do sexo masculino (8%) que nas do sexo feminino (6%). Encon-tramos correlação positiva entre PA sistólica e IMC (r=0,3411, p<0,0001), bem como entre PA diastólica e IMC (r=0,3133, p<0,0001). Quanto à atividade física 24% dos alunos foram classificados como ativos, 48% como moderadamente ativos e 28% como sedentários. Entre os sexos, os do sexo masculino mostraram-se mais ativos (82%) que as do sexo feminino (64%).
Apesar da prevalência da HAS encontrada nesse estudo, uma relação positiva com o excesso de peso corporal, não pode ser identificada, diferente dos resul-tados obtidos por Borges et al. (2008), em estudo onde
analisavam a associação entre hipertensão, excesso de peso e nível de atividade física, ressaltando que o excesso de peso pode influenciar no aumento da hiper-tensão arterial,
Sabe-se que a atividade física pode ajudar no tra-tamento da HAS por meio do controle do peso e pela pro-moção da saúde. Portanto, a atividade física deve ser incentivada como forma de controle de peso e preven-ção de doenças. Silva e Lopes (2008) observaram que estudantes que se deslocavam até a escola caminhan-do ou de bicicleta, tinham menor prevalência de exces-so de peso e gordura corporal do que aqueles que se deslocavam passivamente. Os autores constataram que o simples estímulo de atividade física no desloca-mento à escola é capaz de prevenir o excesso de peso, evitando também o aumento da pressão arterial.
Portanto, adotar hábitos alimentares saudáveis e atividade física regular deve ser uma estratégia prioritá-ria, a fim de prevenir a HAS em indivíduos jovens.
O excesso de peso corporal tem forte correlação com o aumento da pressão arterial, sendo um fator pre-disponente para a hipertensão (BORGES et al., 2008). Todos os hipertensos com excesso de peso, incluindo crianças, devem ser incluídos em programas de redu-ção de peso de modo a alcançar IMC inferior a 25 kg/m². E, segundo Carneiro (2003) que apresentam percentil maior que 95 para estimativa do IMC.
A prevalência da HAS encontrada mostrou-se parecida com dados brasileiros e americanos mais recentes, e características epidemiológicas observa-das em adultos também foram encontradas. Conside-rando que evidências sugerem que a HAS começa na infância ou mesmo ainda durante a vida intra-uterina e que crianças que apresentam persistência de valores de pressão arterial elevados têm um risco aumentado de tornarem-se adultos hipertensos (ARAÚJO, 2007). E, em um estudo longitudinal Franklin et al. (2005) demonstraram que o desenvolvimento de hipertensão na idade adulta pode ter começado em uma fase mais precoce da vida.
TABELA 1 - Média e desvio padrão por sexo das variáveis da amostra estudada.
VARIÁVEIS MASCULINO FEMININO
IDADE (anos) 16,65 ± 2,55 15,42 ± 1,27
PESO (kg) 58,71 ± 9,79 59,38 ± 10,99
ALTURA (m) 1,62 ± 0,11 1,68 ± 0,08
IMC (kg/m²) 19,93 ± 2,22 21,08 ± 3,39
IC 1,16 ± 0,06 1,22 ± 0,13
PAS 110,6 ± 14,1 106,8 ± 10,6
PAD 75,5 ± 9,1 73,7 ± 12,0
Fonte: Pesquisa desenvolvida em Muritiba/BA (2011).
Fabrício Sousa Simões; Adriano Batista Souza; Jorge Luiz Santos de Jesus; Tarcísio Dias da Silva
60 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 57-61, jan./jun., 2013.

Relações positivas da PA com o IMC também foram encontradas. Existindo para a amostra estudada uma correlação negativa entre o nível de atividade físi-ca e os níveis pressóricos, considerando que a ativida-de física diminui o risco de obesidade, atuando na regu-lação do balanço energético, influenciando a distribui-ção do peso corporal, preservando ou mantendo a massa magra, além de contribuir na perda de peso e de ser eficaz, isoladamente, para prevenir a hipertensão arterial (JUZWIAK et al., 2000).
As V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arteri-al (MION JR et al., 2006) enfatizam que na maioria dos casos, o tratamento não-medicamentoso é suficiente para normalizar a pressão arterial. Ele inclui a adoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de exercí-cios físicos, dieta equilibrada e diminuição do peso além de seu correto diagnóstico.
CONCLUSÃO
Este trabalho tem como conclusões que a preva-lência de pressão arterial elevada foi de 9,4% para ambos os sexos, existindo diferenças estatisticamente significantes entre as prevalências de pressão arterial elevada entre os gêneros, sendo maior no sexo mascu-lino. O sobrepeso e a obesidade estiveram associados com níveis mais elevados de pressão arterial sistólica. E o índice de conicidade não demonstrou associação como preditor da HAS no grupo estudado.
REFERÊNCIAS
ARAUJO, T. L. et al. Pressão arterial de crianças e ado-lescentes de uma escola pública de Fortaleza – Ceará. Acta paul enferm, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 476 – 482, 2007.
BORGES, H. P.; CRUZ, NC; MOURA, E. C. Associação entre hipertensão arterial e excesso de peso em adul-tos, Belém, Pará. Arq Bras Cardiol; v. 91, n. 2, p. 110-8, 2008.
CARNEIRO, G. et al. Influência da distribuição da gor-dura corporal sobre a prevalência de hipertensão arteri-al e outros fatores de risco cardiovascular em indivíduos obesos. Rev Assoc Med Bras, São Paulo, v. 49, n. 3, p. 306-11, 2003.
COLE, T.J., et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000. CRAIG, C. L. et al. International Physical Activity Questionnaire. 2005. Disponível em: <http:cela-fiscs.com.br>. Acessado em 15 de outubro de 2009.
FRANKLIN, S. S. et al. Predictors of new-onset diastolic and systolic hypertension: the Framingham Heart Study. Circulation, v. 111, p. 1121-27, 2005.
GARCIA, F. D. et al. Avaliação de fatores de risco asso-ciados com elevação da pressão arterial em crianças. J Pediatria, Rio de Janeiro, v. 80, n. 1, p. 29-34, 2004.
GUS, I. et al. Prevalence, Awareness, and Control of Systemic Arterial Hypertension in the State of Rio Grande do Sul. Arq Bras Cardiol, v. 83, n. 5, p. 424-428, 2004.
JUZWIAK, C. R; PASCHOAL, V. C. P; LOPEZ, F. A. Nutrição e atividade física. J Pediatr, Rio de Janeiro, v. 76, Supl. 3, p. 349-58, 2000.
LOHMAN, T. G; ROCHE, A. F; MARTORELL, R. Anthropometric standardization reference manual. Illinois. Human Kinetics Books, 1988.
LUIZ, R. R; MAGNANINI, M. M. F. O tamanho da amos-tra em investigações epidemiológicas. In: Medronho RA, Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL, organizadores. Epidemiologia. São Paulo, Atheneu, p. 295-308, 2002.
MATOS, A. C. LADEIA AM. Assessment of Cardiovas-cular Risk Factors in a Rural Community in the Brazilian State of Bahia. Arq Bras Cardiol, São Paulo, v. 81, n. 3, p. 297-302, 2003.
MION JR. D. (Org.); GOMES MAM; NOBRE F; AMODEO C, KOHLMANN JR. O; PRAXEDES JN. V Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Arq Bras Cardiol, v. 82 Suppl 4, p. 7-35, 2006.
PITANGA, F.J.G; LESSA I. Associação entre Índice de Conicidade e Hipertensão Arterial Sistólica em Adultos na Cidade de Salvador-Ba. In: Resumos do XIV Con-gresso de Cardiologia do Estado da Bahia, 2002; Sal-vador: Sociedade Brasileira de Cardiologia; p. 25, 2002.
ROSA, A. A; RIBEIRO, F. P. Hipertensão arterial na infância e adolescência: fatores determinants. J Pediat; v. 75, n. 3, p. 75-84, 1999.
SILVA, K. S; LOPES, A. S. Excesso de peso, pressão arterial e atividade física no deslocamento à escola. Arq Bras Cardiol. v. 9, n.1(2), p. 93-101, 2008.
THOMAS, J. R.; NELSON, J. K. Métodos de Pesqui-sas em Atividade Física. 3ª Ed. – Porto Alegre: Artmed, p. 95-100, 2002. VALDEZ R, SEIDELL J. C, AHN Y. I, WEISS K. M. A new index of abdominal adiposity as an indicator of risk for cardiovascular disease. A cross-population study. Int J Obes Relat Metab Disord. v. 17, n.12, p. 727-4, 1993.
Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e indicadores antropométricos associados em escolares na cidade de Muritiba-BA
61Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 57-61, jan./jun., 2013.


DESCENTRALIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE SUA INTERFERÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL
Laudiceia Garcia Neves*
Norma Irene Soza Pineda**
A descentralização das ações e serviços de saúde representa um dos principais componentes do processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, visa facilitar à população um maior acesso aos serviços de saúde, contrapondo-se ao modelo centralizador anterior. Este estudo teve por objetivo analisar o processo de descentralização no SUS, descrevendo a sua interferência nos serviços de saúde nos últimos anos. Realizou-se revisão de literatura, a partir das bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde - Bireme e da Scientific Electronic Library Online - Scielo; por meio de uma abordagem qualitativa são discutidos artigos científicos publicados entre os anos de 2000 a 2011 sobre descentralização dos serviços de saúde. Foi possível constatar que o processo de descentralização é reconhecido como importante estratégia do SUS para favorecer o princípio do acesso a saúde a população, sendo que contribui para a expansão de determinados segmentos do setor saúde, favorecendo também a regionalização dos serviços de saúde. Entretanto, existem ainda algumas lacunas a serem preenchidas na gestão em saúde como: interferência político-partidária, melhor administração de verbas públicas destinadas ao setor saúde e investimento na contratação e profissionalização de gestores capacitados a assumir cargos de gerencia; estes são critérios fundamentais para que a descentralização ocorra de forma fidedigna aos propósitos traçados.
Palavras-chave: Serviços de saúde. Descentralização. SUS. Políticas de saúde.
The decentralization of the actions and health services represents one of the main components of the process of implementation of the Single Health System (SHS) in Brazil, which enables the population to have greater access to health services, going against the centralizing model previously established. The objective of the present study was to analyze the decentralization process of the SHS describing its interference in health services in the last years. A literature review was carried out from the Virtual Health Library - Bireme and Scientific Electronic Library Online - Scielo databases by applying a qualitative approach whereas articles published between 2000 and 2011 regarding the decentralization of health services are discussed. It was found that the decentralization process is recognized as an important strategy of SHS to promote the principle of access to health care to the population, contributing to the expansion of certain segments of the health sector, encouraging also the regionalization of health services. However, there are still some gaps to be filled in health management such as:political-partisan interference, better administration of public funds intended for the health sector and investment in hiring and professionalization of managers able to assume positions of manages; These are fundamental criteria so that decentralization may occur in reliable fashion as to the purposes established.
Key-words: Health services. Decentralization. SHS. Health politics.
*Enfermeira FAMAM/Especialista em Gestão em Saúde - UNEB (Universidade do Estado da Bahia, Colegiado do Curso EAD em Gestão em Saúde) e-mail [email protected];**Professora Orientadora do curso de Especialização em Gestão em Saúde pela Universidade do Estado da Bahia, e-mail: [email protected]
Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

INTRODUÇÃO
O processo de descentralização do sistema público de saúde no Brasil visa melhorar a eficiência com a finalidade de proporcionar à população acesso aos serviços de saúde que venha suprir às necessida-des referentes ao processo saúde\doença. Entende-se por descentralização a transferência de poder adminis-trativo e técnico do âmbito federal ao municipal através da habilitação na gestão plena do sistema pela NOB-96. (VIEIRA et al., 2007)
O Ministério da Saúde do Brasil passou por um processo de redefinição político-institucional nos anos 90, e um dos movimentos que caracterizou este período foi a descentralização político administrativa, que forta-leceu autoridades sanitárias, como exemplo têm-se ges-tores estaduais e municipais da saúde, por meio de um processo que envolveu diversas fases de negociação o que resultou na repartição de poderes. (VIANA-MACHADO, 2009)
A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser vista como uma lei fundadora de uma nova ordem social na saúde, baseada nos princípios de uni-versalidade e igualdade, e organizado sob as diretrizes da descentralização (acesso e universalidade dos ser-viços de saúde), participação da comunidade e atendi-mento integral (MENICUCCI, 2009). Assim a descen-tralização foi iniciada dentro do processo de redemo-cratização, isso porque os regimes autoritários tinham como características aspectos como exclusão e centra-lização, e intervenções sociais fragmentadas (MENDES 2001).
Segundo Viana e Machado (2009) na implanta-ção do SUS, houve mudanças referentes a conflitos intergovernamentais em saúde, como redistribuição das responsabilidades das esferas de governo. Entre-tanto, ainda continua a necessidade da existência de uma coordenação federativa, que ofereça subsídios necessários para que as esferas estaduais e municipais possam cumprir as ações propostas a fim de aprimorar os serviços de saúde públicos favorecendo de uma forma mais intensa o alcance dos objetivos da política de saúde de combate as desigualdades, possibilitando a existência de políticas de acordo com realidades terri-toriais e sociais distintas.
Durante a década dos anos 80, a descentraliza-ção propiciou a ampliação da oferta de serviços e da par-ticipação popular. Nos últimos anos têm sido identifica-dos como benefícios da descentralização a ampliação da rede assistencial, a diversificação da oferta de servi-ços em atenção primária e dos serviços de alta e media complexidade; e algumas medidas relativas à reorgani-zação do modelo de atenção. (VIEIRA et al., 2007)
Assim, a descentralização dentro do SUS parte da necessidade de oferecer serviços de saúde justos à população em contradição aos serviços centralizados e
excludentes, chegando a ser um processo fundamental por estar baseado em princípios democráticos. Entre-tanto, precisa ser melhor compreendida juntamente com os aspectos político, social e econômico que a envolve.
Diante deste contexto surgiu a seguinte indaga-ção: como o processo de descentralização vem ocor-rendo e qual a sua interferência no sistema de saúde no Brasil na última década? Este estudo tem como objetivo analisar o processo de descentralização dos serviços de saúde, discorrendo sobre seu percurso, identifican-do a sua interferência no processo saúde tanto nos aspectos positivos como nos negativos. Os resultados do estudo são fundamentais para maior compreensão do processo de descentralização, sua interferência e contribuições na assistência a saúde no Brasil.
SAÚDE NO BRASIL E DESCENTRALIZAÇÃO: BREVE HISTÓRICO
A trajetória histórica de saúde no Brasil envolveu vários fatos marcantes, entre eles a mudança de um modelo curativo para um modelo de atenção integral, assim é importante conhecer o percurso da Saúde no Brasil pra que se tenha uma concepção maior do con-texto que envolve o processo saúde/doença nos dias atuais.
Carvalho e Barbosa (2010, p.18) comentam que entre as décadas de 1960 à 1980 a população não pre-videnciária, sofria com a discriminação, pois apenas aqueles trabalhadores ligados a Previdência Social podiam usufruir dos atendimentos de saúde. Felizmen-te esse sistema teve características negativas, como por exemplo, a baixa capacidade de controle sobre os prestadores de serviços contratados o que levou a explosão de altos custos para o sistema público, já que o setor público tinha dificuldades de controle sobre os prestadores de serviços contratados e também tinha suas prioridades voltadas à medicina curativa o que resultava em maiores gastos.
Na década de oitenta com a crise financeira acon-teceu a transição para a Seguridade Social o marco ini-cial desse período foi a criação do Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP). Carvalho e Barbosa (2010) comentam que “os progra- mas mais relevantes do CONASP foram à implantação do Sistema de Atenção Médico-Hospitalar da Previdên-cia Social (SAMPHPS) e o de implementação das Ações Integradas de Saúde (AIS)”. Esse último progra-ma, as AIS, consistiu no principal instrumento de mudança do sistema, pois a partir dele o sistema de saúde percorreu uma progressiva trajetória para a uni-versalização e para a descentralização dos serviços e ações em saúde.
Assim, Santos (2009) comenta sobre a Reforma
Laudiceia Garcia Neves; Norma Irene Soza Pineda
64 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

Sanitária como um movimento que se destacou na luta pela universalização dos serviços de saúde. Para San-tos (2009) a Reforma Sanitária organizada no final da década de setenta foi um movimento ilustre, pois logrou escrever o direito a saúde como dever do Estado, “bem como garantir a montagem de um sistema assistencial público, integrado e universal” na Constituição de 1988.
Melo e Santos (2007) inferem que o movimento da reforma sanitária ocorrido nas décadas de 70 e 80 foi o ponto auge para ocorrência da luta por um sistema descentralizado, dessa forma no Brasil a descentraliza-ção das ações de saúde permitiria maior equidade na solução dos problemas de saúde, pois as regiões brasi-leiras possuem demandas especificas agravadas por diferenças sócio-econômicas.
Para Paim e Teixeira (2007) a Reforma Sanitária Brasileira (RSB) ressaltava um conjunto de mudanças no Estado, na sociedade e na cultura, objetivando a melhoria da situação de saúde, por isso enfocava crité-rios como a totalidade de mudanças, defendendo o prin-cípio de que a saúde é direito de todos e dever do esta-do Nesse percurso se chegou à proposta da implemen-. tação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, o qual viria a ter como característica serviços de saúde democráticos e descentralizados, com participação das três esferas de governo definindo suas responsabilida-des.
Ainda sobre a Reforma Sanitária, Silva et al. (2007, p.355) comenta que a descentralização tem sido um dos principais componentes da Reforma Sanitária, as diretrizes foram consentidas na 8ª Conferência Naci-onal de Saúde em 86, sendo que a descentralização dos serviços de saúde tem destaque na década de oitenta com as Ações Integradas de Saúde e o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), ganhando assim maior abrangência e estabilidade na aprovação de suas bases descritas em Lei.
Corroborando com este pensamento o Ministério da Saúde (2004) infere que com a conquista da demo-cracia a sociedade teve uma participação ativa na cons-trução de proposições políticas para a saúde durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A implementação do sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) foi essencial para a implantação do SUS que tem como princípios e diretrizes a integralidade, equidade e maior acesso aos serviços de saúde pela população.
Menicucci (2009) evidencia que na década de 90, foram elaborados instrumentos para a gestão públi-ca descentralizada de estabelecimentos de saúde, rea-lizando o acompanhamento de serviços e tornando mecanismos de pagamento homogêneo, buscando a partir daí a organização da assistência que foi o foco da atuação setorial desde o início da implantação do SUS; tendo como desafio substituir o modelo hospitalo-cêntrico a fim de realçar os princípios de universalidade e integralidade, dando enfoque às ações de promoção
e prevenção da saúde.
O Ministério da Saúde (2004, p.77) complementa que na década de 90, a política de saúde foi marcada pela “construção do SUS, descentralização das ações, dos serviços e da gestão; melhorias na gerencia e na capacidade de regulação; redução das desigualdades na distribuição de tetos financeiros da assistência à saúde para as regiões, entre outros serviços. Carvalho (2010) infere que nesta mesma década o SUS encara o teste da realidade e a implantação da sua concepção.
As Normas Operacionais Básicas consistiram num importante instrumento para a implantação e ope-racionalização do SUS, principalmente no que se refere à descentralização; por representar instrumentos regu-ladores específicos do processo de descentralização do SUS devido aos mecanismos financeiros a elas liga-dos. (Ministério da Saúde, 2004, p.49)
Corroborando com este pensamento Teixeira (2002) comenta sobre o percurso histórico da descen-tralização em saúde discorrendo que a elaboração e implementação das Normas Operacionais Básicas foram fundamentais no processo de reorientação da gestão do SUS, construído ao longo de anos e descrito como um movimento pendular de descentraliza-ção/centralização. Focaliza o inicio da descentralização exatamente com a implementação das NOB de 1993 e especialmente a de 1996 que levaram a redefinição de competências e ações das esferas de governo no que tange a gestão, organização e prestação de serviços de saúde, através da transferência de recursos do nível federal e estadual para o nível municipal.
Spedo, Tanaka e Pinto (2009) complementam que a descentralização do sistema e serviços de saúde implementada no Brasil contribuiu para importantes avanços no sentido da construção do Sistema Único de Saúde. Ressaltam que a descentralização foi impulsio-nada pelo Ministério da Saúde por conseqüência de sucessivos instrumentos normativos como as Normas Operacionais Básicas do SUS (NOB), que foi caracteri-zado como um “certo jeito NOB de fazer o SUS”. Porém, a rigidez normativa e o detalhamento excessivo desses instrumentos representaram limitações à operacionali-zação da descentralização por conseqüência de uma pactuação que levasse em consideração a realidade locorregional e a assimetria dos municípios brasileiros.
O Ministério da Saúde (2006 p. 72) no documen-to do pacto pela Vida, em defesa do SUS e Gestão, des-creve a regionalização como eixo estrutural da dimen-são de gestão, ou seja, a regionalização deve orientar o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores.
Diante desse contexto, vê-se o percurso histórico da descentralização da saúde no Brasil e os processos, normas e fatos históricos que influenciaram e impulsio-naram a sua concepção, fatos importantes para a com-
Descentralização: um estudo sobre sua interferência nos serviços de Saúde no Brasil
65Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

preensão das características e interferências da des-centralização no processo de gestão em saúde atual no país.
DESCENTRALIZAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA
O processo de descentralização dos serviços de saúde iniciou desde a década de 90 como proposta para impulsionar a universalização dos serviços ofere-cidos pelo SUS, e desde então o desenvolvimento do processo e seu impacto na saúde merece atenção devendo ser estudado e avaliado para o reconhecimen-to das contribuições do mesmo no quadro de saúde da esfera municipal.
O processo de descentralização predominante no Brasil é do tipo político- administrativo, envolvendo não apenas a transferência de serviços, mas também a transferência de poder, responsabilidade e recursos, antes concentrados no nível federal, para estados e, principalmente para os municípios. A década de 90 tes-temunha a passagem de um sistema extremamente centralizado para um cenário em que centenas de ges-tores – municipais e estaduais – tornam-se atores fun-damentais no campo da saúde.
Corroborando com este pensamento, Juliano e Assis (2004) discorrem que em seu aspecto geral o Bra-sil esta consolidado em três níveis políticos administra-tivos, sendo eles: União, Estados e Municípios. Dividido em 27 Estados e possuindo respectivamente 5.561 municípios, o que explica a adoção do processo de des-centralização como viabilizador das políticas públicas, já que as diferentes regiões divergem nos seus aspec-tos socioeconômicos, culturais, demográficos, sanitári-os, dentre outros.
Paim e Teixeira (2007) inferem que a instituciona-lização da gestão do SUS possui características do pro-cesso de descentralização dirigido pelo objetivo da implantação do pacto federativo acrescentado na cons-tituição de 1988, sendo que este processo tem sido cita-do nos últimos anos pela implementação de políticas e estratégias que se originaram na missão de repartições gestoras em cada esfera de governo.
Assim, Menicucci (2009) refere que nas duas últi-mas décadas vem acontecendo a ampliação da rede pública que ressalta o esforço em relação ao aprofunda-mento do processo de descentralização, gerando pres-são sobre os governos locais e também esforço em rela-ção a universalização da assistência a partir da garantia de acesso a atenção primária e de reversão do modelo assistencial centrado no atendimento hospitalar.
Seta (2010, p. 65-73) comenta que a descentrali-zação assume em seu conceito diversos significados, porém, independentemente de ser uma descentraliza-ção política, administrativa ou desconcentração, a mesma tem como característica duas faces: a realiza-
ção descentralizada de ações e a transferência de recursos financeiros das esferas mais externas de governo para as mais internas.
Desta forma Sampaio et al. (2011) salientam que critérios como a promoção de processos de planeja-mento estratégico, torna possível maior descentraliza-ção do poder decisório, favorecendo que cada nível organizacional seja responsável por problemas refe-rentes ao seu poder resolutivo, evidenciando-se desta forma a relevância da descentralização de responsabili-dades e a adequação das competências aos diferentes níveis organizacionais para a resolução de problemas.
Viana e Machado (2009) comentam que a des-centralização esta ligada diretamente à democratiza-ção e às mudanças na gestão pública em uma versão federativa, assim a intensidade da descentralização em saúde no Brasil perpassa em dimensões representadas pela transferência de serviços e servidores públicos; responsabilidades e atribuições; recursos financeiros e poder para a política de saúde.
Spedo, Tanaka e Pinto (2009) salientam que a Reforma Sanitária promulgava por a descentralização dentro do marco de redemocratização do país, sendo uma estratégia para aproximar os serviços de saúde às necessidades dos cidadãos, de forma a ampliar espa-ços democráticos, promovendo a participação social e o poder local. Por outra parte, o projeto de reforma do estado defendia a descentralização como ponto estra- tégico de modernização da administração pública, divi-dindo responsabilidades com a sociedade e com o mer-cado e restringindo desta forma o papel do Estado.
Desta forma Varquez (2011) explicita que apesar da trajetória irregular, houve um aumento real nos repasses federais, que poderia ter sido maior se não fosse que o PIB não teve seu percentual elevado, porém ocorreu forte expansão dos recursos estaduais e principalmente municipais destinados à saúde, elevan-do a participação de uma forma ou de outra de cada esfera no financiamento da política em saúde.
Para Melo e Santos (2007) a esfera municipal ganhou destaque com o processo de descentralização, pois o âmbito municipal foi o que mais ganhou com este processo por motivo de o município ser a esfera de governo que mais se beneficiou da partilha dos recur-sos financeiros e de poder. Porém a descentralização também aumentou as responsabilidades na gestão e oferta de serviços e ações de saúde na esfera munici-pal; favoreceu a partilha de poder e responsabilidades na implantação e implementação das políticas públicas de saúde.
Diante desse contexto Barreto e Silva (2004) afir-mam que a descentralização objetivou aproximar o ges-tor político do cidadão e elaborar mecanismos para o controle público e social, buscando definir as priorida-des locais; qualificar a fiscalização e controle da aplica-ção dos recursos municipais, assim como também a
Laudiceia Garcia Neves; Norma Irene Soza Pineda
66 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

melhor utilização daqueles recebidos mediante transfe-rências intergovernamentais voltados a aplicação na saúde.
Segundo Machado (2002, apud Ministério da Saúde, 2004, p. 49) os eixos como a normatização e os mecanismos financeiros constroem a base da regula-ção da descentralização da gestão do sistema pelo ges-tor federal. Através desta base se relacionam formas de regulação da política nacional de saúde pelo gestor federal do SUS, como exemplo: apoio e capacitação téc-nico dos gestores estaduais e municipais, capacitação de recursos humanos pelo SUS, controle e avaliação de sistemas, financiamento de pesquisas, implementação de novas estruturas de regulação da rede de serviços.
Para Barreto e Silva (2004) a descentralização favorece a aproximação do gestor político ao cidadão através da municipalização da política e maior controle público com a criação dos conselhos municipais de saú-de; aos prestadores de serviços e trabalhadores da saúde dentre outros O gestor estadual foi o que sofreu . maior impacto no processo de descentralização ao ter suas funções originais substituídas por uma função de coordenação, apoio e regulamentação do sistema esta-dual de saúde.
Em resumo, é possível afirmar que a implemen-tação do processo de descentralização interferiu e modi-ficou a gestão pública na saúde, dando novos resignifi-cados as obrigações do gestor público estadual e muni-cipal, tornando consideravelmente maior as atribuições municipais em relação às políticas de saúde.
Juliano e Assis (2004) ainda citam que dentre as atribuições do SUS seis estão relacionadas ao campo da Vigilância Sanitária e que as ações desta integram as ações de promoção da saúde, proteção, recupera-ção e reabilitação. A Vigilância Sanitária denota ampli-tude e magnitude das suas ações na consolidação da descentralização dentro do SUS, contribuindo desta forma para o maior aumento de acesso a saúde pela população.
AS VERTENTES DA DESCENTRALIZAÇÃO
A descentralização dos serviços de saúde trouxe avanços para o setor, principalmente quando se leva em consideração o acesso dos serviços de saúde pela população. Entretanto, o processo tem seus aspectos negativos, não pela descentralização em si, mas por os que regem o processo de gestão do sistema descentra-lizatório. Cabe aqui contextualizar contraposições na visão de literários sobre as faces que permeiam o pro- cesso de descentralização nos últimos anos.
Juliano e Assis (2004) comentam que o processo de descentralização do SUS, com suas normas especí-ficas, possibilitou a implementação de medidas que intensificaram a gestão municipal, como por exemplo, a
Programação Pactuada e Integrada (PPI) que foi esta-belecida através da NOB-SUS/96. A PPI busca permitir uma distribuição territorial mais justa e equitativa de recursos, objetivando organizar os serviços e práticas dos sistemas e serviços de atenção à saúde no nível local e regional.
Para Dourado e Elias (2011) a descentralização através do seu enfoque municipalista trouxe avanços para o SUS, principalmente no que diz respeito á ampli-ação da capacidade de gestão dos municípios. O pro-cesso possibilitou também a instituição de componen-tes essenciais para o SUS, tendo como destaque a implementação dos Conselhos de Saúde nas três esfe-ras de governo; a mudança nos critérios de financia-mento, e a consolidação dos colegiados intergoverna-mentais, sendo elas, a Comissão Intergestores Triparte e as Comissões Intergestores Bipartite (CIBs).
Em contraposição Paim e Teixeira (2007; p. 1820) inferem que no financiamento público para o SUS ainda persistem características como insuficiência e ins-tabilidade que influenciam diretamente os problemas da gestão, principalmente no que diz respeito aos esta-belecimentos de saúde como hospitais e serviços de atenção básica. A falta de profissionalização de gesto-res e a interferência político-partidária comprometem o funcionamento do SUS.
Vasquez (2011) reforça que segundo um estudo realizado observou-se que os incentivos financeiros esti-mulam a descentralização dos serviços, porém não cobrem integralmente os custos de oferta dos progra-mas, isso faz com que existam contrapartidas municipa-is de recursos próprios. Após a adesão dos municípios, foi verificado que os valores que orientam as transferên-cias da União não foram corrigidos de forma correta, o que levou ao aporte de maiores recursos municipais.
Tem sido citado que a descentralização pode ser considerada como "destrutiva", argumentando que, se delega aos municípios as competências de políticas sociais sem os recursos correspondentes e/ou neces-sários. Essas políticas vêm gerando um profundo dese-quilíbrio na federação brasileira, retirando dos estados as possibilidades financeiras, técnicas e políticas de pla-nejar e coordenar programas sociais de forma regional e mais equitativa. A delegação de autoridade ao poder local, via descentralização com participação da socie-dade, só se efetivaria de fato por meio de esforços ao combate do "coronelismo" e "caciquismo", ou seja, o combate aos esquemas tradicionais de poder das elites locais. (JULIANO E ASSIS, 2004)
Percebe-se que existem diversos fatores que vem a contribuir para o déficit na gestão e operacionali-zação do SUS, estes fatores citados anteriormente, con-sequentemente também interferem no processo de des-centralização dos serviços de saúde, principalmente pela interferência da monopolização política que visa interesses próprios.
Descentralização: um estudo sobre sua interferência nos serviços de Saúde no Brasil
67Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

INTERFERÊNCIAS DA DESCENTRALIZAÇÃO NO PROCESSO DA SAÚDE
Discutir a interferência da descentralização no processo saúde ao longo dos últimos anos é fundamen-tal para que se tenha uma maior noção de como o pro-cesso vem sendo gerido e como tem interferido no sis-tema de saúde. Ao longo dessa trajetória da descentra-lização novas discussões surgem, sobretudo referente às suas vertentes.
Menicuccci (2009) infere que a predominância do SUS juntamente com a adoção de propostas como a descentralização dos serviços de saúde faz com que exista maior número de estabelecimentos públicos de saúde, o que tem um impacto significativo sobre a saúde da população. O sistema público de saúde é res-ponsável pela maior parte dos procedimentos e pela cobertura de três quartos da população, é no SUS tam-bém que a população encontra cobertura para procedi-mentos inerentes à saúde coletiva.
O Ministério da Saúde (2004 apud Arret p. 54) sali-enta que a transferência de responsabilidades e recur-sos da esfera Federal para os demais níveis de governo não é suficiente para o fortalecimento do caráter demo-crático do processo decisório na formulação de política, ou seja, o empoderamento institucional das esferas de governo ultrapassa as questões voltadas à política seto-rial, assim cabe realçar que a descentralização apenas não colabora necessariamente para a concretização do SUS, mais também para outros aspectos relevantes entre eles o adequado uso de recursos financeiros e a permeabilidade das instituições do setor saúde aos valo-res democráticos.
Complementando Silva; (2007, p. 355-370) refe-re que as instituições públicas têm seu poder local e sua capacidade de gestão fortalecidos quando a descentra-lização acontece em correta articulação entre os com-ponentes de governo (projeto de governo, governabili-dade e capacidade de governo); a integração desses componentes pode resultar em melhor organização dos serviços de saúde possibilitando maior cobertura e aces-so além de otimização do uso dos recursos públicos visando assegurar maior integralidade e efetividade.
Assim Meniccuci (2009) comenta sobre os avan-ços do SUS evidenciando que com a criação de estraté-gias para a gestão pública descentralizada foram alcan-çados resultados significativos como o crescimento da produção ambulatorial; sendo que atendimentos bási-cos cresceram 424%, ao passo que os não básicos ape-nas 39%. Investimentos na atenção básica resultaram na ampliação do acesso a serviços, na redução da pro-porção de óbitos por diarréia, tendo passado de 18,1% em 1990 para 10,3% em 2009; e a cobertura do PSF aumentou, alcançando em 2007 a porcentagem de
95% dos municípios; embora enfrentando problemas com a qualidade, a resolutividade e a fixação de recur-sos humanos. Outro aspecto importante se refere aos avanços em relação à cobertura da saúde bucal, com a implementação do programa Brasil Sorridente.
Viacava (2010) salienta que uma análise dos últi-mos dez anos mostrou grandes variações no acesso e no uso dos serviços de saúde decorrentes de mudan-ças no quadro socioeconômico e na política de atenção à saúde. O acesso vem crescendo de forma importante, sobretudo para a população de regiões mais carentes. Entretanto refere-se que ainda persistem grandes desi-gualdades geográficas e sociais, principalmente no que tange aos serviços de mamografia e odontologia.
De acordo com o contexto exposto acima, pro-blemas de acessibilidade não serão resolvidos de ime-diato, porém se houver articulação entre municípios através de uma boa gestão, o processo de regionaliza-ção minimizaria os problemas de acesso aos serviços de saúde, a exemplo os serviços de mamografia.
Corroborando com este pensamento Guerreiro e Branco (2011) referem que a composição de novos acor-dos entre gestores favoreceu o estimulo à regionaliza-ção e hierarquização no setor saúde nos estados; e con-tribuiu para o fortalecimento da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). Sendo que estes critérios foram impulsi-onados pela Programação Pactuada e Integrada (PPI) que favoreceu a construção de espaços de discussão, afirmação e decisão de compromissos intergestores, objetivando também o acesso da população a ações e serviços de saúde no âmbito municipal próprio ou em outros municípios, através da oferta de atendimento por encaminhamento pactuado.
A descentralização dos serviços de saúde deve ser acompanhada por gestores compromissados para que os princípios de universalização e integralidade pos-sam ser cumpridos. É necessário que as esferas de governo e seus gestores adquiram o compromisso de gerir o processo de descentralização de forma que o mesmo funcione com eficiência e eficácia. Tendo a con-cepção de que é coerente que a descentralização e a regionalização sejam trabalhadas conjuntamente em prol de favorecer um melhor acesso aos serviços de saú-de.
Ainda torna-se necessário salientar sobre a exis-tência de um bom planejamento regional para um bom processo de descentralização, pois apenas aumentan-do o poder dos municípios sobre as ações de saúde não é suficiente, ou seja, não se pode esperar que um muni-cípio de poucos habitantes ofereça à sua população os mesmos serviços que um município maior, de maior número de habitantes e com maiores recursos pode ofe-recer.
Laudiceia Garcia Neves; Norma Irene Soza Pineda
68 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A descentralização dos serviços de saúde tem sido um processo fundamental para alcançar o cumpri-mento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o processo de descentralização tem sido promovido: a existência de um maior número de estabelecimentos públicos de saúde, o uso adequado de recursos financeiros, o crescimento da produção ambulatorial, a ampliação do acesso aos serviços, uma maior cobertura do PSF, avanços na cobertura de saúde bucal, maior participação e controle social, a regi-onalização das ações e os serviços, e a democratiza-ção do sistema público de saúde.
As mudanças nas responsabilidades das esferas de governo (Federal, Estadual, Municipal) com relação às ações de saúde, tem levado a maior poder no âmbito Municipal quando comparado ao âmbito Estadual. Outro aspecto importante é o desenvolvimento de importantes instrumentos para o SUS, como exemplos citam-se os Conselhos de Saúde e principalmente algu-mas mudanças no financiamento do setor.
Por outro lado ainda evidencia-se uma infra-estrutura deficitária seja por recursos humanos, seja por recursos materiais, ou ambos, mascarando um maior número de serviços de saúde para a população; também pode se observar o monopólio político partidá-rio, e desigualdade na distribuição de verbas para os municípios que apesar do processo ter contribuído para o aumento do acesso aos serviços de saúde no país, ainda persistem desigualdades entre regiões.
É necessário que o processo de descentraliza-ção dos serviços de saúde aconteça através de méto-dos de planejamento, organização e articulação entre os diversos níveis de governo, serviços de saúde e equi-pes intermunicipais, para uma adequada articulação das ações do processo de regionalização dos serviços a fim de aprimorar e favorecer o cumprimento dos prin-cípios do SUS.
São necessários também gestores capacitados e compromissados a fazer com que a operacionaliza-ção dos serviços de saúde e suas ações funcionem com eficiência e eficácia, trabalhando em prol de interesses coletivos, se contrapondo à realização de interesses pessoais ou partidários utilizando verbas destinadas a interesses coletivos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARRETO F. I. , SILVA; Z. P. Reforma do Sistema de Saúde e as novas atribuições do gestor estadual. Rev. São Paulo em Perspectiva. v.18. n. 3. São Paulo: 2004. p.47-56.
BRASIL. Ministério da Saúde. In. A Gestão do Sistema único de Saúde Características e Tendências. Saúde
no Brasil: Contribuições para a Agenda de Prioridades de Pesquisa. Brasília: Ministério da saúde, p. 45-94, 2004.
_______. Ministério da saúde. Secretária Executiva. Coordenação de apoio à Gestão descentralizada. Dire-trizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão. Brasília. Ed: Ministério da Saúde, p. 72, 2006.
CARVALHO A. I. Políticas de Saúde: fundamentos e diretrizes do SUS. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC; Brasília: CAPES: UAB, 2010. 82 pag. ISBN: 978-85-7988-059-9.
DOURADO D. A, ELIAS; P.E.M. Regionalização e dinâ-mica política do federalismo sanitário brasileiro. Rev. Saúde Pública. v. 1 n.45. São Paulo: 2011. p.204-211.
ELIAS P. E. Descentralização e Saúde no Brasil: algu-mas reflexões preliminares. Rev. Saúde e Sociedade. V.5 n.2. São Paulo: 1996. p.17-34.
GIL A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GUERREIRO J. V. e BRANCO M. A. F. Dos Pactos Polí-ticos à Política dos Pactos na Saúde. Rev. Ciências e Saúde Coletiva. Vol. 6 n.3 Rio de Janeiro: 2011. p.1689-1698.
JULIANO I. A.; ASSIS, M. M. A. A vigilância sanitária em Feira de Santana no processo de descentralização da saúde (1998-2000). Rev. Ciência e Saúde Coletiva. v.9 n.2 Rio de Janeiro abr.\jun.2004. p.493-505.
MELO C. M. M. e SANTOS, T. A. A participação política de enfermeiras na gestão do Sistema Único de Saúde em nível municipal. Rev. Texto & Contexto-Enfermagem. v.16 n.3 Florianópolis jul./set. 2007. Dís-ponivel em: http: / /www.scielo.br . Acesso em: 16/02/2011. p. 426-432.
MENDES V.M. Os Grandes Dilemas do SUS. Salva-dor-BA: Casa da Qualidade, 2001.
MENICUCCI T. Mª. G. O Sistema Único de Saúde, 20 anos: balanço e perspectivas. Cad. Saúde Pública. v. 25. N.7. Rio de Janeiro jul/2009. p.1620-1625.
NEVES J. L. Pesquisa Qualitativa - características, usos e possibilidades. Caderno de Pesquisa em Admi-nistração. v..1 n.3. São Paulo 2°SEM/1996. Disponível em: <http://www.ead.fea.usp.br/>. Acesso em 07/09/2010.
PAIM J.S, TEIXEIRA; C.F. Configuração institucional e gestão do Sistema Único de Saúde: problemas e desa-fios. Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Fede-ral da Bahia. Out/2007. Disponível em: <www.a-va3.uneb.br >. Acesso em: 22/08/2011.
Descentralização: um estudo sobre sua interferência nos serviços de Saúde no Brasil
69Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

PRESTES M. L. M. A pesquisa e a construção do conhecimento científico: do planejamento aos tex-tos, da escola à academia. 3 ed. São Paulo: Rêspel, 2005.
SAMPAIO. J. Avaliação da capacidade de governo de uma secretaria estadual de saúde para o monitoramen-to e avaliação da Atenção Básica: lições relevantes. Rev. Ciências e Saúde Coletiva. v. 16 n. 1. Rio de Jane-iro, Jan/2011. p.279-290.
SANTOS. M. P. G. O Estado e os Problemas Contem-porâneos. Florianópolis: CAPES: UAB, 2009. p.90-99.
SETA M. H. Gestão da Vigilância à Saúde. Florianópo-lis: CAPES: UAB, 2010 (p. 65-73).
SILVA; L. M. V. Análise da implantação da gestão des-centralizada em saúde: estudo comparado de cinco casos na Bahia, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de janeiro, 2007, (p.355-370).
SPEDO S. M, TANAKA; O. Y, PINTO N. R. S. O desafio da descentralização do Sistema Único de Saúde em município de grande porte: o caso de São Paulo, Brasil. Rev. Card. de Saúde Coletiva. v. 25 n.8, Rio de Janeiro, 2009. p.1781-1790.
TEIXEIRA C. F. Promoção e Vigilância da saúde no con-texto da regionalização da assistência a saúde no SUS. Cad. Saúde Pública, p.153-162. Rio de Janeiro, 2002VARQUEZ D. A. Efeitos da regulação federal sobre o financiamento da saúde. Rev. Cadernos de Saúde Pública. V. 27 n.6. Rio de Janeiro, jun. 2011. p.1201-1212.
VIACAVA F. Dez anos de informação sobre acesso e uso de serviços de saúde. Rev. Cadernos de Saúde Pública. V. 26 n.12. Rio de Janeiro, dez/2010. p.2210-2211.
VIANA A. L. d'A.; MACHADO C. V. Descentralização e coordenação federativa: a experiência brasileira na saú-de. Rev. Ciência e Saúde Coletiva. v. 14 n.3. Rio de Janeiro maio/jun.2009.p.807-817.
Laudiceia Garcia Neves; Norma Irene Soza Pineda
70 Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 6, n. 11, p. 63-70, jan./jun., 2013.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA TEXTURA
LINHA EDITORIAL
A Revista Textura, periódico da Faculdade Maria Milza, tem por finalidade promover e disseminar a pro-dução do conhecimento, o debate e a socialização de experiências no âmbito das Ciências Humanas e Ciên-cias da Saúde.
Com periodicidade semestral, janeiro e julho, a Revista tem edição em formato impresso e publica tra-balhos originais e inéditos, a saber: artigos, resenhas, ensaios, resumos de teses e dissertações.
Além dos dois números ordinários, a Revista poderá publicar números especiais destinados a divul-gar produções relevantes de eventos científicos da Faculdade Maria Milza.
PROCEDIMENTOS PARA A PUBLICAÇÃO
1 Os trabalhos devem ser encaminhados em duas vias impressas (sendo uma sem a identificação do autor), acompanhadas de respectiva cópia em formato digi-talizado à Secretaria Acadêmica da Faculdade Maria Milza, ou enviados, via internet para [email protected].
2 Os trabalhos serão avaliados, no seu mérito científico, pelo Conselho Editorial. É deste Conselho a respon-sabilidade de apontar se o trabalho foi: aceito, aceito com restrições, não recomendado. A aceitação com restrições implicará em que o autor se responsabilize pelas alterações, as quais serão novamente subme-tidas ao parecerista. No trabalho aceito, caso exis-tam pequenas inadequações, ambigüidades ou falta de clareza, pontuais do texto, o Conselho Editorial se reserva o direito de corrigi-los para uniformidade do estilo da Revista.
3 Os trabalhos submetidos à análise do Conselho Edito-rial não terão identificação da autoria, para preservar isenção e neutralidade da avaliação. Do mesmo modo será preservado o anonimato do parecerista, quando do encaminhamento dos pareceres aos auto-res pela Editora Responsável.
4 A avaliação dos trabalhos tem como parâmetros:
- relevância, pertinência e originalidade do tema;
- contribuição para a área temática em questão;
- qualidade lingüística, com rigor técnico e correção na comunicação.
5 Cada autor só poderá publicar um trabalho em um mesmo número da Revista , e terá direito a um exem-plar em que seu trabalho for publicado.
6 É considerado responsável pelo trabalho publicado o autor que o assinou e não a Revista e seu Conselho Editorial. A este Conselho é reservado o direito de vetar a publicação de matérias que não estejam em conformidade com a linha editorial da Revista.
7 O aceite para publicação implica a cessão integral dos direitos autorais à Revista Textura.
NORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
1. Os trabalhos devem ser apresentados em formato Word (versão 6.0 ou posterior), fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5 cm entre linhas.
2. A página deve estar configurada em A4, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm, com alinhamento justificado.
3. Artigos devem conter mínimo de 10 e máximo de 20 páginas.
a) Na primeira página devem constar:
- título em caixa alta, centralizado e negrito;
- logo após o título, o(s) nome (s) do(s) autor(es) , ape-nas as letras iniciais maiúsculas, alinhado(s) à direi-ta, com nota de rodapé para identificação (colocar a nota em asterisco, com instituição a que pertence(m) e cargo que ocupa(m), endereço, telefone, e-mail para contato);
- em seguida, o resumo do trabalho, com o limite de 250 palavras, conforme a NBR 6028 (ABNT), acom-panhado de palavras-chave (recomenda-se de 3 a 5), ao qual segue o resumo em inglês, conforme as mesmas orientações dadas para o primeiro.
b) A estrutura do texto deve contemplar: introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. Considera-se necessário que esses itens estejam claramente espe-cificados/destacados ao longo do texto. Figuras e tabe-las devem estar inseridas no texto e não em seu final ou em separado.
c) As referências devem estar localizadas no final do texto e seguir a NBR 6023 (ABNT).
d) O sistema de citação adotado é o de autor-data, de acordo com a NBR 10520 (ABNT).
e) As notas de rodapé devem ser exclusivamente de caráter explicativo e usadas apenas quando forem estritamente necessárias.

cabeçalho nome do autor, título do trabalho, ano da defe-sa, número de folhas, instituição. Em nota de rodapé, dados do autor, orientador, banca, data da defesa públi-ca.
7. Prazos para envio de trabalhos:
01 de janeiro a 30 de março, para lançamento de julho;
01 de julho a 30 de setembro, para lançamento de janei-ro.
O Conselho Editorial
4. Os ensaios devem ter entre 6 e 8 páginas.
5. As resenhas não devem ultrapassar duas páginas, e as obras resenhadas devem ter sido publicadas ou ree-ditadas em até 02 anos, considerando-se a data de edi-ção da Revista.
6. Os resumos de teses e dissertações devem ter no mínimo 250 palavras e no máximo 500, e conter no


Composto e Impresso na Gráfica e Editora Nova Civilização Ltda.Capa em Papel Supremo 250 g/m² e Miolo em Papel Off-set 90 g/m².