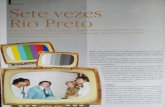Revista GEMInIS | ano 5 | n. 1 | v. 2 • jan./jun. 2014
-
Upload
revista-geminis -
Category
Documents
-
view
233 -
download
10
description
Transcript of Revista GEMInIS | ano 5 | n. 1 | v. 2 • jan./jun. 2014


ExpEdiEntE
Revista GEMInIS | ano 5 | n. 1 | v. 2 • jan./jun. 2014Universidade Federal de São Carlos
ISSN: 2179-1465www.revistageminis.ufscar.br
Poítica Editorial
Editor ResponsávelJoão Carlos Massarolo
Universidade Federal de São Carlos - UFSCarCo-editora Temática
Gabriela BorgesUniversidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Editor ExecutivoDario Mesquita
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
Conselho Editorial (Copo de Pareceristas):André Lemos
Universidade Federal da Bahia – UFBAAntônio Carlos Amâncio
Universidade Federal Fluminense – UFFArthur Autran
Universidade Federal de São Carlos - UFSCarCarlos A. Scolari
Universitat Pompeu Fabra – EspanhaBruno Campanella
Universidade Federal Fluminense – UFFDerek Johnson
University of North Texas – Estados UnidosErick Felinto
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJFrancisco Belda
Universidade Estadual Paulista - UNESPGilberto Alexandre Sobrinho
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMPHéctor Navarro Güere
Universidade de Vic – EspanhaHermes Renato Hildebrand
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMPJoão de Lima Gomes
Universidade Federal da Paraíba - UFPBMarcos “Tuca” Américo
Universidade Estadual Paulista - UNESPMaria Immacolata Vassalo Lopes
Universidade de São Paulo - USPMaria Dora Mourão
Universidade de São Paulo - USPPedro Nunes Filhos
Universidade Federal da Paraíba - UFPBPedro Varoni de Carvalho
Laboratório de Estudos do Discurso (Labor) - UFSCarRuth S. Contreras Espinosa
Universidade de Vic – EspanhaSheron Neves
Escola Superior de Publicidade e Marketing - ESPM
Capa OriginalGi Milanetto
DiagramaçãoRenan Alcantara

Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
dossiê - tElEvisão E ConvErgênCias
Do uso concomitante de dispositivos tecnológicos: a experiência de
segunda tela enquanto reconfiguração no modo de assistir TV
Carlos Eduardo Marquioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Fãs e sites de redes sociais: um estudo de caso da
participação no programa The Voice
Brenda Parmeggiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Blog de personagem: O caso da minissérie
Afinal, o que querem as mulheres?
Issaaf Karhawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
O uso das redes sociais online nas interações de
produtores e receptores de televisão
Paula Cecília de Miranda Marques, Ana Sílvia Lopes Davi Médola . . . .77
Produção de conteúdo para televisão digital no Brasil
João Baptista de Mattos Winck Filho, Leire Mara Bevilaqua . . . . . . . . 94
abordagEns MultiplataforMas
O olhar e a contra-perspectiva
Alexandre Davi Borges, Suely Fragoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
su M á rio

Geração Digital: uma reflexão sobre as relações da “juventude
digital” e os campos da comunicação e da cultura
Juliano Ferreira De Sousa, Maria Cristina Gobbi . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Vídeo e Texto na Web: da convergência de linguagens
às novas relações na narrativa noticiosa
Duílio Fabbri Júnior, Fabiano Ormaneze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
A Inversão de Papéis na Publicidade Digital: o
interlocutor como principal emissor de conteúdos
Ariela Fernandes Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Política Pública Cultural: EMBRAFILME como
desenvolvimento da cinematografia brasileira
Cristóvão Domingos De Almeida, Cleber Morelli-Mendes . . . . . . . . .170
Recursos composicionais aplicados à trilha musical de videogames
como elementos narrativos e de gameplay: O exemplo de
Yasunori Mitsuda e sua composição para Chrono Cross
Luiz Fernando Valente Roveran, Yara Borges Caznok . . . . . . . . . . . . .185
Espaço ConvErgEntE - EntrEvista
Conversas sobre transmedia storytelling: alternativas produtivas
Entrevista com Rafael Nunes
Fernanda Castilho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

aprEsEntação
A equipe editorial da Revista GEMInIS tem a satisfação de apresentar à
comunidade acadêmica e ao público em geral a sua oitava edição, especial-
mente composta por dois volumes com pesquisas voltadas aos estudos da
televisão. O volume I, elaborado em parceria com a Revista Lumina (Facom-UFJF)1 –
editada por Grabiela Borges, e o seminário temático Televisão: Formas Audiovisuais de
Ficção e Documentário – coordenado por Renato Luiz Pucci Jr., Miriam de Souza Rossini
e Gilberto Alexandre Sobrinho, traz a primeira parte de uma série com a publicação dos
trabalhos apresentados e debatidos nas sessões do seminário durante o XVII Encontro
Internacional da SOCINE (Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual),
realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina, em outubro de 2013.
Os artigos reunidos neste dossiê abordam por diferentes perspectivas a
produção audiovisual para a televisão: o pesquisador Renato Pucci (UAM) analisa, a
partir de um referencial teórico cognitivista, como a telenovela Avenida Brasil (Rede
Globo, 2012) combina diferentes elementos estilísticos na composição de cenas de
conflito dramático; Miriam de Souza Rossini (UFRGS) discute as marcas televisivas na
atual produção cinematográfica brasileira, a partir da série Se eu fosse você 1 (2006) e
2 (2008) de Daniel Filho ; Simone Maria Rocha (UFMG) discute a composição visual e
as inovações estilísticas presentes na telenovela Gabriela (Rede Globo, 2012), a fim de
evidenciar seus aspectos históricos, culturais, tecnológicos e estéticos; Gabriela Borges
(UFJF) aborda a questão da qualidade dos programas infantis a partir da análise do
episódio João e Maria do programa Teatro Rá Tim Bum! (TV Rá-Tim-Bum, 2005-2006);
Maria Ignês Carlos Magno propõe um estudo do personagem Tufão, da telenovela Avenida
Brasil (Rede Globo, 2012), e sua relação com literatura introduzida na trama, buscando
compreender se a inserção da literatura é apenas parte da trama ou uma estratégia para
a construção da personagem; Flavio Pereira (Unioeste) analisa a minissérie 23-F: El Día
Más Difícil del Rey (RTVE, 2009), que aborda a tentativa de golpe militar que marcou o
fim da transição do franquismo para a democracia na Espanha em 23 de fevereiro de
1 Disponível em: http://www.ufjf.br/facom/multimidia/lumina/

1981; e Carla Simone Doyle Torres (UFRGS) apresenta um mapeamento sobre programas
de diferentes emissoras da televisão brasileira, a fim de investigar as transformações
das características relacionadas à metalinguagem ao longo deste período, partindo do
conceito de Neotevê, proposto nos anos 80 por Eco (1986) e Casetti e Odin (2012).
Já o volume II desta edição, traz o dossiê Televisão e Convergências, que compreende
reflexões a respeito da produção televisiva e sua relação com o ambiente contemporâ-
neo de convergência das mídias: Carlos Eduardo Marquioni (UTP), aborda a Segunda Tela
como um novo modo de ver TV, e apresenta o ambiente de software utilizado durante
2013 pelo Jornal da Cultura como uma alternativa das emissoras para controlar essa nova
experiência televisual; Brenda Parmeggiani (UnB) analisa os fãs e as estratégias de parti-
cipação do público através das redes sociais utilizadas pelos produtores do programa
The Voice; Issaf Karhawi (USP) investiga o uso de blogs de personagens na construção
de narrativas televisivas transmídia, tomando como foco de estudo o blog de André
Newmann, personagem principal da minissérie Afinal, o que querem as mulheres? (Globo,
2010); Paula Cecília de Miranda (UNESP) e Ana Silvia Lopes Davi Médola (UNESP) abordam
a possibilidade de participação do receptor na produção do conteúdo televisivo inter-
mediada por redes sociais online, demonstrando como a televisão pode aproveitar as
particularidades da interação entre as mídias sociais e a televisão podem promover a
criação de conteúdo colaborativo; João Baptista Winck Filho (UNESP) e Leire Mara Bevilaqua
(UNESP) discutem as principais características da televisão digital e como elas desenca-
deiam novas demandas na produção de conteúdo para múltiplas plataformas digitais, a
fim de estimular a participação do telespectador.
Além dos temas centrais que fazem parte dos dois volumes deste número,
gostaríamos de destacar os artigos que foram reunidos especialmente para o segundo
volume, nas seções da revista: “Abordagens Multiplataformas” e “Espaço Convergente”.
Esta edição está nas nuvens graças ao trabalho generoso e árduo realizado pela
Equipe de Editores e pelos parceiros da Revista Lumina (Facom-UFJF) e do seminário
temático Televisão: Formas Audiovisuais de Ficção e Documentário. O agradecimento é
extensivo a todos os autores que participaram deste número e também aos pareceristas
e colaboradores pela leitura atenta e minuciosa, ajudando-nos na seleção dos artigos a
serem publicados.
A equipe editorial deseja a todos uma boa leitura!
João Massarolo – Editor Responsável

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 06-22
Do uso concoMitante De Dispositivos tecnolóGicos: a expeRiência De seGunDa tela enquanto ReconfiGuRação no MoDo De assistiR tv
caRlos eDuaRDo MaRquioni
Docente do programa de Mestrado e Doutorado em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. Doutor em Comunicação e Linguagens pela UTP/PR, é membro do grupo de pesquisa Interações comunicacionais, imagens e culturas digitais (INCOM) na UTP e participante do GP Televisão e Vídeo do Intercom.E-mail: [email protected]

ResuMo
Os modos de assistir TV estão em constante adaptação – tanto em função da apropriação cultural associada ao uso de novas tecnologias quanto da ampliação ao acesso de dispositivos tecnológicos. E mudanças na forma como o público assiste TV promovem variações na produção de conteúdos para acomodar essas adaptações culturais, relacionando outros dois atores sociais do complexo sistema de televisão (emissoras e anunciantes). O artigo aborda a Segunda Tela como um novo modo de ver TV, e apresenta o ambiente de software utilizado durante 2013 pelo Jornal da Cultura como uma alternativa das emissoras para controlar essa nova experiência televisual.
Palavras-chave: Cultura; Segunda Tela; Telejornal; Televisão; Reconfiguração cultural.
abstRact
The ways of watching TV are constantly in adaptation – both due to the cultural appropriation related to the usage of new technologies and to the increase of access to such gadgets. And changes motivated by the way the audience watches TV causes adaptations on contents production to accommodate cultural adaptations in other two social actors of the television system (broadcasters and advertisers). This paper considers the Second Screen as a new way of watching TV and presents the software used during 2013 by the TV newscast Jornal da Cultura as an alternative to broadcasters control the new televisual experience.
Keywords: Culture; Second Screen; TV newscast; Television; Cultural reconfiguration.

8R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
A complexidade observável no modo em desenvolvimento como as audiências têm assistido TV (que vem sendo referenciado como Segunda Tela) justifica uma análise em perspectiva cultural, que considere e analise essas variações
na longa duração. A opção é associada ao fato que as tecnologias (como é o caso da televisão e dos dispositivos móveis que são utilizados concomitantemente ao ato de ver TV em experiência de Segunda Tela) podem ser abordadas como artefatos culturais, cujos significados “se constituem na vida, são feitos e refeitos” (WILLIAMS, 1989, p. 8). Desta forma, os usos das tecnologias (artefatos culturais) promovem redefinições culturais que vão culminar com o estabelecimento do que pode ser considerada a cultura de um período: no caso do tema abordado neste artigo, uma cultura em formação que constitui uma nova forma de a audiência ver televisão que é reconfigurada na longa duração.
É possível considerar, então, que a nova forma observável não emerge simplesmente na contemporaneidade. De fato, ela estaria em formação culturalmen-te, nas adaptações que podem ser observadas nos modos como o público assiste TV desde os primórdios. E tais adaptações nos modos de ver TV (por parte do público) motivam os produtores de conteúdo (tipicamente as emissoras) a redefinirem os modos de produzir programas televisuais, no sentido de equacionar os interesses dos patroci-nadores da produção dos conteúdos televisivos (os anunciantes). O cenário é parte da complexa relação de influências entre esses três atores sociais do sistema televisual.
Para ilustrar essas influências e o uso das tecnologias pode ser abordado o controle remoto: um dispositivo tecnológico que facilitaria a troca entre canais pelo telespectador levou, no passado, à definição de um novo modo de assistir TV. Este modo de assistir TV foi inclusive nomeado (zapping) e, na duração, motivou mudanças na produção de programas da grade por parte das emissoras considerando os anunciantes: o objetivo das mudanças foi evidentemente minimizar os riscos de perda da audiência para a concorrência em função do zapping praticado pelo público (via avaliação do momento para realizar os intervalos comerciais – o momento par excellence do zapping – considerando a programação das demais emissoras). Há que se destacar, contudo, –

9D
o us
o co
nc
om
ita
nt
e De D
isp
os
itiv
os t
ec
no
ló
gic
os: a e
xp
er
iên
cia D
e se
gu
nD
a te
la e
nq
ua
nt
o re
co
nf
igu
ra
çã
o no m
oD
o De a
ss
ist
ir tv • c
ar
lo
s eD
ua
rD
o ma
rq
uio
ni (u
tp
)
para minimizar o risco de a relação entre o controle remoto e as redefinições associadas
sugerir determinismo tecnológico1 – que neste trabalho considera-se que a disponibili-
zação do dispositivo (o controle remoto) pode ser relacionada a “aspectos econômicos,
mais especificamente um eventual interesse da indústria na troca do parque de hardware
televisual (a substituição dos aparelhos)” (MARQUIONI, 2012, p. 56). Essa mudança
tecnológica motivada por razões econômicas teria, após uma apropriação cultural
pela audiência, influenciado redefinições no processo de produção de conteúdos pelas
emissoras.
Expandindo o exemplo do controle remoto – no sentido de demonstrar que
as adaptações culturais podem não ser vinculadas à disponibilização de um novo
dispositivo, mas à ampliação no acesso a um aparato tecnológico já conhecido/utilizado
–, outro exemplo que merece ser apresentado envolve a localização física do televisor
nos domicílios e a influência desta localização nas formas de assistir TV. Nos primórdios
da televisão no Brasil – e durante algumas décadas seguintes – as famílias se reuniam
na sala de visitas (BARBOSA, 2010, p. 21) para, em silêncio, acompanharem ao conteúdo
veiculado. Além da reunião familiar propriamente dita, há que se considerar o fato
que acompanhar à veiculação em silêncio sugere orientação da atenção dos indivíduos
reunidos essencialmente direcionada ao conteúdo transmitido2. Contudo, especial-
mente a partir da década de 1990, é possível observar que ocorreu um espalhamento da
audiência pelos cômodos dos domicílios, relacionado ao aumento da disponibilidade
de aparelhos televisores. Note não se tratar do fornecimento de um novo aparato, mas
de um maior acesso à tecnologia já existente. Uma espécie de audiência segmentada no
interior dos domicílios foi gerada a partir desse espalhamento, potencializando para as
emissoras a produção de conteúdos segmentados (como programas destinados ao público
adolescente). Novamente – para minimizar o risco de o contexto apresentado sugerir
determinismo tecnológico –, há que se considerar que o aumento da disponibilidade
de aparelhos pode ser justificado por fatores de ordem histórica, social e econômica3:
aspectos que vão além da tecnologia propriamente dita proporcionaram uma mudança
cultural, observada via o estabelecimento de novas localidades e novas formas de
1 O determinismo tecnológico envolve “abstrair as mudanças técnicas e tecnológicas e explicar de modo geral as mudanças sociais, econômicas e culturais como determinadas por estas mudanças” (WILLIAMS, 1983, p. 84).2 Anteriormente houve também o silêncio para acompanhar o conteúdo transmitido no rádio, enquanto o público estava “aprendendo o idioma da escuta. E escutar significava entrar em consonância total com a emissão sonora, que não permitia nenhuma outra partilha” (BARBOSA, 2013, p. 228). Posteriormente, no caso da TV, a “emissão era seguida em silêncio [...] [, e às] crianças debruçadas nas janelas pedia-se invariavelmente por silêncio” (p. 282).3 Como motivadores de ordem histórica, social e econômica para o aumento de disponibilidade de equipamentos que provocou o espalhamento da audiência pelos cômodos das residências podem ser apresentados o (i) barateamento do dispositivo e consequente aumento na facilidade de aquisição pelos espectadores (CASTELLS, 2005, p. 456), a (ii) busca por liberdades individuais (no caso, a liberdade para assistir à própria TV, na qual seria possível escolher o conteúdo) e (iii) aspectos do caráter de consumo do período histórico (MARQUIONI, 2013a, p. 12).

10R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
assistir TV (não mais envolvendo necessariamente a reunião familiar silenciosa no
mesmo cômodo). Na perspectiva das emissoras e anunciantes, a individualização do
ato de ver televisão atribuiu sentido cultural à produção de conteúdos destinados a
públicos segmentados dentro das residências.
Esse espalhamento da década de 1990 teve uma nova ocorrência nos primeiros
anos da década de 2010: a miniaturização dos televisores e a possibilidade de assistir
televisão em movimento utilizando dispositivos móveis (especialmente aparelhos
telefônicos celulares e tablets, em função da digitalização da transmissão) proporcionam
à audiência uma atualização nas formas de assistir TV. Dessa vez ocorre inclusive uma
espécie de ampliação do ato de ver TV para além dos limites domésticos, associada ao
uso das redes sociais pelo público para comentar os programas (MARQUIONI, 2013a,
p. 13-17). Ampliação essa que gera também uma nova adaptação em relação à noção
de silêncio para acompanhar ao conteúdo veiculado na TV: o conteúdo que há algum
tempo já era objeto de debates pode, com as plataformas de sociabilidades digitais, ser
realizado em escala durante a veiculação. Eventualmente inclusive com telespectadores
que estão fisicamente não apenas em cômodos distintos, mas em localidades diferentes.
De fato, a “televisão [ainda] está mudando diante de nossos olhos. Trata-se de um
trabalho em progresso; [a TV é] um meio vivo influenciado por vantagens tecnológicas
e [pela] evolução na cultura humana” (PROULX; SHEPATIN, 2012).
Nesse contexto de mudanças, outra adaptação relacionada especialmente à
década de 2010 nos modos de ver TV foi nomeada como Segunda Tela, e corresponde
à adição de “uma camada paralela e sincronizada de conteúdo interativo [que atua]
associada à experiência de TV” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 84). O espectador pode
“assistir à programação principal a partir de uma televisão [tipicamente] de tela grande,
complementada por conteúdo extra disponibilizado para ele em seu iPad [tablet, ou
outro dispositivo móvel conectado à Internet]” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 83): o
dispositivo móvel, associado ao sistema televisual, é utilizado “como uma extensão de
seu aparelho televisor” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 84). Assim, enquanto o espectador
assiste ao conteúdo veiculado na televisão (Primeira Tela), ele utiliza outro dispositivo
(Segunda Tela) para acessar conteúdos adicionais que lhe interessam, tipicamente
relacionados àquele transmitido. A rigor, é possível afirmar que “a Web e a televisão
estão se complementando e não competindo entre si. […] A Internet não matou a TV;
de fato ela se tornou sua melhor amiga” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 03). Inclusive
porque, como destacou Dominique Wolton, considerar o desaparecimento da TV em
função dos novos meios constitui abstrair as relevâncias social e cultural do meio (2003,
p. 129): sugere mesmo uma forma de praticar determinismo tecnológico.

11D
o us
o co
nc
om
ita
nt
e De D
isp
os
itiv
os t
ec
no
ló
gic
os: a e
xp
er
iên
cia D
e se
gu
nD
a te
la e
nq
ua
nt
o re
co
nf
igu
ra
çã
o no m
oD
o De a
ss
ist
ir tv • c
ar
lo
s eD
ua
rD
o ma
rq
uio
ni (u
tp
)
O uso de Segunda Tela pode alcançar desde gêneros relacionados ao entreteni-mento até informativos4. E vale mencionar que não há evidências de dificuldades por parte do público na decifração do sentido em relação aos gêneros televisuais motivadas pelo uso concomitante de um dispositivo conectado à Rede enquanto assiste TV. De fato, há que se considerar que eventualmente o público sequer tenha avaliado com clareza as mudanças enquanto elas aconteciam diante dos olhos. No limite, o uso concomitante dos aparatos tecnológicos pode até ter sido interpretado por alguns telespectadores como uma ação natural. Para compreender as afirmações e minimizar os riscos de sim-plificação analítica, valem algumas considerações: especialmente porque é possível considerar (conforme abordado acima) que o uso dos recursos de Segunda Tela pode ser compreendido como uma etapa da reconfiguração cultural que vem ocorrendo na longa duração.
Ocorre que, se por um lado os gêneros televisuais – assim como os gêneros do discurso – definem “tipos relativamente estáveis de enunciados” [grifo no original] (BAKHTIN, 1997, p. 279) e proporcionam à audiência elementos de reconhecimen-to em relação ao conteúdo sendo veiculado, por outro é possível considerar que as adaptações televisivas se dão na duração (pois são culturais). Existe então o que pode ser classificado como uma preparação do público para as eventuais adaptações em processo. Essa preparação pode ser compreendida via a noção de convenção abrangendo “tanto o consentimento tácito quanto os padrões aceitos” (WILLIAMS, 1971, p. 13): as convenções caracterizam acordos estabelecidos – não necessariamente ensinados formalmente – entre os participantes de um ato comunicacional. O fato de a convenção não ser percebida claramente (ser, em certa medida, transparente) possibilita estabelecer relação direta com a cultura de um período, que descreve “a continuidade da experiência de um trabalho particular, desde sua forma particular até seu reconhecimento como uma forma geral, e então a relação desta forma geral a um período” (WILLIAMS, 1971, p. 17). No que se refere ao tema central deste artigo, “a forma como experimentamos televisão continua
4 A Rede Globo vem realizando experiências com Segunda Tela: em 31 de janeiro de 2012, a emissora informou à audiência que assistia à 12ª temporada do reality show Big Brother Brasil que estava disponível um aplicativo para acompanhar o programa via dispositivos móveis (MARQUIONI, 2012, p. 108). Em entrevista concedida pela Diretoria Geral de Engenharia da Rede Globo durante o projeto de doutorado do autor deste artigo, a emissora destacou que teria interesse em atuar associando conteúdo veiculado na TV a dispositivos pessoais (MARQUIONI, 2012, p. 109). Parte desse interesse se materializa no momento quando este artigo é concluído: em relação a entretenimento, estreou na Rede Globo um novo programa (em formato competição musical) que faz uso de um aplicativo de Segunda Tela para votação da audiência e definição da permanência dos competidores. O que é especialmente curioso no caso desse programa é que a votação pela audiência e definição dos rumos do programa inicia e conclui durante a apresentação de uma única canção pela banda competidora (definitivamente durante a veiculação) – consulte <gshow.globo.com/programas/superstar/index.html>; acesso em 08 abr. 2014. Em relação a conteúdos jornalísticos, o programa Fantástico (revista eletrônica semanal da emissora) tem promovido adaptações em seu website para que o público possa se manifestar durante a veiculação do conteúdo, independente da realização de convites para interatividade realizados pelos apresentadores.

12R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
a evoluir” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 04) pois essa forma está, culturalmente, em “inacabamento” (MARQUIONI, 2012, p. 50-64).
Assim, enquanto as opções para o público interagir eram quase que inexistentes nos primórdios da televisão5, na duração houve mudanças que possibilitaram um es-treitamento da relação entre público e emissora via participação da audiência nos programas em broadcasting. Considerando apenas o caso de programas jornalísticos6 no Brasil, já é possível constatar que o público passou por uma série de convites diretos à interatividade7 ao longo de décadas que iam além de ações mais simples relacionadas ao uso operacional do televisor propriamente dito. Pode-se entender que esses convites diretos têm, efetivamente, preparado o público para compartilhamento de atenção entre a TV e outro dispositivo tecnológico utilizado para interagir8.
Para evidenciar que a análise na longa duração minimiza o risco de simplifi-cações, vale retomar (e ampliar) o exemplo apresentado anteriormente do zapping: assistir TV em experiência de Segunda Tela pode ser analisado como caracterizando uma forma de complexificação da troca entre canais via o controle remoto. Ocorre que o espectador pode continuar sintonizado no mesmo canal de TV (sem praticar o que seria um zapping convencional) enquanto acessa um conteúdo na Web (tanto no site da própria emissora cujo conteúdo acompanha em broadcasting, quanto eventualmente de uma emissora concorrente ou mesmo em um site que não seja vinculado a nenhuma emissora de TV em particular). Daí a possibilidade de considerar a ação como uma complexificação do zapping: ainda que a troca de canal ocorra em outro dispositivo (não na TV), a tela diferente utilizada requer alguma atenção e eventualmente não tem relação
5 Apesar de se falar em quase inexistência de opções para interação nos primórdios da televisão, é importante destacar que as ações de liga/desliga, a troca entre canais e as regulagens de brilho/contraste podem ser consideradas formas de interagir (PRIMO, 2008, p. 09). Vale observar, contudo, se tratar de formas de interagir bastante simples e que não estabelecem troca de informação significativa entre público e emissoras – no limite, poderia ser dito que a troca de informação estabelecida com os atos de ligar/desligar o aparelho ou trocar o canal ocorreria via influência nos índices de audiência quando a emissora fosse informada (via um órgão que controlasse os indicadores da quantidade de televisores sintonizados) que um determinado número de aparelhos deixou de acompanhar a emissão. Mas, neste artigo, são consideradas as interatividades mediadas, particularmente aquelas que fazem uso de um dispositivo tecnológico para materializar o contato entre audiência e emissoras de TV, possibilitando troca de informação entre o público e a empresa de radiodifusão diretamente.6 Em relação à participação da audiência em programas jornalísticos – e para constatar que a preparação para interatividade ocorre há décadas – podem ser citados os casos do Globo Rural, que a partir de fevereiro de 1980 passou a solicitar aos espectadores o envio de cartas com dúvidas e do Fantástico, que durante quase toda a década de 1980 apresentava aos domingos um concurso solicitando que o público votasse para eleger uma jovem que seria considerada a Garota do Fantástico (MARQUIONI, 2012, p. 77).7 Em uma definição geral, considera-se que ocorre um convite direto à interatividade quando apresentadores de programas televisivos informam oralmente ao espectador (durante a veiculação do conteúdo) que é possível utilizar um canal de comunicação para estabelecimento de contato direto com a emissora. Para informações quantitativas relacionadas a esses convites diretos, consultar (MARQUIONI, 2012), (MARQUIONI, 2013b) e (MARQUIONI, 2014).8 Podem ser considerados também como preparadores para interação programas de entretenimento que solicitam a opinião da audiência em relação a sua continuidade (ou desfecho). No caso do Brasil – para mencionar apenas alguns poucos exemplos – podem ser citados o programa de dramaturgia Você decide e a franquia do reality show Big Brother.

13D
o us
o co
nc
om
ita
nt
e De D
isp
os
itiv
os t
ec
no
ló
gic
os: a e
xp
er
iên
cia D
e se
gu
nD
a te
la e
nq
ua
nt
o re
co
nf
igu
ra
çã
o no m
oD
o De a
ss
ist
ir tv • c
ar
lo
s eD
ua
rD
o ma
rq
uio
ni (u
tp
)
com a emissora a que o telespectador assiste. Na perspectiva dos patrocinadores da geração de conteúdos, há que se considerar a possibilidade de a interação não ocorrer no ambiente no qual o anunciante pagou por espaço publicitário – o que evidentemente caracteriza um problema para os patrocinadores.
Ainda culturalmente, é possível compreender os recursos de Segunda Tela como uma espécie de etapa seguinte aos convites diretos à interatividade mencionados em nota de rodapé anterior: enquanto (i) os primeiros formatos para a audiência trocar informações com as emissoras requeriam uso dos serviços dos Correios ou de (ii) recursos de telefonia (fixa ou celular), em (iii) uma etapa seguinte os convites diretos para as interações passaram a referenciar um website na Internet para executar ações ou acessar conteúdos relacionados/complementares àqueles transmitidos via TV. Algum tempo depois, no momento em que este texto é escrito, (iv) esses convites não necessitam mais ser realizados de forma direta: quando a audiência inicia a utilizar recursos de Segunda Tela (e o acesso aos conteúdos ocorre concomitantemente ao ato de assistir TV em um dispositivo separado), um novo estágio das interações com a televisão é carac-terizado. Analogamente à mudança cultural relacionada ao modo de ver TV em função do aumento na facilidade de aquisição do aparelho televisor abordada anteriormente, o crescimento no acesso a dispositivos móveis e à Internet pode ser associado a uma nova reconfiguração cultural. Para minimizar mais uma vez o risco de incorrer em determinismo tecnológico, há que se considerar que o acesso aos dispositivos móveis e à Internet possuem relação evidente no Brasil com o crescimento econômico iniciado nos anos do governo do presidente Lula e com a emergência da chamada nova classe C (MARQUIONI, 2012, p. 239).
Mas o que parece especialmente interessante observar é o fato de ser possível considerar que as emissoras realizaram uma forma de preparação cultural (mesmo que de forma não intencional ou não planejada) para o uso da Segunda Tela pela audiência via os estágios/formatos de interatividade anteriores. A ampliação do acesso aos dispositivos móveis (mais especificamente os usos relacionados a esses dispositivos enquanto assistindo televisão) apenas viabilizaram uma nova reconfiguração, mas que – a rigor e culturalmente – vinha sendo desenvolvida há décadas.
E vale destacar que o novo cenário relativo à Segunda Tela remete ao mesmo risco do passado observável com o uso do controle remoto: existe um impacto potencial nas receitas para produção de conteúdos pois, no mínimo, há que se considerar que o nível de atenção compartilhado pela audiência entre as telas a partir dessa espécie de complexificação do zapping pode preocupar os anunciantes na Primeira e na Segunda Tela. Em uma situação ideal (na qual seriam minimizados os riscos junto aos patrocina-

14R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
dores dos programas), a emissora deveria ser capaz de exercer algum controle sobre as
alternativas de navegação em Segunda Tela: uma forma seria aumentar a probabilidade
de retenção do público em seus domínios (por exemplo, em um ambiente de Segunda Tela
fornecido pela própria emissora). Assim, enquanto a análise em perspectiva cultural
possibilita compreender o fenômeno, há que se observar a necessidade também de as
emissoras se prepararem para a operacionalização das mudanças relacionadas ao modo
de assistir.
Uma possibilidade remete ao uso de um recurso equivalente aos Jardins
cercados9 como ambiente de Segunda Tela. Os Jardins cercados surgiram no contexto da
TV digital interativa, na qual as ações de interatividade ocorrem diretamente via o
monitor da televisão – logo, não há uma Segunda Tela; ao invés disso, o acesso ao
conteúdo adicional se dá na própria Primeira Tela (na TV). O “termo Jardim cercado
é utilizado porque um limite definido [por um programa de software] restringe o
acesso do espectador a conteúdos não regulados [pelas emissoras], diferente do que
ocorre [em uma navegação típica] na Internet” (GAWLINSKI, 2003, p. 12)10. De fato, se
a própria emissora disponibilizar ao espectador um ambiente em que ele possa navegar
em experiência de Segunda Tela para buscar conteúdo adicional àquele exibido na TV,
ao menos é equacionado o risco de o acesso independente por parte da audiência à Web
dispersar o público. Inclusive os anúncios poderiam ser sincronizados, com exibição
simultânea em banners – ou equivalentes – no ambiente do Jardim ao conteúdo da TV.
No caso de Segunda Tela, uma alternativa para desenvolvimento de Jardins
cercados envolve o estabelecimento de “aplicativos rede-proprietários [, que] atuam
em relação a um conjunto de programas para uma determinada rede de televisão,
assim provendo conteúdo” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 89). Esses aplicativos rede-
-proprietários11 constituem então programas de software fornecidos pelas emissoras,
que caracterizam um ambiente e que podem ser baixados no dispositivo móvel que o
espectador utiliza para materializar sua experiência de Segunda Tela: através desses
aplicativos fornecidos pela emissora, conteúdos extras (também fornecidos pela
emissora) são acessados pela audiência.
Uma experiência do uso de recursos de Segunda Tela em ambiente equivalente
a um Jardim cercado foi conduzida no Brasil pela TV Cultura de São Paulo. Tratava-se
de um tipo de aplicativo rede-proprietário compartilhado por programas jornalísticos
da emissora. O ambiente de software em questão foi disponibilizado para uso por sua
9 Tradução do autor para o termo “Walled Gardens” (GAWLINSKI, 2003, p. 12-14).10 Análises de uso do conceito podem ser consultadas em (MARQUIONI, 2012, p. 113-115).11 Tradução do autor para o termo “Network-specific apps”.

15D
o us
o co
nc
om
ita
nt
e De D
isp
os
itiv
os t
ec
no
ló
gic
os: a e
xp
er
iên
cia D
e se
gu
nD
a te
la e
nq
ua
nt
o re
co
nf
igu
ra
çã
o no m
oD
o De a
ss
ist
ir tv • c
ar
lo
s eD
ua
rD
o ma
rq
uio
ni (u
tp
)
audiência entre os dias 26 de março de 2013 e 26 de setembro de 201312. No aplicativo fornecido, quando o espectador se conectava ao software durante a veiculação do programa na TV, ele passava a receber em seu dispositivo móvel informações comple-mentares ao conteúdo transmitido. Valem as ressalvas que embora este artigo aborde a seguir o uso do recurso pelo telejornal Jornal da Cultura, (i) as reflexões e análises realizadas são válidas também para os demais programas da emissora que utilizavam o ambiente (e, entende-se, são válidas também para programas de outras emissoras que eventualmente venham a fazer uso de ambiente equivalente); (ii) não há evidências que possibilitem afirmar que o aplicativo rede-proprietário da TV Cultura constitui neces-sariamente uma alternativa planejada pela emissora para equacionar os interesses dos patrocinadores de produção dos conteúdos televisivos.
Para avançar na análise é relevante observar inicialmente que no telejornal da TV Cultura o espectador não era informado oralmente a cada novo conteúdo disponível da possibilidade de interagir (diferente do que ocorre no convite direto citado acima, no qual o apresentador do programa anuncia ao público explicitamente que há o recurso interacional a cada nova interação planejada pela emissora). De fato, raramente era mencionada de modo oral a disponibilidade do recurso de Segunda Tela e, apenas ocasionalmente, era indicado textualmente em um dos cantos do monitor de TV (em formato análogo àquele utilizado para apresentar a disponibilidade do recurso de closed caption) a existência do conteúdo adicional: ao invés dos convites diretos, ao acessar o ambiente fornecido pela emissora utilizando um dispositivo conectado à Internet, o espectador recebia continuamente informações relacionadas/complementares ao conteúdo veiculado em broadcasting. O público poderia, então, acessar ou não o link sugerido em seu dispositivo utilizado como Segunda Tela.
A Figura 1 ilustra o ambiente de Segunda Tela fornecido pela TV Cultura –corresponde à imagem do ambiente obtida ao final da edição do Jornal da Cultura do dia 30 de abril de 2013 (SEGUNDA TELA, 2013), que teve 51 convites à interatividade via Segunda Tela. Cada linha em cinza escuro na Figura 1 (destacadas com círculos pelo autor do artigo, com o número ‘1.’ associado) constitui um convite à interação (um link para navegação e obtenção de informações adicionais): trata-se de conteúdo adicional selecionado, sugerido e disponibilizado no ambiente de software fornecido pela emissora. Vale notar – ainda na Figura 1 – que o texto exibido em cinza claro (destacado com uma seta e associado ao número ‘2.’) constitui conteúdo adicional
12 O ambiente pode ser classificado como aplicativo rede-proprietário pois era compartilhado por outros programas com caráter jornalístico da emissora, e o compartilhamento é característico desses aplicativos – tipicamente entre séries televisivas (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 89). No caso da TV Cultura, o compartilhamento ocorria entre programas jornalísticos: além do Jornal da Cultura o mesmo ambiente de software era utilizado pelo programa de entrevistas Roda Vida e pelo programa de jornalismo esportivo em formato mesa redonda Cartão Verde.

16R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
detalhado (no caso, relacionado à Arábia Saudita, um dos tópicos adicionais sugeridos),
enquanto os textos à direita (destacados com um quadrado e associados ao número ‘3.’)
são mensagens publicadas por espectadores nas redes sociais, também exibidos pela
emissora no ambiente de Segunda Tela.
Figura 1 – Ambiente de Segunda Tela do Jornal da Cultura
Fonte – Imagem Jornal Cultura, 2013.
Em termos das quantidades de conteúdos adicionais oferecidos pela emissora
no ambiente, enquanto a edição do dia 30 de abril contou com 51 convites à interativi-
dade via Segunda Tela, o dia 26 de março de 2013 (primeira data na qual foi possível
acessar o ambiente disponibilizado pela emissora) registrou 36 opções, e a edição do
dia 26 de setembro de 2013 (última data na qual o acesso foi possível) contabilizou 18
links para navegação. A partir de 27 de setembro de 2013, o ambiente de Segunda Tela
deixou de fornecer conteúdos, e mesmo o aplicativo com download gratuito no ambiente
App Store, para uso de dispositivos do fabricante Apple como Segunda Tela, não estava
mais disponível13.
Especialmente porque o autor deste trabalho havia planejado (para o projeto
de pesquisa que vem desenvolvendo) uma análise sistemática do uso dos recursos de
Segunda Tela, de modo a compará-los aos convites diretos realizados nos telejornais
13 É mencionado o ambiente do fabricante Apple exclusivamente porque o autor do artigo utilizou um dispositivo desse fornecedor como hardware para acessar o ambiente de Segunda Tela fornecido pela TV Cultura.

17D
o us
o co
nc
om
ita
nt
e De D
isp
os
itiv
os t
ec
no
ló
gic
os: a e
xp
er
iên
cia D
e se
gu
nD
a te
la e
nq
ua
nt
o re
co
nf
igu
ra
çã
o no m
oD
o De a
ss
ist
ir tv • c
ar
lo
s eD
ua
rD
o ma
rq
uio
ni (u
tp
)
das duas emissoras de TV aberta líderes de audiência no Brasil14, e a descontinuidade do ambiente de Segunda Tela pela TV Cultura comprometia a análise, foi estabelecido contato com profissionais da emissora solicitando entrevista no sentido de compreender os motivos do fim do uso do aplicativo, bem como obter um entendimento geral do procedimento executado em retaguarda para mantê-lo operacional. Os parágrafos seguintes abordam as informações prestadas na entrevista realizada.
Em relação à estrutura geral do ambiente de Segunda Tela utilizado pelo Jornal da Cultura: ainda que o aplicativo – inovador no Brasil – possua elementos que remetam a recursos apresentados na bibliografia de televisão (particularmente aquela que aborda o tema da Segunda Tela15), a referência utilizada pela equipe responsável para definir os requisitos funcionais16 do ambiente de software fornecido foi a consulta e análise de “softwares estrangeiros que prestam o mesmo serviço para canais interna-cionais” (HAGER, 2013).
No que diz respeito à operação diária pela emissora: dificuldades enfrentadas em relação a essa operação foram apontadas pelo Gerente de Multimídia da TV Cultura como motivadoras da descontinuidade do aplicativo rede-proprietário. Mais especifica-mente, “[d]eficiências internas em alocar recursos humanos qualificados para operar o sistema com a qualidade necessária” (HAGER, 2013). O contexto operacional informado auxilia a equacionar o que foi classificado pelo entrevistado como deficiências internas na alocação de profissionais: haveria um único recurso (funcionalmente um redator de nível júnior), responsável por manter atualizados os links disponibilizados no ambiente de Segunda Tela do Jornal da Cultura durante a veiculação do programa (apresentados na Figura 1 e associados às marcações 1 e 2). Em função de a equipe de operação ser compacta, o mesmo redator júnior era o profissional responsável por atualizar os links de todos os programas que compartilhavam o aplicativo rede-proprietário. Para executar a tarefa, o profissional acompanhava “previamente as pautas do programa diário para
14 A pesquisa “tem como objetivo investigar analiticamente o nível de uniformização dos convites diretos à interação realizados pelas emissoras [Redes Globo e Record], abordando culturalmente o processo comunicacional materializado no uso concomitante da televisão e de um dispositivo tecnológico conectado à Internet – particularmente no caso da realização de convites diretos para que o público se desloque para esse outro meio, a Web, via de regra para executar alguma atividade complementar e relacionada ao conteúdo veiculado na televisão – considerando essencialmente dois aspectos: as quantidades de convites realizados por cada uma das emissoras em relação aos dois programas jornalísticos abordados e a aproximação qualitativa entre esses convites” (MARQUIONI, 2013b, p. 7).15 Como exemplo pode ser citado o livro “Social TV: How Marketers Can Reach and Engage Audiences by Connecting Television to the Web, Social Media, and Mobile”, cotado nas referências bibliográficas deste artigo.16 “Um requisito funcional é uma ação que o produto deve executar para ser útil aos usuários. Requisitos funcionais surgem a partir do trabalho que seus stakeholders necessitam fazer. Quase toda ação – calcular, inspecionar, publicar [...] – pode ser um requisito funcional. [...] Este requisito é algo que o produto obrigatoriamente deve fazer para ser útil no contexto do negócio do cliente” (ROBERTSON; ROBERTSON, 2007, p. 09). No caso do software de Segunda Tela em questão, os requisitos funcionais podem ser compreendidos como as características e funcionalidades que o ambiente deveria possuir.

18R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
poder se preparar e imputar [inserir] as informações no sistema [no ambiente de Segunda Tela] para compartilhar com os usuários [espectadores dos programas]” (HAGER, 2013). Vale observar, contudo, que apenas o Jornal da Cultura tem veiculação diária: os outros dois programas que utilizavam o ambiente são transmitidos uma vez por semana.
O cenário apresentado também fornece subsídios para realizar inferências em relação à variação na quantidade de links ofertados apresentada anteriormente: o decréscimo observado na última edição em que o ambiente estava disponível pode ser analisado considerando a disponibilidade do profissional responsável por obter os conteúdos e as complexidades envolvidas nessa coleta de materiais diários apropriados17 para o telejornal (a serem disponibilizados no ambiente de Segunda Tela). Ainda, os te-lespectadores do Jornal da Cultura puderam constatar que no período em que o recurso tecnológico deixou de ser atualizado houve uma série de alterações no telejornal, como mudanças de cenário e na apresentação do programa18.
Há que se considerar também o fato de o ambiente fornecido caracterizar um caso de Televisão expandida19. Trata-se de outro conceito relacionado à TV digital interativa, mas que pode ser aplicado em relação à Segunda Tela: corresponde a um formato de uso de interatividade que aprimora um programa de televisão tanto enquanto ele é veiculado quanto após sua veiculação. Esse formato interativo possui gestão complexa devido à necessidade de adição de “overlays [camadas de software que sobrepõem o conteúdo televisual], texto e gráficos aos programas, de modo que os espectadores interajam enquanto assistem TV” (GAWLINSKI, 2003, p. 17). No caso da Segunda Tela, as camadas correspondem ao conteúdo disponibilizado no ambiente de software fornecido. O conceito merece ser abordado porque a opção por utilizar o ambiente de Segunda Tela fornecido pela emissora possui relação evidente com o conteúdo selecionado e disponibilizado, e as respostas apresentadas pelo gerente de Multimídia fornecem índices que permitem visualizar a dificuldade na operação dessas camadas de software (ainda que não se trate de um overlay no sentido exato daquele abordado no caso da TV digital interativa, uma vez que a camada de software não é apresentada no próprio monitor de TV, mas em outro dispositivo). Mas é necessário considerar a complexidade em coincidir o ciclo de vida para produção do conteúdo diário do telejornal com a obtenção de conteúdos adicionais considerados de qualidade (ou conteúdos apropriados, conforme termo utilizado anteriormente) para serem dispo-nibilizados na camada de software de Segunda Tela. Afinal de contas, não basta o link:
17 A opção pelo uso do termo apropriado é abordada adiante.18 Esse tema não foi abordado na entrevista realizada, mas é possível supor que essas mudanças potencialmente impactaram o contexto de Segunda Tela, especialmente considerando o fato informado que a equipe é compacta.19 Tradução do autor para o termo “Enhanced television” (GAWLINSKI, 2003, p. 17-23).

19D
o us
o co
nc
om
ita
nt
e De D
isp
os
itiv
os t
ec
no
ló
gic
os: a e
xp
er
iên
cia D
e se
gu
nD
a te
la e
nq
ua
nt
o re
co
nf
igu
ra
çã
o no m
oD
o De a
ss
ist
ir tv • c
ar
lo
s eD
ua
rD
o ma
rq
uio
ni (u
tp
)
para justificar a manutenção do ambiente interativo, os conteúdos adicionais deveriam despertar interesse navegacional na audiência.
Nesse sentido, é significativa a aferição de uma média diária de “450 conexões simultâneas” (HAGER, 2013) de acessos no ambiente de Segunda Tela durante a veiculação do Jornal da Cultura: essa quantidade corresponde a “menos de 1%” (HAGER, 2013) da audiência do telejornal. Ainda que não houvesse acompanhamen-to do percentual efetivo de acessos aos links fornecidos (HAGER, 2013) pelo Jornal da Cultura (uma vez que o telespectador/internauta acessou o ambiente, ele efetivamente clicou no link fornecido para acessar o conteúdo adicional sugerido?), apenas a quantidade de acessos à camada de software sugere que haveria navegação reduzida (considerando a audiência do programa). Vale observar também que para analisar as quantidades de acesso, evidentemente a quantidade disponível de dispositivos para uso como Segunda Tela deveria ser considerada. Contudo, no momento em que este artigo é elaborado, não estão disponíveis dados oficiais que informem a quantidade de domicílios que efetivamente contam com dispositivos móveis para acesso à Rede20. A título de ilustração, em relação à ampliação do acesso a aparelhos celulares com acesso à Internet, fontes não oficiais davam conta que, em 2013, as
vendas de smartphones deram um salto de 99,6% no Brasil no primeiro semestre em comparação com os volumes registrados no mesmo período no ano passado [em 2012]. [...] Com este desempenho, os smartphones representaram 46,2% do total do mercado de celulares neste primeiro semestre (COMPUTERWORLD, 2013).
O fornecimento de dados oficiais futuramente, indicando inclusive as quantidades de domicílios que fazem uso de dispositivos celulares para acesso à Internet, tende a permitir uma análise que estabeleça relação entre a quantidade média de dispositivos no país e os acessos efetivamente realizados em ambientes de Segunda Tela.
Finalmente, em termos culturais, é interessante observar que mesmo com o ambiente descontinuado (e consequente final da manutenção diária de links navega-cionais relacionados às matérias veiculadas), ainda há interação da audiência com o programa em experiência de Segunda Tela (sem necessariamente a realização de convites diretos por parte do apresentador): frequentemente são mencionadas durante o telejornal conteúdos de mensagens recebidas via redes sociais. Na práxis, a experiência
20 O relatório PNAD disponibilizado em 2012 informa que “Para a pesquisa deste tema [acesso à Internet], considerou-se somente a utilização da Internet feita pela própria pessoa por meio de computador de mesa ou portátil (laptop, notebook, palmtop, pocket pc, handheld). Não foi abrangido, portanto, o acesso à Internet feito por outros meios (telefone móvel celular, televisão a cabo ou satélite, game console) ou quando a pessoa solicitou a outrem para fazer o acesso do seu interesse por não saber usar microcomputador ou a Internet” (PNAD, 2012, p. 29).

20R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
de Segunda Tela tem se materializado independentemente do ambiente controlado fornecido pela emissora. Quando o autor deste artigo questionou se foi possível aferir variações na quantidade de interações via redes sociais (Facebook, Twitter) a partir do final das atualizações dos links para o Jornal da Cultura, foi informado que esses acom-panhamentos não estavam sendo realizados (HAGER, 2013).
Em relação à existência de novos recursos relacionados à Segunda Tela previstos para o futuro, o gerente de Multimídia da TV Cultura informou que deve haver
[m]elhoria da interface para o usuário, disponibilização de Apps [aplicativos] para Tablet e Celular, melhoria da engenharia de programação para distribuir o conteúdo de forma mais eficaz e aumentar a capacidade do servidor em manter a comunicação com um maior numero [sic] de dispositivos (HAGER, 2013).
Com isso, o ambiente de Segunda Tela do Jornal da Cultura tem tendência de voltar a ser utilizado “tão logo o departamento seja reestruturado e tenha capacidade de responder a essa demanda com a qualidade necessária” (HAGER, 2013). Aparentemen-te, a descontinuidade do recurso caracteriza apenas um recuo: algumas dificuldades observadas motivaram um replanejamento visando aprimorar a eficiência operacional. Mas é fato que culturalmente a experiência de Segunda Tela faz (e gera) sentido em ambientes jornalísticos na TV. Ainda culturalmente, é necessário considerar que mesmo o pouco tempo em que o aplicativo esteve disponível caracteriza uma preparação da audiência relacionada à forma de assistir TV.
Retornando às influências mútuas mencionadas no início deste artigo, se, para a audiência, a não disponibilização de um ambiente específico fornecido pela emissora não inviabiliza a experiência de Segunda Tela, eventualmente os anunciantes podem ter interesse no uso de aplicativos rede-proprietários para minimizar o risco de os índices de audiência não serem compatíveis com a visualização de suas peças publicitárias. Considerando que os anunciantes patrocinam a geração de conteúdo, as emissoras deveriam estar particularmente atentas ao tema da Segunda Tela. Afinal de contas, está em curso uma adaptação cultural que redefine as formas de assistir TV e, em consequência, impacta potencialmente a produção de conteúdos: os três atores sociais do complexo sistema televisual são afetados com esse novo modo de assistir TV. A rigor, deveria ser avaliado o nível de controle esperado em relação às ações navega-cionais do público, de modo a se estabelecer um planejamento operacional que possibi-litasse equacionar as complexidades da prática para viabilizar o ambiente de software. E destaque-se que eventualmente essa avaliação necessite ser realizada com relativa urgência: considerando a aceleração da contemporaneidade, a constante atualização de dispositivos tecnológicos, e sabendo que as adaptações nos modos de ver TV são

21D
o us
o co
nc
om
ita
nt
e De D
isp
os
itiv
os t
ec
no
ló
gic
os: a e
xp
er
iên
cia D
e se
gu
nD
a te
la e
nq
ua
nt
o re
co
nf
igu
ra
çã
o no m
oD
o De a
ss
ist
ir tv • c
ar
lo
s eD
ua
rD
o ma
rq
uio
ni (u
tp
)
inevitáveis, é possível inferir que as reconfigurações culturais no ambiente televisual
tendem a ocorrer cada vez com maior frequência. Afinal de contas, se a análise conceitual
da complexificação do zapping for efetivamente constatada em termos práticos pelos
anunciantes, as emissoras podem ter suas receitas impactadas. Por extensão (em função
das influências mútuas), o público também tende a ser afetado.
Referências
BARBOSA, Marialva Carlos. Imaginação televisual e os primórdios
da TV no Brasil. In: RIBEIRO, Ana Paula Goulart; SACRAMENTO,
Igor; ROXO, Marco. História da televisão no Brasil: Do início aos
dias de hoje. São Paulo: Editora Contexto, 2010. p. 15-35.
BARBOSA, Marialva. História da Comunicação no
Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 2013.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, [1979] 1997.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação – economia,
sociedade e cultura (vol. 1). São Paulo: Editora Paz e Terra, 2005.
GAWLINSKI, Mark. Interactive television production. Oxford: Focal Press,
2003.
HAGER, Richard. Entrevista concedida a Carlos Eduardo
Marquioni (via e-mail). São Paulo/Curitiba, 17 dez. 2013.
IMAGEM JORNAL CULTURA. Disponível em: <http://cmais.com.br/
segundatela/jornaldacultura/30-04-2013>. Acesso em: 30 abr. 2013.
MARQUIONI, Carlos Eduardo. TV digital interativa brasileira: redefinições
culturais e inter-ações midiáticas em tempos de migração tecnológica. 2012. 282f.
Tese (Doutorado em Comunicação e Linguagens) – Programa de Pós-graduação
em Comunicação e Linguagens, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2012.
MARQUIONI, Carlos Eduardo. Quando a TV vai além da sala de estar:
por uma análise cultural dos usos de novos dispositivos tecnológicos.
GEMInIS: Grupo de estudos sobre mídias interativas em imagem e
som (UFSCar), São Carlos, ano 4, n. 1, p. 06 a 19, jan./jun. 2013a.

22R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
MARQUIONI, Carlos Eduardo. Convites à interatividade em programas jornalísticos: notas iniciais de pesquisa. In: Intercom Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, XXXVI Intercom, 2013, Manaus. Anais... Manaus: UFAM, 2013b.
MARQUIONI, Carlos Eduardo. Tecnologias digitais e interatividade na televisão brasileira: evidências de uma reconfiguração em processo nos modos de assistir e produzir programas jornalísticos. Novos Olhares, Programa de Pós Graduação em Meios e Processos Audiovisuais (PPGMPA) da ECA/USP, Vol. 3 n. 1, São Paulo. jan./jul.2014, no prelo.
PNAD. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de indicadores 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv65857.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2013.
PRIMO, Alex. Perspectivas interacionistas de comunicação: alguns antecedentes. In: PRIMO, Alex; OLIVEIRA, Ana Claudia de; NASCIMENTO, Geraldo Carlos do; RONSINI, Veneza Mayora. Comunicação e interações: Livro da Compós 2008. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008. p. 9-15.
PROULX, Mike; SHEPATIN, Stacey. Social TV: How Marketers Can Reach and Engage Audiences by Connecting Television to the Web, Social Media, and Mobile. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.
ROBERTSON, Suzanne; ROBERTSON James. Mastering the requirements process. Boston: Addison-Wesley, 2007.
SEGUNDA TELA. Cmais+ Disponível em: <http://tvcultura.cmais.com.br/jornaldacultura/segunda-tela>. Acesso em: 21 abr. 2013.
COMPUTERWORLD. Vendas de smartphones saltam 99,6% no primeiro semestre no Brasil. Disponível em: <http://computerworld.uol.com.br/negocios/2013/10/03/vendas-de-smartphones-saltam-99-6-no-primeiro-semestre-no-brasil/>. Acesso em: 16 nov. 2013.
WILLIAMS, Raymond. Drama from Ibsen to Brecht. London: Chatto & Windus, [1952, 1968] 1971.
WILLIAMS, Raymond. Towards 2000. London: The Hogarth Press, 1983.
WILLIAMS, Raymond. Culture is ordinary [1958]. In: Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism. p. 3-18. London: Verso, 1989.
WOLTON, Dominique. Internet, e depois? Porto Alegre: Editora Sulina, 2003.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 23-46
Fãs e sites de Redes sociais: uM estudo de caso da paRticipação no pRoGRaMa the voice
BRenda paRMeGGiani
Doutoranda em Comunicação pela UNB e membro do Centro de Investigação Media e Jornalismo, da Universidade Nova de Lisboa.E-mail: [email protected]

ResuMo
O surgimento de novas mídias põe em questão a atividade das audiências, em especial no que tange à interatividade. A afirmação dos criadores de que The Voice seria o modelo mais interativo do mundo levou à escolha para o estudo da participação pelos sites de redes sociais (SRS) Facebook e Twitter. Assim, são abordadas questões como: se os SRS promovem maior participação; se há interação; qual a frequência de atividade; entre outras. Contata-se que, apesar de ser encarado como obrigação, o formato ideal para promover a participação não foi alcançado. Ainda, o conteúdo enviado pelos telespectadores fica aquém das expectativas.
Palavras-chave: participação, sites de redes sociais, audiência, fãs, televisão.
aBstRact
The emergence of new media has raised questions on audiences’ activity, especially on interactivity. The affirmation that it is the most interactive show on TV has guided the choice for The Voice as a protagonist in this study. The analysis focuses on questions like: does social network sites improve participation; is there interaction; what is the frequency of activity; among others. Although media sees it as an obligation, the means to promote participation hasn’t been reached yet. On the other hand, the content produced by fans lacks in quality and doesn’t fulfill the expectations raised by some authors.
Keywords: participation, social network sites, audience, fans, television

25R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Introdução
O advento dos meios digitais e da comunicação mediada por computador levanta novas questões acerca dos meios de comunicação já tradicionais – suas funções, seus processos de produção, entre outros fatores – e da
atividade das audiências – comportamento, consumo, mas principalmente no que toca à participação e interatividade. O desenvolvimento tecnológico torna novas ferramentas acessíveis às audiências, com destaque para os sites de redes sociais (SRS), como o Facebook e o Twitter. Assim, questiona-se: “que tipos de comportamentos de usuário e de audiência estão a emergir atualmente?” (KLASTRUP, 2010, p.1). Este artigo tem como objetivo avaliar a relação entre um meio de comunicação de massa tradicional (a televisão) e as suas audiências (em grande parte, fãs) através das redes sociais digitais.
Para cumprir essa tarefa, desenvolveu-se um estudo de caso sobre a versão norte-americana da franquia The Voice1, transmitida pela emissora NBC. Esse modelo de programa televisivo, concebido na Holanda em 2010, é divulgado pelos criadores como o mais interativo do gênero no mundo. Replicado em cerca de 30 países, o modelo utiliza como ferramentas para participação a ligação telefônica e a mensagem de texto (SMS) – ferramentas consideradas tradicionais para interação dos telespectadores com o programa –, e novas plataformas digitais, como o Twitter e o Facebook, cuja novidade é a possibilidade de promover interação entre pares, além do potencial para aumentá-la entre fãs e produtores do programa.
Um dos motivos para a escolha do objeto de análise deve-se ao fato de fazer parte do gênero conhecido como reality television. Ligada ao entretenimento, a reality television é, segundo Jenkins (2009), a primeira a pôr em prática – com algum sucesso – a convergência midiática voltada para a participação.
1 Desde a compra dos direitos de exibição pela NBC em 2010, já foram transmitidas seis temporadas nos Estados Unidos. A sexta temporada estreou em 24 de fevereiro de 2014 e teve seu último episódio veiculado em 20 de maio de 2014, logo estava no ar quando da submissão deste artigo.

26F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
Essas habilidades estão sendo aplicadas primeiro à cultura popular por várias razões: por um lado, porque os riscos são baixos; por outro, porque brincar com a cultura popular é muito mais divertido do que brincar com questões mais sérias (Jenkins, 2009, p.23).
Por outro lado, Jenkins (2006, p.135) defende que, “mais do que falarmos
sobre tecnologias interativas, deveríamos documentar as interações que ocorrem
entre os próprios consumidores, entre consumidores e conteúdos midiáticos, e entre
consumidores e produtores”. Nesse sentido, serão discutidas ao longo deste artigo
questões como: se os telespectadores são ativos nos SRS; qual a frequência de atividade
ao longo do tempo; qual a relação entre os episódios e a atividade registrada nos SRS;
se há interação entre pares, e entre telespectadores e produtores; se há participação de
fato e em que nível; e se a utilização dos SRS como ferramenta promove uma maior ou
mais eficaz participação.
A intenção é replicar alguns pontos da investigação de Lisbeth Klastrup (2010),
acerca da relação entre dois grupos no Facebook e notícias transmitidas na televisão
dinamarquesa. Da mesma forma que Klastrup relacionou a veiculação de uma notícia
à atividade online, pretende-se verificar a relação entre a transmissão de um episódio
e a atividade nos perfis de The Voice no Facebook e no Twitter, bem como fazer uma
análise crítica da qualidade da participação dos usuários. A fim de contemplar este
último ponto, outro estudo serve de inspiração: “Comments in News, Democracy Booster
ou Journalistic Nightmare: Assessing the Quality and Dynamics of Citizen Debates in Catalan
Online Newspapers”, realizado por Noci et al. (2010), que incide sobre os comentários de
leitores em notícias de jornais online da Catalunha, na Espanha, com base nos critérios
de Habermas sobre a ética discursiva. Neste artigo, igualmente, pretende-se focar na
questão da qualidade dos comentários, tendo em consideração a linha de pensamento
habermasiana (HABERMAS, 1973, 1976 e 2003) e a hipótese de que a Internet amplifica
as potencialidades de comunicação e de participação, mas não necessariamente um
debate qualificado.
1 Fãs: uma audiência especializada
1.1 O conceito de audiência
Em termos gerais, audiência designa a entidade coletiva resultante da
agregação de pessoas que coincidem no acesso a dado evento ou meio de comunicação
– “assistentes de algo”. O conceito de audiência também pode ser associado às lógicas

27R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
de mercado, como representações estatísticas e resultados de pesquisas de marketing, ou seja, uma noção dominada por números e carregada de certo preconceito, considerando a audiência um agregado de consumidores e preservando o status quo mediático (SILVA, 2007, p.36).
Frequentemente, a noção de audiência é construída sobre o negativo do conceito de público. Contudo, conforme defendem Sonia Livingstone (2005) e Daniel Dayan (2005 e 2006), estes dois conceitos não são tão opostos. “Antes de mais”, lembra Dayan (2006, p.38), “audiências e públicos são muitas vezes compostos pelos mesmos espectadores”. João Pissarra Esteves (2011, p.163) concorda ao ressaltar que “embora sendo realidades muito distintas em termos comunicacionais, são sociologicamente próximas – e tanto mais quanto maior é a sua midiatização”.
Podemos dizer que, de fato, existem diferenças essenciais entre públicos e audiências: estas não são obrigatoriamente dotadas de sociabilidade, de consciência da pertença, de visibilidade ou de performance, mas podem vir a exercer essas característi-cas. Dayan (2006) destaca, ainda, um ponto importante: “A sua atenção é reativa: ela é a resposta a uma oferta” (DAYAN, 2006, p.33). Torres (2006, p.82), por sua vez, defende que as audiências são dotadas de certa durabilidade, ainda que limitada – “a partilha é consciente, tem uma sociabilidade e uma reação no momento ou a posteriori, no day after” –; de estabilidade; e de uma existência social construída.
Para Dayan (2006, p.39), “estas audiências [de televisão] podem também trans-formar-se em públicos”. Essa transformação é composta por quatro fatores essenciais: 1) “um sentimento de pertença”; 2) “a reativação das redes específicas de sociabilida-de”; 3) “uma tendência a fazer pedidos que têm a ver com o desenrolar, ou mesmo com a própria existência do acontecimento2”; 4) “a vontade de defender face a outros públicos os valores que o acontecimento incorpora” (DAYAN, 2006, p.39). Esse público manifesta todas as características, exceto uma: a estabilidade, pois é marcado pela mobilização rápida e dissolução instantânea. Tendo esse fenômeno em vista, Dayan chegou à conclusão de que “se existe um público de televisão, o seu estatuto deve ser qualificado. É um quase-público” (DAYAN, 2006, p.40). Vive-se, talvez, parafraseando Gabriel Tarde, uma era dos quase-públicos.
1.2 O conceito de fã
Só que este quase-público pode, ainda, enquadrar-se em outras realidades, assumir características específicas e exercer uma sociabilidade bastante própria, como
2 Neste artigo, denominaremos esta “tendência a fazer pedidos que têm a ver com o desenrolar, ou mesmo com a própria existência do acontecimento”(DAYAN, 2006) de “pedidos narrativos”, de forma mais concisa.

28F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
é o caso do fã. De uma maneira geral, “fãs são aquelas pessoas que se identificam parti-cularmente com certos programas ou celebridades dentro de um contexto de consumo dos meios de comunicação frequente” (ABERCROMBIE e LONGHURST, 1998 apud ZOONEN, 2004, p.5).
Para Dayan (2006, p.32), os fãs, como forma de sociabilidade, compartilham, pelo menos, quatro aspectos específicos dos públicos: o sentimento reflexivo de pertencer a uma comunidade imaginada, a capacidade de emitir opiniões ou pedidos narrativos, o aparecimento de uma sociabilidade direta, e a existência de uma dimensão de performance. Sobre o sentimento de pertença, uma pesquisa realizada pela emissora Fox com 13.280 espectadores de American Idol – programa do mesmo gênero de The Voice – “concluiu que a maioria dos fãs descobriu a série pelo boca-a-boca e assistia regularmente ao programa porque outras pessoas que conheciam também o faziam” (JENKINS, 2009, p.122). Destaca-se, logo, um desejo de pertencer ao grupo daqueles que assistem ao programa; os indivíduos acabam cativados – seja por terem gostado do conteúdo mediático, seja para sentirem-se integrados socialmente.
Conforme defende Thompson, ser fã envolve mais do que uma orientação afetiva para com o outro distante; ser fã significa empenhar-se em uma série de atividades sociais práticas. “O processo de se tornar fã pode ser compreendido como uma estratégia do self – isto é, como uma forma de desenvolver o projeto do self através da incorporação reflexiva das formas simbólicas associadas com o ser fã” (THOMPSON, 2014, pp.265 e 266). Sendo assim, o conceito de fã requer um desenvolvimento reflexivo do eu e da forma de comunicação entre pares.
Uma das características mais marcantes do fã é o seu envolvimento emocional, sua identificação com uma celebridade ou programa. Pensando nisso, Klastrup (2010) descreve a noção de “alianças afetivas”, como “um grupo de pessoas ligadas por um investimento emocional em um fenômeno pop/cultural”. Nesse sentido, Nancy Baym (1998 apud Jenkins, 2006, p.139) cunhou o termo “so-cioemocional” sugerindo que “os significados não são alguma forma abstrata de conhecimento, separados dos prazeres e desejos, isolados dos laços sociais do fandom”.
Jenkins frisa o fato de os fãs se envolverem com o conteúdo de forma prática e produtiva mesmo antes da Internet. Assim, o autor questiona como a comunidade de fãs é alterada pela inserção das práticas no ambiente digital. Ele encontra uma resposta no que Hills (2002 apud JENKINS, 2006, p.141) denomina de “fandom na hora”3:
3 Tradução para o termo cunhado por Matthew Hills (2002 apud JENKINS, 2006): “just in time fandom”.

29R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
As práticas do fandom tornaram-se cada vez mais enredadas com os ritmos e temporalidades da emissão, a tal ponto que os fãs agora ficam online para discutir novos episódios imediatamente após a transmissão ou até durante o intervalo comercial talvez para demonstrar a sua capacidade de resposta e aproveitar a oportunidade de sua devoção. Em vez de correrem para o telefone para falar com um amigo próximo, agora os fãs podem ter acesso a um espectro mais amplo de perspectivas ao estar online.
Hoje, diz o autor, “a maior mudança talvez seja a substituição do consumo indivi-dualizado e personalizado pelo consumo como prática interligada em rede” (JENKINS, 2009, p.47). Fóruns, chats, fanpages, SRS e outras ferramentas reúnem os fãs numa série de atividades complementares ao consumo de determinado conteúdo: procura de informações além do emitido ou de informações dos próximos episódios; discussão (durante ou pós-emissão); leitura de notícias sobre os protagonistas (sejam eles atores, cantores ou concorrentes em um reality show); visualização de vídeos, download de conteúdos adicionais. Os novos meios permitiram, portanto, uma experiência ampliada e partilhada em rede.
As novas mídias também potencializaram as atividades dos fãs, antes restritas à “apropriação e a transformação de material emprestado da cultura de massa” (JENKINS, 2006, p.140), como revistas, jornais, fitas cassetes, por exemplo. Agora, há uma nova gama de aparatos (softwares e sites) e um acesso facilitado aos conteúdos na Internet. Com efeito, os fãs são um dos segmentos mais ativos das audiências, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito de se tornar um participante pleno (JENKINS, 2009, p.48). Por isso, Jenkins (2006, p.151) defende que o produto criado pelos fãs pode, sim, ser mais elaborado que uma simples resposta reativa ao conteúdo mediático: “cada vez mais a especulação envolve fãs na produção de novas fantasias, ampliando o campo dos significados que circulam em volta do texto primário”.
O que alguns autores defendem é que os telespectadores conseguem desempenhar uma influência de fato sobre a produção midiática. Esse poder foi destacado por Dayan (2006) no estudo dos quase-públicos, quando descreveu a capacidade de a audiência alterar uma programação ou cobertura de televisão. Para Jenkins (2009, p.97), a influência dos fãs é notada com frequência na programação das emissoras: “Os fãs têm visto no ar mais programas que refletem seus gostos e interesses; os programas estão sendo planejados para maximizar elementos que exercem atração sobre os fãs; e esses programas tendem a permanecer por mais tempo no ar”.
Conclui-se, pois, que as audiências focadas aqui podem ser também fãs, ou seja, quase-públicos que realizam atividades de cunho participativo, envolvem-se com o conteúdo e estabelecem alianças afetivas com o programa e seus protagonistas.

30F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
2 A televisão ainda como protagonista
A televisão foi escolhida como meio de comunicação de massa para protagonizar este estudo de convergência midiática por uma série de razões. Apesar da emergência de novos meios e suportes, advoga-se que a TV mantém o papel de protagonista na dieta midiática das pessoas. Clay Shirky (2011, p.10) corrobora esse fato: “A TV logo abocanhou a maior fatia do nosso tempo livre: uma média de mais de vinte horas por semana, em todo o mundo”. Uma pesquisa realizada pela Nielsen Company (PROULX e SHEPATIN, 2013, p.4), por sua vez, revela que nos Estados Unidos esse número é ainda maior: 35 horas por semana. O autor diz ainda que ver TV está entre as três atividades mais comuns atualmente, ao lado de trabalhar e dormir, e completa: “nos últimos cinquenta anos, o número anual de telespectadores só tem aumentado” (SHIRKY, 2011, pp.11 e 12).
Além do alto consumo, a televisão destaca-se por ser um meio interativo muito antes do surgimento da Internet. Francisco Machado Filho (2013, p.6) chama a atenção para o fato de que este é um veículo social: “A programação da TV sempre gerou conversas, ações e engajamentos sociais e, desde seu início, foi um veículo para ser assistido com a família, amigos ou espaços públicos”. O sociólogo francês Dominique Wolton (2007, pp.72 e 73) também reforça o papel do meio na sociedade: “A televisão é um objeto de conversação. Fala-se entre si, mais tarde, em todos os lugares. É por isso que ela é um vínculo social indispensável em uma sociedade em que os indivíduos estão frequentemente isolados e às vezes solitários”. Referência nos estudos em Comunicação, Marshall McLuhan (2003, pp.38, 39 e 347) classifica a televisão como um meio frio, caracterizado justamente pelo grau de participação da audiência: “A TV não funciona como pano de fundo. Ela envolve. É preciso estar com ela” (MCLUHAN, 2003, p.350). Proulx e Shepatin (2013, p.4) voltam ainda mais no tempo ao resgatarem a fala de David Sarnoff, de 1939: “A televisão trará às pessoas em suas casas, pela primeira vez na história, um meio completo de participação instantânea nas paisagens e nos sons do mundo exterior inteiro”. Não é que Sarnoff estivesse prevendo o futuro, ao contrário, desde os primórdios que a TV é considerada um meio interativo.
A diferença é que hoje, “com a extensão dos conteúdos televisivos para o ciberespaço, ampliaram-se as possibilidades e fluidez dessas interações” (SILVA e BEZERRA, 2013, p.131). Com o apoio da Internet, entram em cena os sites de redes sociais (SRS, segundo definição de Raquel Recuero, 2011, também chamados mídias sociais por Proulx e Shepatin, 2013), como Twitter e Facebook, e os aplicativos (apps), tanto para aparelhos televisores como para tablets e smartphones, que potencializam o diálogo

31R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
e a interação entre a audiência e os programas. A ponto de Newton Cannito (2010, p.16) afirmar que “o digital tornará a televisão ainda mais televisão”, ou seja, potencializa suas características.
3 Redes Sociais Digitais
Tendo situado o papel central que a televisão ainda desempenha não só nesta investigação, mas também na rotina das audiências, é importante passar ao outro meio de comunicação envolvido no processo de participação estudado neste artigo: a Internet, mais especificamente os sites de redes sociais. Seriam eles, segundo os criadores, o grande diferencial na relação (e participação) entre os telespectadores e o programa The Voice, tornando-o, portanto, o mais interativo na TV.
3.1 Redes Sociais: um conceito multidisciplinar e nada recente
Por ser um conceito em voga e intrinsecamente relacionado ao atual momento da Internet, as pessoas tendem a pensá-lo como algo recente. Só que a história das redes sociais passa por muitas áreas do conhecimento e já é escrita há mais de dois séculos. Essa abordagem foi utilizada pela primeira vez no século XVIII, como parte do trabalho do matemático Leonhard Euler e apontava que, “para entender um fenômeno, é necessário observar não apenas as suas partes, mas as suas partes em interação” (RECUERO, 2011, p.12). Para as Ciências Sociais, “uma rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores” (RECUERO, 2011, p.13).
As redes sociais não são, pois, um conceito novo. Entretanto, o advento da comunicação mediada por computadores, amplificou a capacidade de conexão, criando-se as redes sociais mediadas por computadores (RECUERO, 2011). O sociólogo Manuel Castells também admite a já longa existência das redes sociais complexas e ressalta que, com os recentes avanços tecnológicos, elas destacaram-se como forma dominante de organização social: “As pessoas organizam-se cada vez mais, não só em redes sociais como em redes sociais ligadas por computador” (CASTELLS, 2007, p.134).
3.2 Redes Sociais na Internet
É, contudo, preciso fazer uma distinção importante entre redes sociais e os sites de redes sociais (SRS). A primeira foi descrita acima; o segundo ponto refere-se às

32F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
ferramentas através das quais ocorrem as conexões que vêm a formar uma rede social online. Recuero (2011, p.102) frisa: “Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, apenas sistemas”.
Segundo Danah Boyd e Nicole Ellison (2007, p.2), os SRS são sistemas que permitem: 1) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; 2) a interação pelos comentários publicados; e 3) a exposição da rede social de cada usuário em sua lista de amigos. Conforme Recuero (2011, p.43), os SRS diferem-se de outras formas de comunicação mediada por computador, pois “permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line”, por isso tanto o Facebook como o Twitter são considerados sites de rede social.
4 Análise da participação dos telespectadores
Esta análise está dividida em duas partes: a primeira, de cunho quantitativo, tem por base três episódios das três primeiras temporadas de The Voice, além de duas datas fora de temporadas (uma semana e um mês após a final), e ênfase nas atividades de-sempenhadas pelos fãs nos SRS – número de curtidas, compartilhamentos, comentários e tuítes – e sua frequência; a segunda parte dedica-se a uma análise qualitativa sobre os procedimentos participativos adotados pelo programa, bem como sobre o conteúdo gerado pela audiência, levando-se em consideração as seis temporadas transmitidas nos Estados Unidos, de modo a abranger as mudanças promovidas e identificar se houve uma evolução no processo ao longo desses três anos da produção.
4.1 O fator temporal e a cultura do “curtir”
Da estreia até a final de cada temporada, nota-se uma curva ascendente na participação dos usuários no Facebook (ver gráficos abaixo). O início sempre demonstra números mais baixos, o que pode ser interpretado como um momento de adaptação dos telespectadores a cada nova temporada, bem como aos candidatos (o público ainda não os conhece bem a ponto de relacionar-se com eles, criar uma identificação ou tornar-se fã). Além disso, a própria fase que abre cada temporada, chamada blind auditions, é caracterizada por um menor envolvimento da audiência, os programas são gravados – voltaremos à importância da transmissão ao vivo para a interatividade com a audiência adiante neste texto – e até os tuítes dos técnicos são em menor volume. Isso é notado

33R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
principalmente na primeira temporada, por ser a estreia do programa nos Estados Unidos. A hipótese é de que os telespectadores ainda estavam acostumando-se a The Voice e conhecendo suas dinâmicas de interatividade. Faltava, pois, uma domesticação do programa para gerar um maior envolvimento e, consequentemente, a interatividade. Especificamente na terceira temporada, a situação é ligeiramente diferente, na medida em que se verifica uma audiência já cativa que acompanha – tuíta, comenta, compartilha e curte no Facebook – o programa desde o primeiro episódio. É possível afirmar, assim, que a audiência, quando da estreia da terceira temporada, já está familiarizada com o formato do programa e suas ferramentas. Mesmo assim, os números registrados no primeiro episódio são significativamente menores em relação aos do episódio final.
Gráfico 1 – Atividade no Facebook durante a 1ª temporada
Fonte: Informações recolhidas pela pesquisadora na fanpage de The Voice no Facebook.

34F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
Gráfico 2 – Atividade no Facebook durante a 2ª temporada
Fonte: Informações recolhidas pela pesquisadora na fanpage de The Voice no Facebook.
Gráfico 3 – Atividade no Facebook durante a 3ª temporada
Fonte: Informações recolhidas pela pesquisadora na fanpage de The Voice no Facebook.

35R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Analisando os gráficos acima, pode-se perceber o ponto alto da atividade
dos usuários na fanpage de The Voice se dá nas datas dos episódios finais: os números registrados chegam a ser quase dez vezes maiores em relação aos demais períodos analisados, ultrapassando as 330 mil curtidas (atividade mais desempenhada) no dia da final da terceira temporada. Constata-se que há uma mobilização neste que é o momento decisivo. Isso comprova o caráter reativo das audiências, identificado por Dayan (2006). Nas demais datas, os posts com maior participação registrada são aqueles que apresentam uma enquete ou um pedido de opinião do usuário explicita-mente, o que reforça esse caráter reativo das audiências: a prioridade não é produzir conteúdo, apenas reage-se ao que foi publicado. Nota-se, ainda, que a atividade fora de temporada diminui muito. Fica marcado, portanto, um fator temporal: da mesma forma que Klastrup (2010) verificou que nas datas em que notícias relacionadas aos grupos do Facebook eram veiculadas a atividade nas respectivas páginas era maior, constata-se aqui que os períodos de mais atividade na fanpage e no perfil do Twitter coincidem com os dias em que os episódios vão ao ar. Além disso, ao longo dos dias de transmissão, pode-se perceber que o maior índice de atividade é registrado durante o episódio, o que denota que o telespectador realiza ambas as ações simultaneamente: enquanto vê TV, também está online e ativo nos sites de redes sociais, curtindo, compartilhando, comentando, tuitando e retuitando. Reforça-se, assim, o fator temporal.
É possível perceber, ainda, que os números registrados aumentam gradativa-mente entre uma temporada e outra. Ao analisar as curtidas, por exemplo, parte-se da estreia da primeira temporada em que não houve atividade para o primeiro episódio da segunda temporada em que foram registrados mais de 13 mil curtidas, até a estreia da terceira quando houve quase 35 mil. O que se nota é que, mesmo registrando altos índices de participação, a maior parte dos usuários limita-se a clicar em “curtir”. Na final da segunda temporada, o número de curtidas chega a ser quatro vezes maior do que o de comentários, por exemplo, e até seis vezes maior no mesmo episódio da terceira temporada.
Apesar de um número inferior de usuários publicar comentários, trata-se de uma atividade com números crescentes também: foram mais de 15 mil somente no dia da final da terceira temporada. Enquanto a média ficava por volta de mil na primeira temporada, o número foi alçado à casa dos três mil na temporada seguinte, chegando a cerca de cinco mil na terceira. É comum, por outro lado, uma pessoa comentar mais de uma vez – uma média de até três vezes – em um mesmo post. Todavia, não há interação com os demais ou um diálogo; prevalecem as emissões de opinião, sem rigor argumen-

36F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
tativo, em geral, conteúdos no estilo fanpost4. Os comentários realizados pela mesma pessoa, em geral, têm a mesma intenção, apenas alterando algumas palavras.
O uso do compartilhar aparece principalmente a partir da segunda temporada, sendo ainda mais frequente na terceira (ver gráfico quatro, abaixo), e é mais registrado em posts com link para vídeos. Conclui-se que os usuários preferem compartilhar um conteúdo mais trabalhado, rico em informações, mesmo que seja de autoria dos produtores do programa e não dele próprio; demonstra-se aí uma preferência pela qualidade do conteúdo em detrimento do caráter autoral.
Gráfico 4 – Comparação do número de compartilhamentos entre as três temporadas
Fonte: Informações recolhidas pela pesquisadora na fanpage de The Voice no Facebook.
Segundo o gráfico acima, há um crescimento significativo da primeira para a segunda temporada – de apenas dois no total para mais de 3,7 mil – no número de compartilhamentos, que se atribui ao fato de os telespectadores terem passado por um período de literacia, de aprendizado das dinâmicas do programa e do Facebook como ferramenta de interatividade. Outro fator que faz crescer o número de compartilhamen-tos na terceira temporada – quando ultrapassam os 20 mil no total – é a prática do “vote for” (vote por, em inglês). Os produtores publicam na fanpage imagens (cards) com uma foto de determinado concorrente, a frase “vote for” e uma seta apontando para a foto do
4 Neste artigo, considera-se fanpost uma opinião emitida ou um comentário cujo teor seja predominantemente emocional em relação ao programa ou a um candidato, baseado apenas no gosto do usuário, como mensagens de incentivo e torcida, e declarações de voto.

37R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
perfil do usuário. Assim, ao compartilhar essa imagem, o usuário fica rotulado como torcedor/fã daquele concorrente, declarando seu voto. Nesses casos, houve uma alta incidência de compartilhamento, mas, ainda assim, em geral, o número de comentários manteve-se superior ao de compartilhamentos ao longo das três temporadas.
Relativamente ao Twitter, a tendência é a mesma: a atividade concentra-se no período de transmissão do programa, quando chega a atingir os trendingtopics5. Nas datas analisadas fora de temporada (uma semana e um mês após o episódio final de cada temporada), o programa não chegou aos trendingtopics em nenhum momento e a atividade também teve um decréscimo acentuado: manteve-se uma média de dois a três tuítes por dia publicados pela produção do programa – em contraste com os números registrados durante a emissão que chegavam a cerca de 30 tuítes, em média. As atividades realizadas pelos usuários, como retuítes, também diminuíram.
4.2 Um olhar sobre as seis temporadas de The Voice e a participação dos fãs
Um ponto importante é o relacionamento entre os produtores de The Voice e seus telespectadores/fãs/usuários. Uma vez que a proposta é ser o programa mais interativo do mundo, espera-se que haja uma comunicação de fato entre o veículo de comunicação, neste caso a NBC através da produção de The Voice, e os usuários que participam das suas páginas nos SRS (fanpage no Facebook e perfil no Twitter). No entanto, em nenhum momento, dentro do período analisado (incluindo datas fora de temporada), constatou-se uma resposta direta e pública.
Por outro lado, é preciso frisar que são poucos os que usam esses canais para perguntar algo ou reclamar. Um exemplo em que os telespectadores foram deixados sem uma resposta (pelo menos publicamente nos SRS) está relacionado com uma ca-racterística apontada por Jenkins: a presença significativa de fãs internacionais que “reclamam frequentemente que se encontram em desvantagem” (JENKINS, 2006, p.141). A desvantagem acusada pelos fãs internacionais de The Voice foi o fato de não terem acesso a certos conteúdos (na maior parte, vídeos) no site do programa e nos SRS, acesso este permitido apenas para usuários dos EUA.
“As restrições de visualização de vídeos para países que não os EUA é MUUUUITO IRRITANTE” T.M. (05/03/13) “Olá, The Voice, sou um fã uruguaio, e eu não consigo ver nenhum vídeo seu, concordo com T.M. É MUITO IRRITANTE” T.S. (05/03/13) “Por que é que os vídeos são limitados no youtube? Eu quero vê-los. Eu costumava poder acessá-los.” I.D. (07/03/13) – pós-3ª temporada
5 No Twitter, trendingtopics representam os assuntos mais citados com o uso da hashtag (#).

38F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
Até a data da presente análise, os produtores de The Voice não responderam publicamente aos usuários que reclamaram sobre esta limitação, tampouco mudaram a forma de acesso aos vídeos. Há restrição também para votar através da Internet. Somente quem possui endereço de IP norte-americano pode votar, excluindo novamente os fãs internacionais.
Ainda sobre a interação – ou a falta dela – entre os produtores do programa e os usuários, The Voice limita-se à mera reprodução do conteúdo da audiência, por exemplo, exibindo tuítes na tela durante a transmissão ou, em poucos casos, mencionando no ar algumas dessas contribuições. Em comparação com o volume publicado na Internet, os comentários exibidos e citados ao vivo são muito escassos. Quando isso acontece, há uma espécie de legitimação do comentário do telespectador. No entanto, percebe-se um incentivo por parte da produção do programa para que os telespectadores engajem-se através dos SRS, principalmente do Twitter com a exibição de hashtags sugeridas.
Durante a segunda temporada de The Voice, constatou-se um exemplo de influência dos fãs pelo Twitter, ainda que indireta e de baixo grau: em duas ocasiões, o técnico Cee Lo Green comentou com um dos concorrentes sobre tuítes – com críticas negativas – acerca de sua classificação para a etapa seguinte e usou essa informação para incentivá-lo a melhorar na competição. Apesar de não poderem mudar o fato de que esse ou aquele candidato tenha se classificado, os telespectadores demonstraram o seu descontentamento e a informação chegou ao técnico e ao seu candidato. Trata-se, no mínimo, de uma maneira de técnicos e as suas equipes receberem um feedback dos fãs e de eles sentirem-se ouvidos.
O que se pôde perceber, de maneira geral, é que há pouca interação entre os usuários, assim como Klastrup (2010) também identificou em seu estudo. Nos poucos casos em que essa interação acontece, dificilmente estabelece-se uma discussão; o que mais se nota é uma troca simples de ideias. Uma situação específica, porém, merece destaque devido ao envolvimento e à discussão gerados. Apesar de ter sido escolhida vencedora da terceira temporada com a maioria dos votos – por telefone e SMS –, a cantora Cassadee Pope teve seu título contestado por alguns fãs do programa, pois, quando entrou na competição, já tinha experiência como vocalista de uma banda de relativo sucesso.
“Nem tinha assistido ainda e já sabia quem ganharia. Eu continuo considerando uma trapaça já que ela teve mais treino, como fazia parte da Hey Monday” R.E. (18/12/12)“Para aqueles que estão a criticar Cassadee, que vergonha. A voz dela é linda, ainda mais com o visual dela, e ela foi realmente a melhor, sem falhas. Parabéns, Cassadee, você merece.” W.L.M. (18/12/12).
Verificou-se a existência de uma discussão baseada em alguns argumentos,

39R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
principalmente dois: 1) cometeu-se uma injustiça devido ao fato de ela ter feito algum sucesso com uma banda (argumento dos que foram contra sua vitória); 2) a concorrente competiu com as mesmas regras e foi considerada melhor pelo voto da audiência (os que foram a favor da sua vitória). Os usuários reconheciam-se uns aos outros como fãs do programa, mas em nenhum momento questionaram a credibilidade entre si, apenas debateram, ainda que por pouco tempo e com emissões de opinião praticamente únicas de cada um, o que mostra que não retornaram a este diálogo posteriormente. Ainda assim, cabe ressaltar que esse caso foi uma exceção.
Com relação ao conteúdo publicado pelos usuários, a maior parte trata-se de comentários no Facebook e tuítes, cuja maioria configura-se como fanpost.
“Força, Jeff Jenkins!” S.G. (14/6/11) – 1ª temporada.“Força, equipe do Adam! Arrasa, Javier!” J.M. (14/6/11) – 1ª temporada.“Sam arrasou!” T.C. (15/10/12) – 3ª temporada.“Nicholas! Que performance! Wow” L.M.C. (15/10/12) – 3ª temporada.
São poucos os usuários que fazem perguntas ou pedidos de informação, e outros, também poucos, fazem críticas negativas.
“Benji deveria ter passado. Ele tem melhor voz. Ele também mostrou um pouco mais de presença de palco. Como nenhum dos outros técnicos o escolheu e nem comentou a sua excelente performance?” P.C. (15/10/12) – 3ª temporada.
Mesmo nesses casos, elas são moderadas e não abusivas. Assim como o estudo de Noci et al. (2010) verificou com relação aos comentários em notícias online, quando algum usuário publica um comentário com uma linguagem mais pesada ou considerada inadequado, é quase imediata à reação dos demais em recriminá-lo.
Nas primeiras quatro temporadas, o programa tinha uma seção dedicada à interatividade com os telespectadores/usuários, comandada por uma pessoa com o título de “repórter V”. A primeira repórter V foi Alison Haislip que deu lugar à atriz Christina Milian a partir da segunda temporada. As inserções da repórter V eram realizadas primeiramente dos bastidores (backstage) e, depois, receberam um espaço especial chamado “Sprint Sky Box” – Sprint é a companhia de telefonia móvel patroci-nadora dessa seção de interatividade. Essas inserções não eram realizadas na primeira fase, as blind auditions, e ficavam mais frequentes com o avanço das fases do programa6.
6 Em sua dissertação de mestrado – A relação dos media tradicionais com as audiências através das redes sociais: Um estudo de caso da participação dos telespectadores nos programas The Voice, A Voz de Portugal e The Voice Brasil (2013) –, a pesquisadora analisa mais detalhadamente a seção, especialmente em relação ao tempo de duração dessas inserções, ao seu formato e conteúdo, à atuação da repórter V, entre outros aspectos.

40F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
A partir da quinta temporada, extinguiu-se a figura da repórter V e a função de leitura de tuítes, entrevistas, demonstração de conteúdo extra para Internet e publicações no Instagram, entre outras atividades, ficou a cargo do apresentador Carlson Daly e mais diluída no programa, sem uma demarcação tão clara de seção. Por um lado, perde-se a necessidade de um mediador – a repórter V – entre o programa e a sua audiência, o que promove uma sensação maior de proximidade do fã com o programa e sua equipe. No entanto, a seção de interatividade perdeu força e tempo de duração, ficou menos demarcada e mais diluída no roteiro do episódio.
É possível apontar a virada da quarta para a quinta temporada como um período de mudanças na condução da versão norte-americana da franquia. Além da já mencionada exclusão da figura da repórter V, foi a partir da quinta edição que a influência do telespectador no rumo da competição foi intensificada. Isso ocorreu devido a duas novas ferramentas de votação: 1) abriu-se a possibilidade de o usuário votar pela Internet, no site da emissora e na fanpage do Facebook; 2) adotou-se o instant save pelo Twitter.
A primeira atende uma demanda levantada desde o início do programa. Um modelo que se propõe a ser o mais interativo do mundo e utilizar os sites de redes sociais para promover a interatividade deveria dar a oportunidade de os seus fãs votarem através da Internet, barateando o custo da participação – as ferramentas antigas de voto, telefonema e SMS, têm custo e incidência de impostos, enquanto a votação online não requer que o usuário pague qualquer taxa. Permanece, contudo, a restrição aos fãs internacionais que, mesmo pela Internet, não têm permissão para votar; apenas computadores com endereço de IP norte-americano e canadense podem participar da votação.
A segunda ferramenta talvez seja a mudança mais interessante por uma série de motivos. Após a votação, os três concorrentes com menos número de votos devem cantar novamente. Depois disso, os telespectadores têm cinco minutos para tuitar utilizando a hashtag #save com o nome do artista que deseja que permaneça na competição. São aceitos também retuítes com a mesma hashtag. O candidato que tiver maior número de tuítes e retuítes com a hashtag #save e o seu nome classifica-se à próxima fase da disputa. Trata-se de uma dinâmica de voto interessante pois dá a oportunidade de o fã “salvar” o seu ídolo que está em risco de deixar o programa, utilizando o Twitter para isso. Ainda, por ser um site de rede social, esse fã pode conclamar seus contatos online para entrarem nessa corrente para salvar um determinado artista. Por fim, é também uma oportunidade de o telespectador ver de imediato e de forma clara (afinal, pode acompanhar no Twitter as publicações com aquela hashtag) a sua influência no rumo da

41R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
competição. O instant save foi um acerto dos produtores do programa na direção de uma maior e mais qualificada participação da audiência que, por sua parte, aderiu à prática nas duas últimas temporadas.
Ao lançar um olhar sobre as seis temporadas, é perceptível um gradativo abandono do Facebook e uma adoção cada vez maior do Twitter nos procedimentos parti-cipativos do programa. A fanpage de The Voice continua ativa e com conteúdos especiais, todavia não se vê mais a menção ao vivo ou a exibição de posts durante a transmissão. Hoje, o Facebook representa muito mais uma ferramenta de voto e de informações e curiosidades de bastidores para os fãs do que um canal de participação e interação de fato. Essa função fica para o Twitter, afinal é através dele que os treinadores comentam o andamento da competição, que os fãs interagem entre si e com as celebridades, que o instant save é viabilizado e que o conteúdo gerado pelos usuários pode ser exibido ao vivo na tela. O uso – e sugestão na tela – de hashtags específicas cresceu ao longo das seis temporadas, marcando situações determinadas, episódios especiais, apresentações de um concorrente ou mesmo representando um incentivo do programa à participação. É comum que o apresentador convide a audiência a publicar fotos ou comentários no Twitter acompanhados de uma hashtag: por exemplo, “mande sua selfie com a hashtag #selfiethevoice”. O Instagram também passou a ser utilizado, ainda que com menos frequência e sempre associado ao Facebook e ao Twitter – é possível publicar nos demais SRS a mesma foto que se publica no Instagram, disseminando o conteúdo.
5 “Nós determinamos quem será The Voice”: considerações finais
Ao longo desta análise, uma frase chamou-nos a atenção, tanto que deu origem ao título do capítulo: “Vote pelo seu favorito. Nós é que determinamos quem será The Voice”. A autora é a uma telespectadora norte-americana que comentou um post no dia do episódio final da terceira temporada (18/12/12). Com efeito, ela resume uma série de pontos abordados neste artigo. O primeiro deles é a vontade da audiência em participar, em ver a sua influência direta no conteúdo, comprovando que há, sim, um “desejo público de participar dos meios de comunicação, em vez de simplesmente consumi-los” (JENKINS, 2006, p.150). Em segundo lugar, a frase revela o posicionamento dessa usuária específica: como fã, pois o seu envolvimento com o programa é de tal intensidade e engajamento que a leva a incentivar outros usuários a participarem – afinal, nem todos os telespectadores são fãs de fato do programa, tampouco todos os usuários nos SRS. Por último, emerge ainda a motivação que a leva a participar de The Voice: justamente o fato de se sentir parte do programa, de exercer uma influência sobre o rumo da

42F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
competição que a habilita a determinar quem será o vencedor. Com essa simples frase, a telespectadora revelou um forte sentimento de empowerment, relacionado à capacidade de determinar o resultado de uma temporada do programa.
Pode-se dizer que a maior parte dos telespectadores/usuários enfocados na análise são também fãs, uma vez que desenvolvem uma identificação particular com The Voice ou também com as celebridades do programa (concorrentes ou técnicos) num contexto de consumo frequente tanto de televisão como da Internet (ABERCROMBIE e LONGHURST, 1998 apud ZOONEN, 2004, p.5), apresentando uma aliança afetiva (KLASTRUP, 2010, p.3) para com o conteúdo midiático, bem como um envolvimento prático (JENKINS, 2006, p.140) ao tuitarem, retuitarem, curtirem, comentarem ou com-partilharem um post. Torres (2006, p.83) afirma que todos somos fãs em algum momento. Isso é comprovado quando, por exemplo, um dos tuítes de fã selecionado para ir ao ar durante a segunda temporada era assinado por Justin Timberlake (o perfil oficial do cantor no Twitter). Ou seja, até as celebridades, em alguns momentos, tornam-se fãs.
Até que ponto curtir (a atividade mais desempenhada nos SRS) constitui participação? Trata-se de uma participação superficial, no seu nível mais simples: um movimento de interação do telespectador com o programa (RIBEIRO, 2011, p.96), mas nada mais que isso. Há uma cultura estabelecida do curtir, uma participação que não demanda esforço e muito envolvimento com The Voice. Essa interação fica estagnada num primeiro estágio, o processo de comunicação não vai além. É preciso, porém, ressaltar que há limites impostos pelas ferramentas em si (KLASTRUP, 2010, p.4) – neste caso, Facebook e Twitter –, logo não se pode esperar um desempenho que não é possível tecnicamente. Os usuários ficam, portanto, restritos a uma gama determinada de ações previstas e disponibilizadas pelo site de rede social. Ainda assim, os comentários, por exemplo, comportariam potencialidades na geração de uma discussão argumentada e por tempo suficiente para se estabelecer um debate, o que não se constatou neste estudo.
Em termos de qualidade, a atividade dos usuários fica aquém do esperado. Enquanto Jenkins (2006 e 2009) defende que os fãs podem produzir conteúdos criativos e reconfigurar o conteúdo consumido, o que se verificou foram conteúdos reativos e baseados meramente nas preferências individuais. Com a exceção do debate acerca do título de Cassadee Pope, em que houve um efetivo debate, com argumentos e reco-nhecimento entre pares (HABERMAS, 1973, 1976 e 2003), o que pressupõe um nível mais complexo de participação, constatou-se que a participação em geral estabelecida foi superficial.
É necessário admitir, todavia, que o programa realmente dispõe de mais dispositivos que o já tradicional na televisão. Abrem-se mais portas de comunicação,

43R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
mas isso pode ser apenas devido ao desenvolvimento tecnológico – hoje, há mais dispositivos e ferramentas para interação. Assim, questiona-se: proporcionar mais canais de interação, como a inserção dos SRS no programa, promoveu um maior nível de participação?
Ribeiro (2011, p.98) chama a atenção para o fato de que a ampla utilização dos novos meios não significa necessariamente um maior nível de participação. Com efeito, os sites de redes sociais talvez não tenham promovido uma participação mais eficaz, mas têm potencial; tanto que a adoção do instant save, através do Twitter, pode ser interpretada como um sinal desse movimento, um passo na direção de um nível maior e mais denso de participação. É preciso ir além da cultura do curtir.
Podemos dizer que o papel dos SRS, além de prover mais canais de participação, é mudar a forma de ver televisão. Conforme Jenkins (2009, p.47), deixa-se um consumo predominantemente individual e passa-se a um consumo em grupo, em rede através dos SRS, nomeadamente do Facebook e do Twitter. Com isso, estimula-se uma sensação maior de participação (mesmo que não necessariamente corresponda à realidade) e promovem-se mais oportunidades de conversação (nem sempre concretizadas).
No entanto, o que se nota é que os produtores do programa não se inserem com-pletamente nesse ambiente de interação: apenas lançam o estímulo com as publicações e as sugestões de hashtags, mas permanecem ausentes dos passos seguintes desse processo de comunicação, pois não voltam a esse diálogo que eles próprios iniciaram. Os veículos de comunicação já demonstram consciência da cultura participativa em vigência, a ponto de que muitos se veem obrigados a adotar procedimentos partici-pativos (JENKINS, 2009, p.56), muitas vezes sem estarem preparados para atender ao fluxo de comunicação que surge. De qualquer forma, é necessário observar que houve evolução ao longo das seis temporadas de The Voice. A produção do programa tem ex-perimentado novas formas de engajar os telespectadores e fidelizá-los, como é o caso do instant save. Ainda que tenham diminuído a exibição de tuítes de fãs na tela e a duração da seção de interatividade nas transmissões, nota-se uma preocupação dos produtores em criar formas de integrar o telespectador ao programa. Nem todos os procedimentos utilizados têm sucesso e alcançam esse objetivo, mas há uma cultura participativa já incorporada na forma de produzir o conteúdo midiático.
Por outro lado, é preciso sublinhar que a qualidade da maior parte dos conteúdos criados pelas audiências deixa a desejar, não alcançando o nível defendido por Jenkins (2006 e 2009) de criatividade, descoberta e troca de informação, tampouco se aproxima dos preceitos habermasianos de um debate livre, argumentado entre pares (HABERMAS, 1973, 1976 e 2003). Assim, o que falta para se alcançar um nível ideal

44F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
de participação? Seria motivação, incentivo ou domesticação das ferramentas? Talvez,
a resposta envolva cada um desses pontos. Apesar de existir um inegável desejo de
participação, é possível que nem todos os membros da audiência compartilhem dele,
que alguns queiram apenas ver televisão sem envolvimento maior ou desempenho de
outras atividades. Talvez parte da audiência sinta que falta espaço para sua produção,
não se sinta incluída. É possível ainda que os telespectadores precisem aprender a lidar
melhor com as ferramentas disponibilizadas pelos novos meios de comunicação a fim
de usá-las em seu potencial total.
Por fim, “que tipos de comportamentos de usuário e de audiência estão a
emergir atualmente?” (KLASTRUP, 2010, p.1). A pergunta permanece, acompanhada
de outras levantadas aqui. Este é, portanto, um trabalho em constante construção e
discussão.
Referências
BOYD, D. M.; ELLISON, N. B. Social network sites: Definition, history, and
scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. Hoboken: Wiley-
Blackwell, 2007. Disponível em: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html.
CANNITO, Newton Guimarães. A Televisão na era digital: interatividade,
convergência e novos modelos de negócio. São Paulo: Summus, 2010.
CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet - Reflexões sobre Internet, Negócios
e Sociedade. 2.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.
DAYAN, Daniel. Mothers, midwives and abortionists: genealogy,
obstetrics, audiences and publics. In: LIVINGSTONE, Sonia.
Audiences and Publics. Bristol: Intellect Books, 2005.
___________ Televisão, o quase-público. In: ABRANTES, J. C. & DAYAN, D.
Televisão: das Audiências aos Públicos. Lisboa: Livros Horizonte, 2006.
ESTEVES, João Pissarra. Sociologia da Comunicação.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.
HABERMAS, Jürgen. La Esfera de lo Publico. In: DÍAZ, Francisco
G. La critica social en Touraine y Frankfurt. Madri: UAM
(Universidad Autonome de Madrid), 1973. pp. 123-130

45R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
___________. Communication and the Evolution
of Society. Boston: Beacon Press, 1976.
___________. Mudança estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma
categoria da sociedade burguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
JENKINS, Henry. Fans, Bloggers and Gamers - Exploring Participatory
Culture. Nova Iorque: New York University Press, 2006.
___________, Cultura da Convergência. 2.ed. Trad.
S. Alexandria. São Paulo: Aleph, 2009.
KLASTRUP, Lisbeth. Publics for a day? The Affective “Audiences” on
Facebook. Copenhagen, Dinamarca: University of Copenhagen, 2010.
LIVINGSTONE, Sonia. Audiences and Publics. Bristol: Intellect Books, 2005.
MACHADO FILHO, Francisco. Segunda tela: tendências, oportunidades e modelo
de negócio concomitante à TV digital aberta no Brasil. In: XXXVI Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação, de 4 a 7 e setembro de 2013, Manaus.
Anais. Manaus: Intercom, 2013. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/
papers/nacionais/2013/resumos/R8-1055-1.pdf> Acesso em: 2 de outubro de 2013.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões
do homem. 13.ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2003.
NOCI, J. D., DOMINGO, D., MASIP, P., MICÓ, J. L., & RUIZ, C. Comments in
news, democracy booster or journalistic nightmare. In: 11th International
Symposium on online journalism, 23 e 24 de abril de 2010, Austin
(EUA). Anais. Disponível em: < https://online.journalism.utexas.edu/
program.php?year=2010> Acesso em: 15 de fevereiro de 2012.
PROULX, Mike; e SHEPATIN, Stacey. Social TV: How marketers
can reach and engage audiences by connecting television to the
web, social media and mobile. Hoboken: Wiley, 2013.
RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. 2.ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2011.
RIBEIRO, Fábio. O conceito de ‘participação’ nos media: sombras e
claridades numa floresta de definições. In: LOPES, F. A TV dos Jornalistas.
Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 2011.

46F
ãs e s
ite
s de r
ed
es s
oc
iais: U
m e
st
Ud
o de c
as
o da p
ar
tic
ipa
çã
o no p
ro
gr
am
a th
e vo
ice • B
re
nd
a pa
rm
eg
gia
ni
SHIRKY, Clay. A cultura da participação: criatividade e generosidade no mundo conectado. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 210 p.
SILVA, Marisa Torres da. A Voz dos Leitores na Imprensa. Lisboa: Livros Horizonte, 2007.
SILVA, Elane Gomes da; BEZERRA, Ed Porto. Dispositivos Móveis como potencializadores da televisão digital interativa: Desafios e usos da segunda tela no telejornalismo. Revista Geminis, São Carlos: UFSCAR, ano 4, n 1, 2013. pp. 127-144 Disponível em: <http://www.revistageminis.ufscar.br> Acesso em: 25 de agosto de 2013.
THOMPSON, J. B. A mídia e a modernidade: Uma teoria social da mídia. 15.ed. Trad. Wagner de Oliveira Brandão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
TORRES, Eduardo Cintra. Multidões e Audiências. In: ABRANTES, J. C. & DAYAN, D. Televisão: das Audiências aos Públicos. Lisboa: Livros Horizonte, 2006.
ZOONEN, Liesbet Van. Imagining the Fan Democracy. The European Journal of Communication Research. Nova Iorque/Berlim: Gruyter, 2004.
WOLTON, Dominique. Internet, e depois? Uma teoria crítica para as novas mídias. 2.ed. Trad. Isabel Crosseti. Porto Alegre: Sulina, 2007.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 47-76
BloG de peRsonaGeM: o caso da MinisséRie afinal, o que queReM as MulheRes?
issaaf KaRhawi
Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e mestre pela mesma instituição (bolsista do CNPq). Entre 2011 e 2013, desenvolveu a pesquisa Blog de personagem: discurso e dialogia na produção de sentidos entre internautas e personagem da minissérie “Afinal, o que querem as mulheres?”, sob orientação da profa. Dra. Maria Cristina Palma Mungioli. Durante o período de pesquisa, foi integrante do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN-ECA-USP) e do Observatório ibero-americano da ficção televisiva (OBITEL).E-mail: [email protected]

ResuMo
Trata-se de uma discussão teórica acerca do uso de blogs de personagem na construção de narrativas televisivas transmidiáticas. O uso de blogs já faz parte das experimentações empreendidas pela TV Globo, desde 2006, para buscar diferentes possibilidades de interação com os telespectadores e apresentar a ficção televisiva em múltiplas plataformas. Este artigo resulta da pesquisa de mestrado da autora que buscou compreender como são produzidos sentidos entre os polos da produção e da recepção da minissérie Afinal, o que querem as mulheres? (Globo, 2010). Para isso, analisou os discursos do blog de André Newmann, protagonista da trama.
Palavras-chave: minissérie brasileira, transmidiação, blog de personagem.
aBstRact
This is a theoretical discussion about the use of character weblog in the process of transmedia storytelling in television fiction. The weblog as a genre is part of experiments undertaken by Globo since 2006 with fictional products in order to insert them into a universe marked by transmedia. This article is the result of the author’s master research that aimed to understand how was the process of meaning construction between production and reception of the miniseries Afinal, o que querem as mulheres? (Globo, 2010). With this purpose, it analyzed the discourses from André Newmann weblog - protagonist of the plot.
Keywords: Brazilian miniseries, transmedia, character weblog.

49R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Introdução
O Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva (OBITEL) vem apontando, desde 2010, que o ato de assistir ficção televisiva tem sido marcado fortemente pela presença da Internet e, especialmente, das redes sociais. É em resposta
a essa nova conjetura nacional (e mundial) que a televisão brasileira tem desenvolvido estratégias – que chamaremos de estratégicas transmidiáticas (JENKINS, 2009) – a fim de acompanhar a mudança de hábito dos telespectadores.
Desde 2006, e mais fortemente em 2008, a TV Globo desenvolve projetos trans-midiáticos preocupada não apenas com o conteúdo e design dos sites das ficções, mas com a narrativa construída fora da televisão. Para isso, a emissora tem investido em novos formatos de sites, aplicativos para celular, páginas em redes sociais e blogs de personagens. Essa última prática ainda é pouco definida – em (constante) processo de consolidação como gênero discursivo – mas está presente, hoje, na maioria dos sites de ficções da TV Globo, de telenovelas a séries. O presente artigo é resultado de nossa dissertação de mestrado que pretendia compreender como são construídos os discursos em um blog de personagem, ou mais especificamente, no blog do personagem André Newmann da minissérie Afinal, o que querem as mulheres?1. O objetivo principal da pesquisa era entender como os telespectadores-internautas se colocam nesse espaço discursivo e como participam da narrativa transmidiática - e consequentemente televisiva - a partir do blog do protagonista da trama.
No presente artigo, no entanto, concentramos esforços em uma discussão teórica acerca do processo de transmidiação da ficção televisiva brasileira sob o ponto de vista dos blogs de personagem. Assim, ao longo do artigo, buscamos apontar as con-tribuições que esse elemento transmidiático oferece às narrativas ficcionais televisivas.
1 Minissérie exibida pela TV Globo entre 11/11 e 16/12/2010 (seis capítulos semanais). A ideia original da trama é do diretor Luiz Fernando Carvalho, escrita por João Paulo Cuenca com coautoria de Michel Melamed e Cecília Giannetti. A minissérie narra a história do psicanalista André Newmann (interpretado por Michel Melamed) que está finalizando sua tese de doutorado em psicologia na qual tenta responder à pergunta deixada por Freud: “o que querem as mulheres?”.

50B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
1 Hipertelevisão: interação e colaboração
Scolari (2008) afirma que a televisão é o marco comunicacional mais importante
do século XX. Não é preciso ir longe, no entanto, para perceber e afirmar que a televisão
faz parte da vida diária dos brasileiros. O período áureo da TV foi classificado por Eco
(1983 apud Scolari 2008) como período da paleotelevisão. Nos anos 1980, no entanto, a
televisão aberta teve que dividir seu espaço com os canais pagos, período da neotelevisão.
Uma década depois, a atenção da televisão seria dividida com os computadores e as
redes digitais e a periodização proposta por Eco passa a ser quase antiquada. Assim,
outros conceitos são necessários para tratar do novo. Scolari, seguindo a linha proposta
por Eco, nomeia esse momento da evolução midiática como hipertelevisão (outros
autores propõem o termo postelevisão). É um erro pensar, no entanto, que essas etapas
da televisão são sucessões fixas. A paleotelevisão segue viva na neotelevisão e na hi-
pertelevisão. No mesmo sentido, marcas da hipertelevisão poderiam ser encontradas
muito antes na neotelevisão.
Para Scolari (2008), as características principais dessa nova fase da televisão, hi-
pertelevisão, são: a multiplicidade de programas narrativos, em que as histórias se multiplicam
e se cruzam e não há mais personagens secundários e sim um denso e complexo tecido
narrativo (podemos pensar na trama das telenovelas brasileiras); a fragmentação da tela,
como em uma adaptação da interface da web para a TV (canais de notícia são bons
exemplos da “partição” da tela com o desenrolar de narrativas simultâneas); o ritmo
acelerado com a sucessão rápida de planos, histórias e movimentos; a intertextualidade
desenfreada exposta na citação, homenagem ou adaptação de textos; a ruptura da sequen-
cialidade, com o uso de flashbacks e flashforwards e, por fim, a extensão narrativa, talvez ca-
racterística essencial da hipertelevisão. As histórias televisivas passam a se transformar
em um macro relato, em universos narrativos que já não cabem mais em si, não se
esgotam ao final de uma temporada ou no final do capítulo, mas se estendem.
Cada uma das características da hipertelevisão pode ser analisada segundo
perspectivas diferentes, a nós cabe atenção especial à última distinção colocada por
Scolari, a da extensão da narrativa, para a qual nos apropriamos de Jenkins (2009) e
seus conceitos de transmedia storytelling.
2 Narrativa transmídia: o caminho da ficção televisiva na Internet
O conceito de transmídia é fundamental na compreensão do processo de
consumo dos telespectadores de ficção nacional na atualidade. A partir da perspectiva

51R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
transmidiática, colocamo-nos diante da questão de De Certeau - “[...] o que é que o consumidor fabrica com essas imagens e durante essas horas?” (DE CERTEAU, 2007, p. 93) – a fim de desvelar os discursos ensejados pela minissérie não apenas assistida, mas lida no espaço virtual. De tal modo, o blog do personagem André Newmann, além de estratégia transmidiática do produtor serve também como espaço para essa fabricação que pontua De Certeau.
É nesse espaço virtual que concepções como a de telespectador passivo, que “[...] perde seus direitos de autor, para se tornar, ao que parece, um puro receptor, o espelho de um ator multiforme e narcísico. [...] imagem de aparelhos que não mais precisam dele para se produzir” (DE CERTEAU, 2007, p.94), parecem distantes e bastante obsoletas.
O que De Certeau chama de fabricação pode ser aqui transposto como produção de sentidos, fenômeno intrínseco à enunciação, como apresenta Hall:
[...] É sob a forma discursiva que a circulação do produto se realiza, bem como sua distribuição para diferentes audiências. Uma vez concluído, o discurso deve então ser traduzido – transformado de novo – em práticas sociais, para que o circuito ao mesmo tempo se complete e produza efeitos. Se nenhum ‘sentido’ é apreendido, não pode haver ‘consumo’. Se o sentido não é articulado em prática, ele não tem efeito (HALL, 2006, p. 366, grifos do autor).
De acordo com Orlandi (1990), o homem está “condenado a significar”. Assim, no que tange a produção de sentidos, a contemporaneidade fortalece o rompimento dessa noção de um telespectador passivo no processo de consumo. Isso não significa que apenas agora o telespectador produza sentidos a partir da assistência, mas que o ciberespaço possibilita que essa produção seja compartilhada exponencialmente.
A infindável produção de sentidos leva-nos a pensar o ser humano com base em sua condição dialógica (BAKHTIN, 2010) que se constitui por meio de enunciados concretos a partir dos quais ganham vida os discursos. Para Bakhtin, o enunciado é a unidade real da comunicação discursiva e, por isso, não é produzido no vazio, mas na existência social. Dessa forma, os discursos, apesar de individuais, são construídos entre o eu e o outro, e a partir de um contexto histórico-social específico. São as situações sociais que determinam os discursos, assim, o ambiente da blogosfera se configura enquanto espaço discursivo.
Ademais, o blog aqui proposto como objeto de análise por circunscrever-se no ciberespaço já implica um espaço de trocas. O ciberespaço se configura enquanto espaço simbólico (LÉVY, 2001), não representável, sem forma, mas com dimensões oceânicas; espaço que serve como locus para trocas, também, simbólicas, principalmente no que diz respeito às práticas sociais de agrupamento, possibilitando novos ambientes de so-

52B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
ciabilidade, enunciação e autoria.Ao adentrarmos o ciberespaço podemos trabalhar com diversos objetos dentre
comunidades virtuais, redes sociais, fóruns e, por fim, os blogs. As autoras Balogh e Mungioli consideram os blogs de ficções televisivas como paratextos e dizem: “Na atualidade, poderiam ser incluídos entre os paratextos sites, blogs, redes sociais e plataformas para difusão de criações/recriações elaboradas com base nas telenovelas e minisséries” (BALOGH; MUNGIOLI, 2009, p.324). Trata-se não de cópias do produto televisivo, mas de um texto independente e complementar ao original. Esse processo é o que Jenkins (2009) caracteriza como transmidiação: uma colaboração de diversas mídias com um sistema narrativo específico, o que desencadeia a produção de narrativas trans-midiáticas. A transmidiação é facilitada pela mobilidade, portabilidade e interatividade das novas mídias que com essa ação propagativa potencializa a produção de sentidos.
Especificamente, a narrativa transmídia ou transmedia storytelling – desdobra-mento da transmidiação – é “uma história transmídia [que] desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor” (JENKINS, 2009, p.138). Uma obra já pode ser idealizada com a intenção de se espalhar por diversas mídias, tal qual ocorreu com a minissérie objeto desta pesquisa cujo blog de André Newmann mesmo antes da minissérie começar a ser exibida já estava ativo no ciberespaço.
Jenkins (2009) finaliza afirmando que cada meio faz o seu melhor. Assim, cada relato – seja em que meio for – é dono de um conteúdo autônomo o suficiente para ser consumido sem, necessariamente, estar atrelado de maneira dependente ao produto original. Trazendo este conceito para a minissérie Afinal, o que querem as mulheres?, Jenkins analisaria o blog de André Newmann como parte de uma transmedia storytelling por apresentar um conteúdo que pode ser acompanhado tanto por telespectadores da minissérie quanto por internautas interessados nos textos publicados no blog.
Não lidamos na contemporaneidade com adaptações simples de uma mídia para outra, mas com um processo de interatividade infinito entre as mídias. As histórias contadas não são as mesmas, mas contribuem umas com as outras na “[...] construção de uma narrativa transmídia global [...] dispersão textual [que] é uma das fontes mais importantes da complexidade da cultura popular contemporânea” (SCOLARI, 2009, p.587).
Por isso mesmo, pensar a atualidade exige mais que uma ciência determinada e fechada em si, mas uma ciência da complexidade. Essa exigência se coloca tendo em vista a sociedade atual – e em rede – e suas marcas dicotômicas definidas por equilíbrio

53R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
e desequilíbrio, ordem e caos, hierarquias e processos descentralizados, dicotomias múltiplas em transformação quase contínua. Dennis aponta que enxergar o mundo sob o ponto de vista da complexidade é compreendê-lo não como um amontoado de sequências, relações lineares entre as coisas, mas “[...] sobretudo como uma rede pluralista de relações amparadas em comportamentos dinâmicos, criativos e complexos que combinam um conjunto simples de regras ainda não-determinadas” (DENNIS, 2007, p. 140)2.
Talvez não estejamos falando em leis ou regras quando nos referimos, espe-cificamente, aos blogs, mas, claramente, em comportamentos dinâmicos, criativos e complexos. Dinâmicos no sentido de um blog ter como pressuposto a informalidade, a naturalidade, a escrita pessoal e, em resposta, comentários e interlocuções igualmente dinâmicos. Comportamentos criativos, em nosso contexto em especial, se referem à relação essencial do blog de um personagem fictício com sua trama matriz, no caso, a telenovela, um produto de criação autoral. Por fim, quando Dennis refere-se a compor-tamentos complexos, além de pensarmos nas interações estabelecidas no ciberespaço, atentamo-nos à interação da audiência com um personagem fictício.
Dennis, com base nas teorias de Urry3, avança sobre as questões da complexidade afirmando que presenciamos um “smooth world; desterritorializado, descentraliza-do, sem um centro de poder e sem fronteiras de separação” (DENNIS, 2007, p.141). Mais adiante, o autor segue com as colocações de Urry que afirma que tudo, na era da complexidade, é movimento, fluxos de informação, de pessoas, de bens, de capital todos passíveis de análise sob a perspectiva das ciências complexas. Ainda, poderíamos acrescentar à lista de fluxos as narrativas, aceitando-as como parte desse smooth world. Para tal, recorremos à teoria de Jenkins (2009) sobre a transmidiação, e mais especifica-mente a narrativa transmidiática.
Jenkins afirma que não vivemos apenas uma mudança tecnológica. Mais que isso, uma mudança cultural, industrial, mercadológica. Mudança de hábitos de consumo e de materiais de consumo. Vivemos na era da convergência midiática sintetizada por Jenkins (2009) logo na introdução de Cultura da Convergência:
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p.29).
2 As citações de Dennis (2007) são de tradução da autora.3 Urry, J. (2005) ‘The Complexities of the Global’, Theory, Culture & Society 22(5): 235-54.

54B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
Pensar no fluxo de conteúdos por diferentes mídias não caracteriza, por si só, a cultura da convergência. A migração por diferentes plataformas não é um fenômeno completamente novo visto que a televisão brasileira trabalha com esse tipo de migração desde seus primórdios, no entanto, o ciberespaço é capaz de potencializar e acelerar esses processos antes restritos às mídias tradicionais. A minissérie Afinal, o que querem as mulheres?, por exemplo, caminhou para o DVD, para o CD de trilha sonora, para os livros com os roteiros. Se tivesse sido adaptada para o cinema, teríamos a inserção de outra mídia, ou se ao invés da publicação dos roteiros na íntegra a edição impressa da minissérie fosse um livro apenas baseado na trama televisiva, novamente, estaríamos inscritos em outra mídia, em outro tipo de migração. Todas essas adaptações não são de exclusividade, ou inauguradas por Afinal, o que querem as mulheres?, mas têm acompanhado a televisão brasileira há décadas.
Motter (2004) pontua exemplos de usos que a telenovela fez, durante a sua história, de diferentes mídias. Haja vista as adaptações das histórias folhetinescas para as radionovelas; as doações, quando personagens da teledramaturgia serviam à publicidade; os empréstimos, quando personagens reapareciam em outra novela; as adaptações de obras literárias para a televisão; ou, ainda, o diálogo da teledramaturgia com o cinema.
Ao analisar a história da ficção nacional sob essa perspectiva é possível perceber a complexidade dos fluxos de conteúdos, e a fluidez do caminhar dessas narrativas por diferentes meios e caminhos. O que ocorre na atualidade é uma potencialização dos processos, antes restritos às mídias tradicionais, pela Internet. E mais que isso, hoje não lidamos com meras adaptações, traduções de um sistema de signos para outro, mas com a expansão de um relato. É como se as narrativas transmidiáticas fossem um processo centrífugo, explica Scolari, “[...] a partir de um texto inicial se produz uma espécie de big bang narrativo de onde vão se gerando novos textos até chegar aos conteúdos produzidos pelos usuários” (SCOLARI, 2011, p.130).
Enquanto alguns acreditavam que a convergência chegaria para aniquilar velhos meios ou que um único aparelho fosse capaz de convergir todos os aparatos dos quais dependemos, Jenkins defende que a cultura da convergência é muito mais do que isso: “Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substitui-riam as antigas, o emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais complexas” (JENKINS, 2009, p.33).
Não apenas a relação que estabelecemos com as novas e antigas mídias mudou com o advento das tecnologias de comunicação e da Internet, mas as noções de tempo e espaço. Vivenciamos novas capacidades de movimento e de deslocamento. Nesse

55R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
sentido, as noções de mobilidade são eixo para pensar o caráter fluido da narrativa e o acompanhamento dessa narrativa, que, em outros momentos, não seria possível. Para Lemos,
a mobilidade, em sua dimensão física (transporte de pessoas, objetos, commodities) e informacional (sistemas de comunicação), cria uma dinâmica tensa entre o espaço privado (a fixação) e o público (a passagem, a efemeridade), entre o próximo e o distante, entre curiosidade e apatia (SIMMEL, 1988). É nesse movimento que se produz a política, a cultura, a sociabilidade, a subjetividade (LEMOS, 2009, p.28).
O trecho exposto reitera aquilo que Dennis (2007) lista como as dicotomias de nosso tempo complexo: o público e o privado, o próximo e o distante, a curiosidade e a apatia que resultam em relações complexas e compõem isso que nomeamos de smooth world. A particularidade dessas antíteses sustenta o fluxo da narrativa transmi-diática que não depende somente do polo de emissão de mensagens, mas do processo posterior. Assim, os usuários, e não apenas a produção, são essenciais no processo de transmidiação. É para os usuários que as ações de transmidiação são idealizadas e, mais do que isso, são os usuários que sustentam a vitalidade da narrativa. O sucesso da transmedia storytelling está baseado na capacidade dessa narrativa de se desdobrar, se espalhar. Esse transbordamento pode ser facilitado pela socialização da narrativa feita pelos próprios usuários.
As reconfigurações de tempo também estão na gênese dos produtos transmi-diáticos de ficções televisivas. O tempo da ficção televisiva no Brasil é marcado como um espaço de socialização entre os pares mais próximos, como a família, represen-tando um momento de encontro no dia. Com o espraiamento da narrativa televisiva pelo ciberespaço o tempo se relativiza. Não há apenas um único horário dedicado à assistência da telenovela, mas múltiplos horários, determinados pelo próprio usuário. É o que a rede NBC chamou de entretenimento 360º e a ABC, de TV expandida4; a mudança da televisão com hora marcada para a televisão do envolvimento, aquela que o espectador pode acompanhar pelos caminhos que percorrer.
Sobre essa constatação, na linha do que defende Dennis, temos que “a mudança tecnológica está alterando fundamentalmente como uma pessoa se localiza no tempo, espaço e meio ambiente. [...] Os avanços na computação tiraram as relações sociais de um lugar fixo” (DENNIS, 2007, p.146). E essas relações distantes de um local fixo são as relações dadas, em nosso caso, no blog de André Newmann entre três interlocutores: o te-lespectador-internauta, a narrativa transmidiática da minissérie e o personagem André.
4 C.f. p.169. JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009.

56B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
3 A empreitada virtual da TV Globo
Como resposta a um processo que já havia tomado forma em países como os EUA, no Brasil, a TV Globo passou a oferecer aos seus espectadores novos tipos de narrativas que tivessem a transmidiação como eixo. O primeiro projeto da TV Globo nesse sentido foi colocado em prática em 2008 com a soap opera Malhação e se chamou, na época, “projeto de Internet”. A ideia era reunir em uma única página diferentes formatos audiovisuais. A boa acolhida ao projeto-piloto resultou na criação de um setor, dentro da Central Globo de Comunicações que se dedicasse exclusivamente aos projetos transmídia do canal5.
Ao se pensar em produzir extensões transmidiáticas para determinada ficção televisiva, é essencial preservar a narrativa principal, ou seja, mesmo que haja várias plataformas contando diferentes partes de uma mesma história, o sentido não deve se perder. Isso quer dizer que, apesar de sua extensão, a narrativa matriz deve ser preservada. Jenkins afirma: “cada vez que deslocam um espectador, digamos, da televisão para a Internet, há o risco de ele não voltar mais” (JENKINS, 2009, p.47). Que grande risco correr: perder a audiência televisiva? Angariar fãs no espaço virtual? Jesse Alexander, produtor executivo da franquia da série norte-americana Heroes, diria que “temos que atender a audiência da TV primeiro e nos certificar de que eles estão entendendo o que se passa, de que podem sintonizar o programa e entendê-lo. Mas queremos agregar valor aos fãs mais dedicados, que desejam se aprofundar no seriado” (JENKINS, 2009, p.170).
A possibilidade de agregar valor aos seus produtos televisivos levou a TV Globo a pensar em diversas estratégias diferentes para cada um de seus formatos de ficção. Em 2008, o primeiro projeto transmídia era pensado, mas já em 2006 a emissora “[...] destaca[va]-se pelo uso da Internet disponibilizando conteúdos de suas obras de ficção em seu portal na web. Cada produto televisivo possui[a] uma página própria na Internet” (MÉDOLA; REDONDO, 2009, p.155).
Historicamente, o panorama virtual do canal não sofreu grandes alterações. Em acompanhamento anual feito pelo OBITEL (Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva), em 2009, “a TV Globo foi a principal emissora a criar produtos ficcionais envolvendo a transmidiação” (LOPES et al., 2010, p.169) e todas as ficções da emissora possuíam sua própria página oficial na Internet.
Passou-se a observar certa padronização nos sites das ficções com o uso de
5 Dados obtidos em palestra de Alex Medeiros, gerente de desenvolvimento de formatos da Central Globo de Produções, no III Encontro OBITEL nacional de pesquisadores de ficção televisiva no Brasil realizado em São Paulo em novembro de 2011.

57R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
um menu básico de opções para navegação que inclui, entre outros links; acesso para episódios, perfil dos personagens, créditos, galeria de fotos e notícias da trama. Com o passar dos anos e o aprimoramento da prática do pensamento transmídia, alguns padrões foram sendo criados: as páginas das telenovelas são mais complexas e apresentam jogos, vídeos exclusivos para a Internet, enquetes, bolões, seções como a Fique por dentro6 etc.
O conteúdo oferecido ao espectador na Internet, no entanto, não interfere diretamente na trama exibida na televisão. A assistência de vídeos exclusivos ou a leitura das dicas de moda das personagens não comprometem a experiência narrativa televisiva, “[...] o ponto essencial é que um envolvimento mais profundo continua sendo opcional – algo que os leitores decidem fazer ou não –, e não o único modo de extrair prazer das franquias midiáticas” (JENKINS, 2009, p. 186). O conteúdo oferecido pela TV ainda é o mais essencial nesse processo, o desenrolar das narrativas é resultado do interesse dos telespectadores e não definem as tramas televisivas.
3.1 O site de Afinal, o que querem as mulheres?
Desde 2006, de acordo com Médola e Redondo (2009), a TV Globo disponibi-liza um site para cada uma de suas ficções em seu portal. As páginas das telenovelas costumam seguir um padrão proposto pela telenovela anterior, enquanto os sites das séries e minisséries, geralmente, são mais diversificados em questões de estrutura e mesmo de oferta de links. Diferente de outras emissoras estudadas pelos autores,
a Rede Globo destaca-se na confecção desses sites. Todas as suas narrativas ficcionais veiculadas na TV têm uma página própria e com conteúdo específico, não apenas para diferenciar um produto do outro, mas principalmente para atender às demandas da segmentação dos diferentes públicos (MÉDOLA; REDONDO, 2009, p.160).
Frente a essa colocação, a passagem de Scolari, abaixo, apoia esse processo na aceitação de que “[...] se cada texto gera seu leitor [...], por extensão, cada interface constrói seu usuário” (SCOLARI, 2008, p.225). Isto posto, a apresentação do site de Afinal, o que querem as mulheres?7 permite pensar como se dão os processos de interação nesse espaço.
Não apenas as ficções dirigidas por Luiz Fernando Carvalho possuem elementos inovadores, mas também os sites dessas produções. Há por parte do diretor
6 Dicas de moda das personagens da trama, download de papel de parede, trilha sonora etc.7 Disponível em http://especial.afinaloquequeremasmulheres.globo.com/

58B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
uma atenção especial ao prolongamento das narrativas na Internet. Um bom exemplo é o da minissérie Capitu (2008)8 para a qual a TV Globo, em parceria com a agência LiveAD, idealizou o projeto “Mil Casmurros”9. Em 2009, o projeto foi premiado com o Leão Relações Públicas, na categoria Novas Mídias, no Festival Internacional de Publicidade de Cannes.
A criação do blog de André Newmann também sinaliza a preocupação de Luiz Fernando Carvalho e da emissora em cortejar esse novo telespectador-internauta e lhe oferecer novas possibilidades de interação com a trama, além de um mero site com informações técnicas. Assim como os outros sites das ficções da TV Globo, a página oficial de Afinal, o que querem as mulheres? é hospedada pelo portal da Rede Globo.
Na página principal, o layout apresenta as ilustrações da abertura da minissérie (do artista Olaf Hajek), além de outras imagens e símbolos que, novamente, remetem ao feminino. Assim como na abertura da minissérie, no site as ilustrações não são estáticas: os ramos das flores se iluminam e emitem sons semelhantes a correntes elétricas como se fossem terminações nervosas – ou, mais especificamente, sinapses – do próprio Freud; as pernas femininas se balançam; a borboleta no canto esquerdo bate as asas e a pedra preciosa, na parte superior, parece sangrar (Figura 1). Essa reunião de movimentos e imagens ainda é acompanhada por um ruído de várias vozes, como em um burburinho que pode ser silenciado quando o internauta clica na imagem de toca-discos e dá início à execução da música “Nome à pessoa”, tema da trama. Também é interessante a possibilidade do internauta de “arrastar” o site, como se as ilustrações não tivessem fim.
Figura 1. Página inicial do site da minissérie
8 O site da minissérie Capitu ainda está no ar (http://capitu.globo.com/Capitu/0, 16142,00. html), mas não é mais possível acessar a página do projeto “Mil Casmurros”.9 Leitura coletiva de Machado de Assis; o livro Dom Casmurro foi divido em mil trechos e os internautas podiam selecionar um deles para fazer uma gravação de sua leitura e disponibilizar no site. A intenção era que ao final do projeto o livro completo estivesse disponível em vídeo e áudio na página.

59R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Em questões de interatividade, Lopes et al (2009) definem três diferentes formas
interativas possíveis:
1) interatividade passiva: quando o usuário consome o conteúdo sem apresentar um feedback. Ele clica nos links, navega pelas páginas de forma silenciosa, sem fazer notar sua presença; 2) interatividade ativa: o usuário dá uma resposta a um estímulo, dado apenas dentro das próprias condições oferecidas pelo emissor. [...]; 3) interatividade criativa: o receptor, no caso, o usuário/internauta, passa a emitir conteúdo, criando algo novo a partir daquilo que lhe foi dado. Estimulado pelo produtor de conteúdo a emitir uma resposta, o internauta produz, transpondo a condição de receptor e alcançando a de emissor (LOPES et al, 2009, p. 415).
No site de Afinal, o que querem as mulheres? – assim como nos de outras ficções da TV Globo – há predomínio da interatividade passiva, ou seja, quando a única ação possível para o internauta é navegar pelos links. Ao acessar as páginas Bastidores ou A série, por exemplo, o internauta pode ler notícias sobre a minissérie ou ver fotos da gravação. Não há possibilidade de comentar algo ou participar de alguma ação mais efetivamente.
A seção O que querem as mulheres? que abriga duas enquetes, por sua vez, poderia ser classificada como um espaço de interatividade ativa. Nessa página, o internauta responde, mesmo que restritamente, ao estímulo da enquete assinalando alternativas propostas. Já o nível mais pleno de interatividade na rede representado pela interatividade criativa pode ser encontrado nos blogs de personagens que, como o de André Newmann, disponibilizam espaço para comentários. Assim, os internautas não navegam de forma silenciosa, mas são convidados a participar da construção de narrativas virtuais.
4 Blog: delineando um objeto em mutação
Afinal, o que é um blog? Há muitos autores, estudiosos da Cibercultura, que se detêm a compreender as mudanças que os blogs implicam na experiência virtual dos internautas. Igarza (2008) acredita que a ação de “blogar”, ou o que o autor chama de blog-ging, sugere novas maneiras de os internautas lidarem com a rede. Nas palavras do autor,
[...] o blog-ging é um fenômeno de época. Nesta era digital - que se evidencia pela interatividade dos objetos, materiais e virtualidades - se ajusta a perspectiva de uma crescente quantidade de usuários que parecem preferir [...] expressar os seus pontos de vista, criar seu

60B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
próprio conteúdo e compartilhá-lo na rede, em vez de manter um perfil tradicional de leitores passivos (IGARZA, 2008, p.211).
O autor defende a aceitação dos blogs como uma resposta ao nosso tempo. Quase como em um pensamento geracional, a Internet começa a vivenciar um período em que o verbo participar é imperativo. Passado o momento de “desconfiança” frente aos adventos da Internet, os novos internautas valorizam e fazem uso constante de ferramentas da web que facilitem a participação ativa. Ainda de acordo com esse autor,
o passado da Internet, com a explosão da bolha e as decepções que se seguiram, condenaram a rede a certos usos limitados. As estratégias apontavam que os usuários rejeitavam a dimensão participativa que potencializava a interatividade. Os blogs sugerem que a fase da era digital em que nos encontramos é compatível à evolução das novas gerações de internautas que, conscientes da contribuição da interativi-dade, esclarecem dúvidas acerca das formas mais eficientes de adotar a participação na rede (IGARZA, 2008, p.211).
Esses internautas “conscientes da contribuição da interatividade” foram parte responsável pelo surgimento e amadurecimento de novas e diversificadas práticas na web. Os blogs, apesar de estrearem na rede em 1997, fazem parte desse caráter geracional e mutável da era digital.
Os blogs, inicialmente, eram listas ou filtros da Internet; os usuários apenas reuniam em seus weblogs o endereço de páginas que visitavam. Jorn Barger foi o primeiro a pensar no termo ao construir um site que reunia links e comentários sobre suas navegações na rede em 1997 (TRASEL, 2009). Essa atividade foi descrita por Barger como “logging the web”, que poderia ser entendida como “arquivar a Internet”, ou ainda,
a partícula ‘log’ remete aos diários de navegação, em que os capitães informam as latitudes e longitudes [...]. O objetivo principal dos autores pioneiros era guardar um arquivo de referências interessantes numa época em que as ferramentas de busca ainda eram muito pouco desen-volvidas (TRASEL, 2009, p.94).
A atividade de “logging the web” realizada pelos internautas no final da década de 1990 nada mais era que uma catalogação, um diário de bordo, do que havia naquele mar de sites desconectados entre si.
Até então, os blogs – assim como os websites - eram de exclusividade daqueles que conheciam a linguagem hypertext markup language (HTML). A utilização ainda limitada da linguagem restringia estruturalmente a construção dos sites que em nada se diferenciavam dos weblogs da época. “Talvez por conta dessa semelhança”, apontam

61R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Amaral, Recuero e Montardo, “[...] autores como David Winer considerem como o primeiro weblog o primeiro site da web, mantido por Tim Berners Lee. O site tinha como função apontar todos os novos sites que eram colocados no ar” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.28).
Em 1999, a Pyra Labs lança o Blogger, uma das primeiras ferramentas para criação e publicação de blogs. A vantagem dessa ferramenta foi
[...] permitir a veiculação de conteúdo por meio da automação do processo de edição em linguagem HTML e transferência dos arquivos para servidores da web. Isso significou maior simplicidade e rapidez na publicação e eventual edição do conteúdo do blog (TRASEL, 2009, p.100).
É a partir da quebra da barreira técnica antes imposta pelo conhecimento do HTML que os blogs se popularizam entre os usuários da rede. O Blogger ofereceu ao internauta não apenas facilidade para a criação de um blog, mas para sua manutenção e atualização. A difusão da ferramenta deu origem a diferentes práticas, entre elas a do blog como diário virtual (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009 e LEMOS, 2002).
Na definição de Lemos, os blogs – também chamados pelo autor de ciberdiários ou webdiários - “[...] são práticas contemporâneas de escrita on-line, onde usuários comuns escrevem sobre suas vidas privadas, sobre suas áreas de interesse pessoais ou sobre outros aspectos da cultura contemporânea” (LEMOS, 2002, p.3).
Quinze anos após a criação dos blogs, o desenvolvimento das ferramentas para publicação tem facilitado a criação de páginas com diferentes formatos o que, por consequência, permite diferentes usos dos blogs. Hoje, autores como Primo (2008), Trasel (2009), Amaral, Recuero e Montardo (2009) questionam a restrita definição que se dá aos blogs. Nas palavras de um dos autores:
[...] o uso da interface de blogs para a escrita íntima e sigilosa é apenas um entre tantos processos interativos possíveis na blogosfera. Logo, definir-se blogs como diário íntimo online ou mesmo como página pessoal (o que excluiria as produções grupais e organizacionais) é capciosa e reducionista (PRIMO, 2008, p.122)
No Brasil, por anos a ideia de blog estava atrelada aos diários virtuais de adolescentes, escritos em tom confessional com textos tidos como frívolos. As utilizações de um blog, no entanto, estão além de somente como diário virtual. Apenas quando grandes portais, em especial os jornais on-line, começaram a criar blogs para seus jornalistas é que a interface conseguiu ocupar um local de prestígio na Internet (TRASEL, 2009, p.96).

62B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
A aceitação dos blogs como uma ferramenta da web disponível para múltiplos usos caracteriza o que Trasel (2009) chama de a “era de ouro dos blogs”. Como resultado da aceitação, instaura-se uma crise na definição dos blogs: se blogs não são (apenas) diários online, o que são eles? Um diário on-line continua sendo um blog? Como identificar um blog?
Para amenizar a fragilidade do blog como objeto de estudo científico – por conta da imprecisão na definição do objeto – os teóricos que versam sobre o assunto dividem-se em três correntes classificatórias. O primeiro grupo de autores identifica os blogs estruturalmente. Para esses teóricos a questão “como identificar um blog?” teria como resposta uma identificação feita pela estrutura do website. O layout de um blog é fixo, os textos são datados e organizados em ordem cronológica reversa (ou ordem cronológica decrescente), com o mais atual no topo da página e as atualizações, se não diárias, frequentes. Por anos, o espaço para comentários dos leitores foi também carac-terística exclusiva dos blogs (AMARAL, RECUERO, MONTARDO, 2009; LEMOS, 2002; PRIMO, 2008; TRASEL, 2009). Portanto, para os autores “estruturalistas” dos estudos de blogs, identificar os aspectos visuais de um site é o suficiente para categorizá-lo como um blog.
O segundo grupo de teóricos defende o conceito funcional dos blogs. Sob essa perspectiva, os blogs são vistos “[...] a partir de sua função primária como meio de comunicação [...]. [O grupo de autores] considera weblogs uma mídia, [...] pelo seu caráter social, expresso através do seu caráter conversacional” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.30). Nesse grupo, as questões de gênero estão fortemente presentes nas discussões. Mas, por ora, o espaço para comentários dos internautas seria aquilo que encaixaria um site na categoria de blogs.
Por último, outro grupo de autores trabalha com o conceito de blog como artefato cultural, definindo-o como um depósito capaz de criar repertórios de significados com-partilhados, ou seja, como um “repositório das marcações culturais de determinados grupos e populações no ciberespaço, nos quais é possível, também, recuperar seus traçados culturais” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.32).
As definições de blog segundo sua estrutura ou seu funcionamento comple-mentam-se na medida em que versam sobre o blog como ferramenta. Para Amaral, Recuero e Montardo, “a percepção do blog como ferramenta é, no entanto, proposital-mente genérica, pois objetiva abranger todos os usos que alguém pode fazer do sistema, que são classificados como gêneros por diversos autores” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.31).
Marcuschi (2005) é um dos autores que trabalha com a noção do blog como um

63R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
gênero digital. Essa afirmação é resultante da aceitação do blog como dono de sua própria história, estrutura e função específica. Marcuschi se ampara nas teorias que conceituam os gêneros como fenômenos sociais e históricos, como formas sociais de organização e expressão da vida cultural. Mesmo sob o ponto de vista bakhtiniano, os blogs poderiam ser pensados de acordo com os gêneros discursivos uma vez que apresentam “[...] tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2010, p.262), do ponto de vista estilístico e composicional, além de estarem situados histórica e socialmente.
Ainda, se tomarmos Bakhtin como ponto de referência para a afirmação de Marcuschi, os blogs são campos de utilização da língua, esferas da atividade humana que organizam de forma distinta seus enunciados, e, por consequência, exigem a utilização de um gênero, conhecido ou não dos falantes.
A nossa perspectiva de análise frente aos blogs de personagens será estrutural. Isso porque as páginas desenvolvidas para os personagens de ficção televisiva são, a partir de sua estrutura, inegavelmente blogs: os textos são organizados de maneira cronológica reversa, com o mais atual no topo da página; há espaço para comentários; o layout é simples e fixo etc. Por isso nos amparamos na definição estrutural: reconhecemos o formato, mas o uso feito dele é completamente novo. É esse ponto de vista que defendem Amaral, Recuero e Montardo ao enfatizar que o “conceito estrutural, [...], permite apreender se o blog enquanto formato, abrindo se para múltiplos usos e apropriações” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.33). São essas apropriações e usos que nos interessam e configuram o novo fazer televisivo no Brasil, um fazer televisivo que não está mais estritamente relacionado à televisão.
As perspectivas estrutural, funcional e de artefato cultural dedicam-se aos estudos de blogs por caminhos diferentes. O viés que norteia nossa pesquisa – conceito estrutural – se faz coerente na medida em que possibilita enxergar os blogs de personagens livremente de acordo com o uso que se faz da ferramenta. Portanto, autores que buscam conceituações mais específicas sobre as categorias, gêneros e formatos dos blogs são necessários. Para versar sobre, Primo nos aponta que os conceitos sobre gêneros dos blogs não contemplam “[...] a heterogeneidade das práticas na blogosfera” (PRIMO, 2010, p.130). Não cabe mais classificar os blogs apenas como diários pessoais na Internet, com uma escrita autobiográfica remetida ao público jovem. Hoje, o gênero dos blogs é variado abarcando diversos estilos de escrita e de objetivos de publicação o que, não aleatoriamente, conversa com a teoria de Bakhtin sobre os gêneros do discurso: dada à atividade intensa e recente do homem no ciberespaço, múltiplos tipos de blogs são observados.
É preciso que fique claro que blogs são meios de comunicação. [...] Logo, definições que caracterizem blogs, por exemplo, por produção

64B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
individual, de tom confessional, por uma determinada faixa etária, não passam de postulados generalistas. São, portanto, visões essencialis-tas que, no fundo, servem apenas a intenções normativas (que visam impor como blogs deveriam ser) ou a críticas fáceis (como blogs nunca têm credibilidade). (PRIMO, 2010, p.135).
Para evitar esse equívoco classificatório, Primo (2010) apresenta dezesseis diferentes tipologias para os blogs. Quatro são as principais: blog profissional, pessoal, grupal e organizacional. Cada um desses tipos de blogs são, ainda, classificados de acordo com os gêneros: autorreflexivo, informativo interno, informativo e reflexivo.
A partir dessa classificação, a noção de blog como um diário pessoal revela suas limitações. Os que viam os blogs apenas como produção individual passam a aceitar sua estrutura dinâmica que permite a construção do espaço por um grupo de pessoas ou uma empresa. Ainda, a atualização do conteúdo não é restrita à intimidade, mas os blogs podem tratar de temas diversos desde confessionais até institucionais.
Nos termos de Primo, os dezesseis gêneros de blogs listados em sua pesquisa foram identificados a partir das condições de produção, impacto de condicionamento profissional e estilo dos textos. O primeiro deles é o blog profissional, que segundo o autor, “[...] é escrito por uma pessoa com especialização em determinada área, na qual atua profissionalmente, cujos posts enfocam justamente essa atividade” (PRIMO, 2010, p.131). Nesses casos, o blog é a voz de um especialista. Os blogs profissionais se dividem em outros quatro gêneros: profissional autorreflexivo, profissional informativo interno, profissional informativo e profissional reflexivo.
Há também o blog grupal, aquele produzido por duas ou mais pessoas com interesses comuns. As atualizações, os textos publicados, são geralmente individuais e creditadas a um autor específico do grupo visto que, apesar do tema comum, as opiniões dos blogueiros10 não são sempre consensuais. O mais importante, de acordo com Primo, em um blog grupal “[...] é o convívio dos participantes e a troca de informações” (PRIMO, 2010, p.138). Assim como os blogs profissionais, os grupais dividem-se igualmente nos outros quatro gêneros citados.
Os blogs organizacionais, por sua vez, apesar de grupais são identificados pelas restrições de publicações e interações. Enquanto nos blogs grupais há espaço para a opinião dos autores, nos organizacionais tudo o que é exposto deve ser entendido como a voz da empresa e não a de sujeitos particulares. Assim como os anteriores, os blogs organizacionais também se subdividem nos quatro gêneros autorreflexivo, informativo interno, informativo e reflexivo.
10 Tradução para o termo blogger que se refere ao autor/criador de weblogs.

65R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
O gênero de blogs pessoais, proposto por Primo, é o que mais nos interessa na
presente pesquisa visto ser aquele que, por ora, caracteriza os blogs de personagens de ficção televisiva. Nas palavras do autor,
[...] blogs pessoais serão aqui compreendidos como um, e apenas um, dos possíveis tipos de blogs. [...] As principais motivações que movem o blogueiro são o prazer de expressar-se e interagir com os outros. De toda forma, não se pode aceitar a proposta de que estes blogs se caracterizam necessariamente pela espontaneidade e sinceridade. [...] Um blog pessoal pode ser assinado pela identidade fictícia de um blogueiro (o chamado fake), constar de histórias ficcionais, rumores, piadas ou até mesmo funcionar como um repositório de informações encontradas em outros sites (PRIMO, 2010, p.135).
Assim como os outros gêneros, os blogs pessoais também são classificados em autorreflexivo, informativo interno, informativo e reflexivo. Um blog pessoal autorrefle-xivo é aquele “[...] voltado para a manifestação de opiniões e reflexões pessoais sobre si, sobre os outros e sobre sua vida cotidiana” (PRIMO, 2010, p.136). Possivelmente, de acordo com Primo, esse gênero é o mais comum na blogosfera.
Por sua vez, o gênero do blog pessoal informativo interno é aquele em que os posts “[...] dedicam-se principalmente ao simples relato das atividades do blogueiro (projetos pessoais, passeios, eventos sociais etc.)” (PRIMO, 2010, p.137). Nesse gênero, o autor do blog não escreve sobre seus anseios, opiniões ou críticas como no autorreflexivo, mas narra aquilo que viu ou fez, como nos blogs de viagens, ou de brasileiros que residem no exterior.
Blogs pessoais informativos são aqueles em que o autor do blog cria um espaço de armazenamento, como uma coleção de imagens, textos e vídeos. Primo afirma que esse estilo de blog “[...] pode servir como repositório de informações para uso futuro ou simplesmente para compartilhar os interesses atuais do autor” (PRIMO, 2010, p.137). Atualmente, a ferramenta Tumblr11 tem sido usada com essa função: reunir (e compartilhar) conteúdos que o autor do blog encontra por suas navegações na rede.
Por fim, o gênero pessoal reflexivo caracteriza blogs temáticos, nos quais o autor opina sobre notícias da mídia ou analisa criticamente produtos culturais. Nesse gênero, a reflexão do autor não está voltada para si, como no pessoal autorreflexivo, mas para fora.
Os gêneros propostos por Primo, por um lado evidenciam uma dificuldade – tanto para os internautas quanto para os pesquisadores – em categorizar os blogs
11 O Tumblr., assim como o Blogger, é uma ferramenta virtual que possibilita a criação e atualização de blogs na Internet. O Tumblr. foi criado em 2007 por David Karp e hoje já soma mais de 60 milhões de usuários.

66B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
por conta das apropriações feitas da ferramenta. Por outro, enfatizam a mutação dos blogs, que idealizados como diários de navegação, hoje, são apropriados de múltiplas formas. É aquilo que Amaral, Recuero e Montardo defendem ao explicar que ”[...] o blog é uma personalização de seu autor que é expressa a partir de suas escolhas de publicação” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.33), não há regras para a apropriação desse espaço, há sim a disponibilização de uma ferramenta democrática e acessível. Exatamente aquilo que Tim Berners-Lee vislumbrava ao idealizar os princípios igualitários da Internet: “qualquer pessoa poderia compartilhar informações com qualquer um, em qualquer lugar” (BERNERS-LEE, 2010).
5 Blogs de personagens
Os estudos de blogs, hoje, mesmo 15 anos após sua inserção na web ainda se concentram em discussões de definições e categorias. Enquanto a discussão primária caminha cada vez mais para a generalização como aponta Trasel (2009) para quem devemos “[...] iniciar um debate que leve a um conceito o mais atemporal e independente da tecnologia possível” (TRASEL, 2009, p.93), uma nova questão se coloca desde 2006: e os blogs de personagens, o que são? Como categorizá-los?
A inserção dos blogs de personagens nos projetos das ficções televisivas nacionais gera uma nova discussão no que diz respeito aos formatos e, sobretudo, gêneros dos blogs. Essa questão será levantada em nosso trabalho, como um índice daquilo que acontece nos últimos anos na televisão brasileira e, ainda, daquilo que os estudos de Comunicação precisam acompanhar e compreender.
Os blogs de personagens, especificamente na TV Globo, começam a fazer parte de uma estratégia transmidiática da emissora em 2006 com o blog das protagonistas, Piti e Belinha, da série Sob Nova Direção. O espaço, intitulado Blog das Meninas, funciona como “[...] um diário onde são expandidas as histórias dos episódios e criadas novas situações” (MÉDOLA; REDONDO, 2009, p.159). Os blogs ocupam a função de espaço para conversa entre o personagem e o telespectador. A essência do que o blog representa na web “[...] consiste em suportes para a comunicação mediada por computador, ou seja, permite a socialização on line de acordo com os mais variados interesses” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p.35-36). É nesse sentido que os blogs de personagens se colocam como novas interrogações dentro da problemática dos estudos de blogs ou mais especificamente da transmidiação da ficção televisiva: quais os interesses e como funcionam os blogs de personagens? Como o personagem lida com essa conversa? E como o telespectador, por sua vez, responde?

67R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Em 2009, tem-se o registro do uso de blog também em uma telenovela, Caminho
das Índias12, em que o blog do personagem Indra foi “[...] um bom exemplo de criatividade que, para além da relação entre as duas mídias, permite também o trânsito entre a ficção e o cotidiano do telespectador-usuário” (LOPES et al. 2009, p.415).
No mesmo ano, de acordo com Lopes et al. (2009), outras ficções como [email protected], Malhação, Três Irmãs e Aline também lançaram mão dos blogs. O destaque do ano coube ao blog Sonhos de Luciana, da personagem homônima da telenovela Viver a Vida13. O blog foi a primeira experiência da TV Globo com espaço aberto para comentários14. Na trama, Luciana, após um grave acidente, fica paraplégica e passa a viver em uma cadeira de rodas. O blog servia como um espaço para relatos do seu dia a dia, confidências em relação aos capítulos da telenovela e mesmo para disponibilizar entrevistas com os médicos da trama. Durante as cenas da telenovela, Luciana aparecia escrevendo para o seu blog ou ainda produzindo conteúdo para o mesmo.
No total foram 85 posts no blog Sonhos de Luciana que chegavam a ter até 500 comentários cada um. De acordo com Alex Medeiros, gerente de desenvolvimento de formatos da Central Globo de Produção, havia moderação dos comentários no blog para evitar que palavras de baixo calão e mesmo comentários ideologicamente divergentes dos da TV Globo fossem publicados.
A construção de um blog de personagem e mesmo de um site de telenovela exige coerência: não deve haver conflito ou contraste entre aquilo que está no mundo virtual e o que está no ficcional. Todos os produtos direcionados para a web devem estar subordinados ao autor da telenovela. Além disso, não são todos os personagens que podem manter um blog: a ideia central é o desenrolar da narrativa, o aprofunda-mento e mesmo o transbordamento das histórias. Portanto, o personagem deve ter algo novo para contar ou assuntos para aprofundar. Caso contrário, o blog seria uma versão escrita dos capítulos da telenovela e em nada acrescentariam à trama, deixando de lado sua função de componente de uma narrativa transmídia.
Obviamente, não é toda a parcela da audiência que chega até os blogs, até essa extensão da narrativa televisiva. Poderíamos levantar as problemáticas da faixa etária, da falta de acesso à Internet e mesmo da falta de interesse. Assim, sabendo que “nem todo mundo está globalizado: as redes conectam e desconectam ao mesmo tempo” (CASTELLS, 2008, p.81)15. Talvez a grande vantagem da transmedia storytelling nesse
12 Caminho das Índias foi exibida de 19/01 a 11/09 de 2009 às 21h. Telenovela escrita por Gloria Perez e dirigida por Marcos Schechtman e Marcelo Travesso.13 Viver a Vida foi ao ar entre 14/09/2009 e 14/05/2010, às 21h. Telenovela escrita por Manoel Carlos e dirigida por Jayme Monjardim e Fabrício Mamberti.14 Dados obtidos em palestra de Alex Medeiros, gerente de desenvolvimento de formatos da Central Globo de Produção no III Encontro OBITEL nacional dos pesquisadores de ficção televisiva no Brasil (21 e 22/11/2011).15 Tradução da autora.

68B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
sentido seja o balanço que há nessa desconexão: a parcela da audiência que não está conectada, não perde a narrativa. A discussão não se restringe ao ciberespaço, mas transborda para ele, encontra no ciberespaço um apoio para a proliferação de seu relato. Portanto, a despeito de outros produtos, ou espaços de discussão, pensados exclusiva-mente para o ciberespaço, a transmedia storytelling permite que a narrativa principal não se perca e seja o original sustento de todas as outras.
Após a experiência com Sonhos de Luciana, a telenovela Ti-Ti-Ti não apenas aderiu aos blogs de personagens, mas também traçou o desenrolar da trama com base em eventos ocorridos no espaço virtual. No site oficial de Ti-Ti-Ti: “a web foi uma grande aliada de Ti-Ti-Ti, quase como se fosse mais um personagem. Foi através de Internet que muitos barracos começaram e muitos segredos foram revelados”16. A telenovela, que narrava os bastidores do mundo da moda, além de concentrar em sua página oficial o site das revistas de moda da trama também hospedou o blog dos estilistas Jacques Leclair e Victor e da jovem Mabi Spina (que assinava os posts do blog sob o pseudônimo de Beatrice M.).
Desde então, o uso de blogs tem sido recorrente entre as ficções da TV Globo. Vê-se, no entanto, que não há uma regra sobre a abertura de comentários: alguns blogs mantêm o espaço disponível para o telespectador deixar sua mensagem enquanto em outros há apenas os textos do personagem, sem espaço para comentários. De acordo com Alex Medeiros17, a liberação dos comentários é pontual. Cada ficção é analisada quanto à necessidade de deixar o espaço de comentários aberto ou não para os internautas.
Por fim, apesar do caráter ainda experimental dos blogs de personagens (não no sentido estético ou estrutural, mas no que tange ao diálogo com os espectadores) esse novo tipo de relação com o produto televisivo salienta a atenção especial dada pela TV Globo à expansão da narrativa para o ciberespaço. Essas novas estratégias configuram fenômenos que findam na “criação de novos espaços de comunicação e socialização” (LOPES et al. 2009, p.405).
Quando a produção de uma ficção televisiva disponibiliza um espaço como o do blog, tem a intenção de reunir o público telespectador em um lugar comum. Em outras palavras, “com o ciberespaço, as pessoas podem formar coletivos mesmo vivendo em cidades e culturas bem diferentes. Criam-se assim territorialidades simbólicas” (LEMOS, 2008, p.139). No entanto, é necessário um local propício para a reunião de internautas. Os blogs surgem como o espaço ideal para a formação dessas territoriali-
16 Disponível em < http://tvg.globo.com/novelas/ti-ti-ti/Fique-por-dentro/noticia/2011/03/web-foi-uma-das-grandes-aliadas-de-ti-ti-ti.html> Acesso em 15/06/2012.17 Dados obtidos em palestra de Alex Medeiros, gerente de desenvolvimento de formatos da Central Globo de Produção no III Encontro OBITEL nacional dos pesquisadores de ficção televisiva no Brasil (21 e 22/11/2011).

69R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
dades simbólicas, uma vez que desconstroem a noção de sites rígidos em que não há possibilidade de participação.
Diferente do site da emissora, ou dos sites das ficções televisivas, os blogs confi-guram-se como ferramentas capazes de imprimir proximidade, maleabilidade e permis-sividade. De acordo com Igarza (2008), os blogs se diferenciam de um site corporativo tradicional – e em nosso caso de um site de emissora – por seu caráter fluido: “à diferença do caráter institucional e distante dos sites corporativos tradicionais, estas modalidades de participação [oferecidas pelos blogs] são permeáveis e o ingresso de novos partici-pantes pode ser feito a qualquer momento” (IGARZA, 2008, p.214)18.
Dessa forma, os blogs de personagens traduzem o objetivo da TV Globo de reunir os telespectadores, fisicamente dispersos pelo território nacional, em espaços virtuais de troca. Há ciência de que haverá um agrupamento natural por afinidade e, dessa forma, são criados espaços legítimos e oficiais para esse encontro. Além disso, esse processo permite que o internauta se materialize ao adentrar um espaço virtual. A audiência passa a ser olhada e, mesmo que imprecisamente, quantificada.
5.1 Alguns apontamentos: blog de André Newmann
Cada blog, assim como cada personagem, tem sua própria história. Alguns não disponibilizam espaço para comentários, como os blogs de Ti-Ti-Ti. Outros são idealizados durante a exibição da trama, como em Sonhos de Luciana. Alguns são escritos sob pseudônimos, como o blog de Beatrice M. e outros são assinados e encarados como diários, como o Blog das Meninas. O blog do personagem André Newmann não é diferente e também reúne suas particularidades, ou seja, não há apenas especificidades de produção, mas de processos enunciativos.
A escolha pelo estudo do blog de André Newmann especificamente apoiou-se em três particularidades do diário virtual do personagem:
1. Abertura do espaço para comentários: a TV Globo disponibiliza conteúdo na Internet para os espectadores das ficções da emissora, no entanto, não há espaço onde seja possível produzir conteúdo, deixar seu comentário. No blog de André Newmann, apesar de os comentários serem moderados – não irem ao ar assim que postados pelo internauta – havia a possibilidade de conversa com o personagem da minissérie.
2. Autogestão do projeto transmídia da minissérie: enquanto os projetos transmídia das ficções da TV Globo são coordenados pela equipe de Desenvolvimen-
18 Tradução da autora.

70R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
to de Formatos da Central Globo de Produção19 - nisso incluem-se o site das tramas, perfis no microblog Twitter e blogs de personagens – as ações transmidiáticas de Afinal, o que querem as mulheres? foram idealizadas e coordenadas pela própria equipe da minissérie. O abastecimento do blog do personagem era feito pelo próprio ator Michel Melamed que interpretava o psicanalista André Newmann na minissérie. Nos blogs de personagens de outras ficções, os responsáveis pela postagem no blog dos personagens são os redatores da Equipe Transmídia da TV Globo.
3. Ausência de alusão ao blog na trama televisiva: o blog de André Newmann não era citado na trama de Afinal, o que querem as mulheres?. Na verdade, não havia referência alguma mesmo ao uso da Internet na minissérie que mostrava o protagonista datilografando sua tese de doutorado.
O blog de André Newmann em nada se diferencia de um blog de um usuário comum (Figura 2). Cada página apresenta um total de 10 posts, que são os textos publicados pelo autor do blog. Alguns textos se limitam a reproduzir textos/falas da minissérie, outros são relatos do dia a dia de André, de seus anseios e dúvidas.
Figura 2. Blog de André Newmann
Em entrevista à autora20, Michel Melamed comentou o processo de produção dos textos para o blog de André.
Os posts não eram planejados, mas sentidos… Quer dizer, estávamos todos muito envolvidos e emocionados com a história e o trabalho intenso que já completava quase um ano, então o desejo era continuar respirando com esses sentimentos ali no blog… Não havia periodicida-de nem tema pré-definidos. Quando muito, creio que apenas a atenção
19 Dados obtidos em palestra de Alex Medeiros, gerente de desenvolvimento de formatos da Central Globo de Produção no III Encontro OBITEL nacional dos pesquisadores de ficção televisiva no Brasil (21 e 22/11/2011).20 O ator Michel Melamed respondeu a entrevista com oito perguntas enviadas pela autora por e-mail em 03/03/2013.

71B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
com o spoiler e a idéia de sempre postar algo imediatamente após os episódios, espécie de gancho… O Luiz [diretor], bem como a CGCOM [Central Globo de Comunicação] e a equipe de transmídia da Globo sempre me deram toda a liberdade…
Nessa resposta, Melamed mostra que a grande particularidade da minissérie é ao mesmo tempo oferecer um produto audiovisual com uma temática diferente da discutida usualmente na televisão, portanto mais ousado e até inesperado, e ainda apresentar um produto igualmente especial na Internet. A liberdade do ator para escrever os textos do blog reflete esse movimento. O ator ainda completa dizendo que
A moderação era mínima - excluíamos apenas os comentários even-tualmente muito agressivos... [...] Talvez seja interessante comentar que, em alguns momentos, participando da sonorização da série com o Luiz, aconteceu o movimento contrário, isto é: conquanto o blog era alimentado pela história da série, a emoção e toda a experiência ali vivida, em algum momento o Luiz propos usarmos coisas que eu já havia publicado e escrito só para o blog como offs de alguns episódios… Então gravei alguns fragmentos de textos do blog e eles foram ao ar, quer dizer, deste modo, o blog que era baseado na série alimentou a série com a qual se alimentava para alimentar a série que…
Aqui, vemos o sinal de um processo transmidiático em plena atividade: há re-
troalimentação das narrativas. A narrativa principal alimenta a produção de conteúdo e é também alimentada por universos narrativos das outras plataformas. Esse processo implica autonomia, uma das exigências, de acordo com Jenkins (2009), para a efetividade de uma narrativa transmidiática.
Para Jenkins (2009, p.139), “relativamente poucas (ou nenhuma) franquias alcançam todo o potencial estético da narrativa transmídia - ainda”. A experiência de Viver a Vida e de Ti-Ti-Ti não são qualitativamente melhores ou piores que a de Afinal, o que querem as mulheres?. Como assinala Jenkins os padrões para avaliar uma narrativa transmídia ainda estão em construção, assim como as próprias narrativas. Talvez nos arriscássemos a dizer que os melhores projetos transmídia são aqueles que englobam os três conceitos de Jenkins (2009): inteligência coletiva, cultura participativa e convergência dos meios. Ou, simplesmente, aquele que funciona, aquele que não é apenas idealizado pela produção, mas alimentado pelos telespectadores-internautas. Nas palavras de Jenkins (2009, p.29), “a circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia [...] - depende fortemente da participação ativa dos consumidores. [...] Consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdo de mídia dispersos”. É nesse aspecto que o simples fato de o blog de

72R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
André Newmann ter sido acessado pelos telespectadores indica as conexões estabeleci-das por aqueles que assistiram à minissérie. Encontrar o blog por conta própria, já que não há referência nenhuma na trama, é um índice de envolvimento dos telespectadores e faz com que a intenção inicial de se começar uma narrativa transmídia, um macro relato com auxílio do blog, se consolide.
Melamed ao responder à pergunta: “na minissérie, André não mostrava que tinha um blog [...], mesmo assim houve participação da audiência com comentários. A que você atribuía essa participação?”, disse:
Houve um trabalho de divulgação feito pela equipe de transmídia e a CGCOM [Central Globo de Comunicação], encontro com blogueiros, etc. Gostaria de imaginar que além da força de divulgação da Globo, alguma força de alguma poesia dali encontrou seus pares… Lembro mesmo que em algum momento recebemos um relatório dizendo que entre os dez assuntos mais retuitados da Globo naquele mês, seis eram posts do blog...! Quer dizer, poesia no horário nobre já!
Quando Melamed reflete: “gostaria de imaginar que além da força de divulgação da Globo, alguma força de alguma poesia dali encontrou seus pares...”, o ator afirma que a repercussão do blog não se deveu apenas aos índices televisivos de audiência ou investimento publicitário da TV Globo, mas às ações dos espectadores (ou não). Quando a poesia do blog encontra seus pares, e quando esses pares passam a divulgá-la, observa-se aí um processo de imersão, sobre o qual trata Jenkins e que Fechine e Figueirôa (2011) explicam segundo aspectos da ficção nacional:
A experiência de imersão no universo ficcional é, ao mesmo tempo, causa e consequência de outra propriedade constitutiva dos projetos transmídias, o engajamento do público. A construção de um universo transmídia depende diretamente da capacidade que o público tem de, tirando proveito das diversas formas de conectividade, envolver-se com a circulação dos conteúdos das mídias [...]. Esse engajamento implica não apenas na capacidade de explorar as extensões narrativas e de estabelecer relações entre as informações dispersas pelas distintas mídias, mas na capacidade e disponibilidade de dividir os conteúdos aos quais se teve acesso com os demais espectadores (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2011, p.39).
Assim, havia um nível considerável de alimentação dessa narrativa com compromisso e disseminação dos conteúdos, ações que auxiliavam não apenas a manter esse universo transmídia, mas a construí-lo.

73B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
Considerações finais
Todo nosso trabalho parte de uma ação: a de “abrir mão” de um personagem televisivo e deixá-lo criar vida fora da tela da TV. Com essa ação, a TV Globo acompanha o telespectador quando ele sai da TV e caminha por outras plataformas. Nesse processo, a emissora, como tantas outras, ainda tateia espaços e testa possibilidades de ação. Há um visível desconforto e preocupação com esse produto que se torna tão fluido na Internet e que, ao menor descuido, pode se perder nas redes e em nós.
Em nossa dissertação, concluímos que o telespectador – e agora internauta – se insere no processo de transmidiação por meio do blog de personagem. Mas, claramente, por um viés discursivo, ou seja, o telespectador participa na construção discursiva de seu interlocutor; o personagem da minissérie ou a própria trama. O aspecto mais importante em um blog de personagem, portanto, não é apenas dar vida, no mundo virtual, ao caractere de uma ficção televisiva, mas dar forma e voz ao te-lespectador-internauta. A abertura de um espaço para comentários no blog de André Newmann revela, na prática, aquilo que os teóricos da transmidiação enxergam como participação, colaboração e coautoria na rede. Na dissertação, tentamos, muito além da teoria, apresentar discursivamente essa audiência que participa. E, assim, a noção de participação se alarga.
A participação aqui é outra, é dialógica. Diálogo que, para nós, significa fazer parte de uma correia discursiva. Pensar, pelo viés da transmidiação, no internauta como coautor, participante ativo e colaborador, não significa somente imaginá-lo como parte da equipe de produção de uma telenovela da TV Globo, mas enxergá-lo como parte de uma engrenagem discursiva. Dessa forma, nossa pesquisa traça um caminho que vai além da ideia de “compartilhamento laboral”: não existe coautoria formal - como em um trabalho de roteiristas que escrevem uma série em equipe -, a audiência não participa ao lado da produção, compartilhando papéis, canetas, escaletas e storylines. A audiência dialoga.
O que vimos, por parte da produção, sob a figura do personagem-blogueiro, foi à busca por uma posição responsiva do internauta: por vezes, o telespectador é convidado a opinar, comentar algo sobre as postagens do blog. Assim, não se trata apenas de um produto transmidiático, ou de um leque de ferramentas, feito para “constar”, mas para possibilitar a produção de sentidos para além da narrativa televisiva. Vemos que o espaço do blog pretende anular o suposto distanciamento entre o personagem da ficção e os telespectadores e consequentemente da emissora e de seu público.
Os estudos de Comunicação sobre a ficção televisiva transmidiática – apesar de

74R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
apresentados em grande número – ainda buscam maneiras (teóricas e metodológicas) de compreender o desenrolar desse novo fenômeno. O presente artigo, apesar de um recorte, portanto, buscou oferecer mais ferramentas teóricas (e exemplos práticos) das particularidades da ficção televisiva brasileira na contemporaneidade.
Referências bibliográficas
AMARAL, A.; RECUERO, R.; MONTARDO, S. Blogs: mapeando um objeto. In: AMARAL, A.; RECUERO, R.; MONTARDO, S. (Orgs). Blogs.Com: estudos sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009.
BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: 2010.
BALOGH, A.M.; MUNGIOLI, M.C.P. Adaptações e remakes: entrando no jardim dos caminhos que se cruzam. In.: LOPES, M.I.V. (org.). Ficção Televisiva no Brasil: temas e perspectivas. São Paulo: Globo, 2009.
BERNERS-LEE, T. Long live the web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality. Scientific American, Nova Iorque, 22/11/2010. Disponível em: <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web>. Acesso em 11/08/2011.
CASTELLS, M. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance. The annals of the American Academy Of Political And Social Science, v. 616, n. 1, mar. 2008.
DE CERTEAU, M. Fazer com: usos e táticas. In. DE CERTEAU, M. A invenção do cotidiano. Vol.1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
DENNIS, K. Time in the Age of Complexity. Time&society, Sage Journals Online (Los Angeles, London, New Dehi And Singapore), v. 16, n. 2/3, 2007.
FECHINE, Y.; FIGUEIRÔA, A. Transmidiação: explorações conceituais a partir da telenovela brasileira. In: LOPES, M. I. V. Ficção televisiva transmidiática no Brasil: plataformas, convergência, comunidades virtuais. Porto Alegre: Sulina, 2011.
HALL, S. Codificação/Decodificação. In. HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
IGARZA, R. Nuevos Medios: Estrategias de convergencia. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, 2008.

75B
lo
g d
e pe
rs
on
ag
em
: o c
as
o da m
inis
sé
rie a
fin
al, o q
ue q
ue
re
m a
s mu
lh
er
es?
• iss
aa
f Ka
rh
aw
i
JENKINS, H. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
LEMOS, A. A Arte da Vida. Webcams e Diários Pessoais na Internet. Revista de Comunicação e Linguagens, Lisboa, 2002. XXV Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Salvador, 2002.
LEMOS, A. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008.
LEMOS, A. Cultura da Mobilidade. Revista Famecos, Porto Alegre, n. 40, dez. 2009.
LÉVY, P. A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a consciência. São Paulo: 34, 2001.
LOPES, M.I.V.; MUNGIOLI, M.C.P.; BREDARIOLI, C.M.M.; FREIRE, D. O.; ALVES, C.G. Brasil – Novos modos de fazer e de ver ficção televisiva. In.: LOPES, M.I.V.; GÓMEZ, G.O. (coords.). Convergências e transmidiação da ficção televisiva: OBITEL 2010. São Paulo: Globo, 2010.
LOPES, M.I.V.; BREDARIOLI, C.M.M.; ALVES, C.G.; FREIRE, D.O.. Transmediação, plataformas múltiplas, colaboratividade e criatividade na ficção televisiva brasileira. In.: LOPES, M.I.V. (org.). Ficção Televisiva no Brasil: temas e perspectivas. São Paulo: Globo, 2009.
MARCUSCHI, L.A. Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital. In: MARCUSCHI, L.A.; XAVIER, A.C. (Orgs.). Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
MÉDOLA, A.S.L.D., REDONDO, L.V.A. Interatividade e pervasividade na produção da ficção televisiva brasileira no mercado digital. 00, São Paulo, 3, dez, 2009.
MOTTER, M.L. Mecanismos de renovação do gênero telenovela – Empréstimos e doações. In.: LOPES, M.I.V. (Org.). Telenovela: internacionalização e interculturalidade. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
ORLANDI, E. Terra à vista! Discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo, Cortez: Campinas, Editora da Unicamp, 1990.
PRIMO, A. Blogs e seus gêneros: avaliação estatística de 50 blogs em língua portuguesa. Revista MATRIZes, São Paulo, 4, nov. 2010.
PRIMO, A. Os blogs não são diários pessoais online: matriz para a tipificação da blogosfera. Revista FAMECOS, v. 36, 2008.

76R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
SCOLARI, C.A. A construção de mundos possíveis se tornou um processo coletivo. Revista MATRIZes. São Paulo, ano 4, nº2, jan/jun. 2011. (Entrevista concedida a Maria Cristina Palma Mungioli)
SCOLARI, C.A. Hipermediaciones: Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa Editorial, 2008.
SCOLARI, C.A. Transmedia storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, and Branding in Contemporary Media Production. International Journal of Communication, n.3, 2009.
TRASEL, M. A vitória de Pirro dos blogs: ubiquidade e dispersão conceitual na web. In: AMARAL, A.; RECUERO, R.; MONTARDO, S. (Orgs). Blogs.Com: estudos sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 77-93
o uso das Redes sociais online nas inteRações de pRodutoRes e ReceptoRes de televisão
paula cecília de MiRanda MaRques
ana sílvia lopes davi Médola
Possui graduação em Comunicação Social - Radialismo (2008) e especialização em Linguagem, Cultura e Mídia (2012) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp - Bauru). Atualmente é analista de comunicação da Universidade de São Paulo e exerce a função de produtora de conteúdos de divulgação científica para televisão universitária.E-mail: [email protected].
Livre-Docente em Comunicação Televisual pela Universidade Estadual Paulista UNESP - em Bauru/SP, onde está lotada no Departamento de Comunicação Social atuando como professora na Habilitação em Radialismo.E-mail: [email protected]

ResuMo
Este artigo trata da possibilidade de participação do receptor na produção do conteúdo televisivo inter-mediada por redes sociais online. Balizada pela convergência midiática, esta pesquisa demonstra como o receptor tem atuado nas mídias digitais online e como a televisão pode aproveitar as particularida-des dessa interação entre meios para promover a criação de conteúdo colaborativo, no qual o usuário de rede social pode interferir, influenciando diretamente o resultado do produto desenvolvido, se tornando um novo protagonista midiático. Ferramenta pouco utilizada pela produção de televisão que, vagarosamente, começa a adentrar a realidade virtual, o forjamento desse novo processo de composição poderia não apenas entreter o receptor, como também enriquecer a linguagem e o conteúdo televisivos constantemente criticados. Este estudo expõe a influência do meio televisivo no que é discutido online; trata da postura ainda tímida do usuário na produção de conteúdos; e aborda as potencialidades das redes sociais enquanto canal de comunicação entre receptores e produtores. Este artigo se estrutura a partir da definição de rede social; além estudar que tipo de diálogo entre esse meio online e TV é praticada nos dias de hoje. Por fim, debate-se se a potencialidade da interação entre TV e redes sociais é utilizada em sua plenitude.
Palavras-chave: Conteúdo colaborativo, televisão, internet, redes sociais.
abstRact
This paper discusses the possibility of receiver’s participation in the production of television content mediated by online social networks. Buoyed by media convergence, this research demonstrates how the receiver has been working in online digital media such as TV can take advantage of the specific interaction between the medias to promote the creation of collaborative content, in which the user of social network may interfere the result of the product developed, becoming a new mediatic protagonist. Tool not so used for the production of television that slowly begins to enter the virtual reality, the forging of this new compose process would not only entertain the receiver, but also enrich the language and content television constantly criticized. This study shows the influence of the television medium in which is discussed online, the attitude still shy of the user in content production, and discusses the potential of social networks as a channel of communication between producers and receivers. This work is structured from the definition of social network, in addition to conducting the study what kind of interaction between TV and online social networks is practiced today. Finally, debate whether the potential interaction between TV and social networks is used to its fullest.
Keywords: Collaborative content, television, internet, social networks.

79R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Introdução
Televisão e internet são dois influentes meios de comunicação no Brasil, o primeiro está presente em quase todos os lares do país e pesquisas mostram que a internet já chegou a mais de 80 milhões de brasileiros1, dos quais apro-
ximadamente 80% participam de alguma rede social2, o que demonstra sua crescente abrangência, embora ainda não seja tão popular quanto outras mídias tradicionais. A migração do espectador para as mídias digitais propicia a ebulição de novos comporta-mentos (JOST, 2011).
O espectador tradicional, que se debruçava sobre os antigos meios de comunicação em massa, atualmente pode ser um usuário. Tem a possibilidade de abandonar velhos hábitos de pacificidade e, por meio virtual com as redes sociais como ferramenta, hoje pode influenciar diretamente a produção do conteúdo televisivo. Segundo Marco Silva:
A interatividade não emerge somente na esfera técnica. Emerge também na esfera social. A pregnância das tecnologias interativas ocorre não apenas por imposição da técnica e do mercado, mas também porque contemplam o perfil comunicacional do novo receptor. (SILVA, 2000, p.4)
Fatores que podem ter incentivado essa mudança são a grande expectativa com a TV digital interativa - que, como mostraram Becker e Montez (2004), permitiria o uso de ferramentas a fim de buscar informações e substituir a forma passiva de transmissão unidirecional -, e a convergência de mídias que a cada dia está mais presente na vida do espectador. O receptor encontrou a forma mais acessível de interação imediata: a internet por meio das redes sociais - alternativa para a vontade de deixar de apenas
1 Dado referente ao número total de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente, de acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE Nielsen Online. Disponível em <http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=DDA7A78D9195CE3483257A1A006507C0>. Acesso em 26 jun.2012.2 Dado informado por pesquisa IBOPE, disponível em <http://www.ibope.com.br/download/1008_WIN_redes_sociais.pdf>. Acesso em 26 jun.2012.

80O
us
O da
s re
de
s sO
cia
is On
lin
e na
s int
er
aç
õe
s de p
rO
du
tO
re
s e re
ce
pt
Or
es d
e te
le
vis
ãO • p
au
la c
ec
ília d
e Mir
an
da M
ar
qu
es - a
na s
ílvia l
Op
es d
av
i Mé
dO
la
absorver e também agora participar. E é a convergência midiática que possibilita novas formas de assistir televisão.
A socialização promovida pela TV, que antes reunia famílias ao redor do aparelho, hoje é concretizada também nas redes sociais digitais, uma vez que cada indivíduo tem a liberdade de acessar esse conteúdo a partir do dispositivo que melhor lhe convier – computador, celular, tablet, entre outros (via streaming ou on demand). Nas redes, o espectador compartilha, curte e comenta, transformando a internet em uma grande sala de estar. Ele interage não apenas com outros receptores, mas também com o próprio produtor de conteúdo. Surge, assim, uma alternativa à passividade da audiência. Com isso, é necessário compreender o comportamento dessa nova figura que protagoniza a comunicação audiovisual, o espectador/produtor, pois isso influencia de maneira direta todo o processo de criação e produção televisivo. Este artigo pretende abordar a interação entre os meios, o comportamento do espectador e as novas possibi-lidades de criação que surgem para os produtores de conteúdo.
A convergência midiática e velhos hábitos
As mídias digitais têm trazido à discussão o futuro das mídias tradicionais. A ameaça à sobrevivência dos meios analógicos é assunto recorrente a cada inovação tecnológica lançada. Atualmente, tem se discutido o futuro da televisão com a expansão da internet, mas essa discussão não trata da ideia de substituição de um meio por outro, é a expansão da convergência midiática.
Segundo Jenkins (2009), a convergência é uma transformação cultural, pois os consumidores são orientados a fazer conexões em meio a conteúdos de diferentes mídias.
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercado-lógicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 2009, p.29).
Essa convergência, como explicitou o autor, vai além de uma questão tecnológica e depende dos usuários. Mais que convergência de mídias, é uma convergência de temas, que circulam entre os meios, impulsionados pelo interesse do público. “A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a

81R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros.” (JENKINS, 2009, p.30).
Em seu texto “Novos comportamentos para antigas mídias ou antigos com-portamentos para novas mídias”, o professor François Jost (2011) chama a convergência midiática de “lutas intermídias”, pois defende que esse é um fenômeno que não acontece de forma pacífica, que os meios competem entre si, e discute no que essa disputa entre os meios tem afetado os hábitos dos espectadores. Em seu artigo, Jost trata das mudanças que ocorrem também com os espectadores que, diante dessa luta, transformam seus hábitos, consumindo a comunicação que transita pela convergência. A partir desse estudo, pode-se ver que a televisão é um meio influente nas mídias digitais, pois o que se consome, mesmo em plataformas diferentes, ainda é o produto televisivo. Ao citar exemplos de séries feitas para a web, o autor lembra que esses produtos são dependentes da televisão, uma vez que são inspirados em seus modelos e pegam o que ela tem de melhor. De acordo com o autor, ainda não surgiu nada original da convergência. São novos meios, mas antigos comportamentos e conteúdos.
A herança socializadora da televisão
Já em 18 de setembro de 1950, quando Assis Chateaubriand inaugurou a transmissão de TV no Brasil, disse em seu discurso que a televisão surgia como um meio influente e socializador, definiu como “[...]a mais subversiva máquina de influir na opinião pública – uma máquina que dá asas à fantasia mais caprichosa e poderá juntar os grupos humanos mais afastados”3. E assim foi. Desde o início de suas transmissões o meio propiciou o contato de produtores e espectadores. Barbosa (2010, p.30) revela como nas famílias a conversa era estimulada pela programação televisual: “[...] o ato de ver com, que domina a forma como o público se relaciona com o meio, partilhando opiniões com alguém que está ao seu lado no momento da emissão, está presente na cena da TV desde as primeiras emissões”.
O meio - ainda analógico - foi tomando seu espaço nas salas das famílias, fomentando conversas e cumprindo a previsão de seu incentivador. A televisão não perdeu essa característica até os dias atuais.
Dominique Wolton defende, em “Elogio do grande público” (1996), uma teoria crítica de que a televisão geralista age como um “laço social” e é próxima de um papel de integração cultural em uma sociedade que descreve como individualista de massa. As pessoas assistem TV para sentirem-se partes de um todo, congregadas,
3 Discurso de Assis Chateaubriand, disponível em <http://www.redetupi.com/paginas/posts/a-inauguracao-oficial69.php>. Acesso em 24 jun. 2012

82O
us
O da
s re
de
s sO
cia
is On
lin
e na
s int
er
aç
õe
s de p
rO
du
tO
re
s e re
ce
pt
Or
es d
e te
le
vis
ãO • p
au
la c
ec
ília d
e Mir
an
da M
ar
qu
es - a
na s
ílvia l
Op
es d
av
i Mé
dO
la
seria uma atividade transversal. Assistem a programação e sabem que outros estão assistindo ao mesmo que elas, podem assistir para conversar sobre TV, pois o meio é um objeto de conversação. O autor conclui afirmando que há um laço implícito entre uma organização da televisão e uma teoria da sociedade: “De fato, quantos programas e públicos houver para assistir às imagens de gêneros e status diferentes, mais aparece o paradigma sociológico e cultural da televisão”. (WOLTON, 1996, p. 317). E, como Jost (2011) relatou, a programação da TV continua incentivando debates, mas agora em outro meio: o digital.
O modo como se consome o conteúdo televisivo se diversificou, sua programação pode ser acessada por meio de dispositivos portáteis ou mesmo pela internet, assim, o caráter socializador também foi remodelado. Segundo Cannito:
A televisão é o espaço do genérico (das altas audiências), a internet é o espaço ideal para o segmentado. E isso não é critério qualitativo. Ambas as coisas são importantes e vão conviver na Era Digital. O genérico é o que dá assunto comum ao grupo social, e isso será sempre importante. (CANNITO, 2010).
Os debates promovidos por sua grade não estão presos nas salas de estar como outrora, mas tomam as mídias digitais, acrescentando poder ao espectador, uma vez que seus pensamentos alcançam cada vez mais pessoas e os debates têm proporção ampliada. Jost provoca: “Se os meios usados para acessar os conteúdos audiovisuais são inegavelmente novos, resta saber se eles são sintoma de comportamentos radicalmente novos, e qual será o impacto desses novos usos”. (JOST, 2011, p.100). E é a partir dessa pergunta que se inicia a busca pelas possibilidades que a convergência midiática pode trazer.
Já se pode notar que com as novas mídias digitais, como a internet, os espectadores continuam a consumir televisão, agora o fazem de modo cada vez mais isolado (esse comportamento que se iniciou quando o poder aquisitivo da população aumentou e as casas passaram a possuir mais aparelhos televisivos e agora, com o advento da mobilidade e portabilidade, vem se enfatizando), porém, compartilham suas opiniões sobre o que veem com mais pessoas. Desse modo, um meio abastece o outro, a televisão fornece material que pode ser assistido pela internet e, consequentemente, promove a socialização ao criar assunto para discussões online e a internet retribui com pesquisas de audiência e satisfação, além de servir como vitrine, divulgando os conteúdos televisivos. Jost chama a atenção para esse intercâmbio dizendo que “De um lado, a televisão dita sua lei à internet transmitindo programas que são replicados em sites dedicados ou fabricando séries que são consumidas na internet; de outro

83R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
lado, os sites de compartilhamento de vídeo on demand propõem uma alternativa ao consumo das redes.” (JOST, 2011, p.95). Essa alternativa é mais que simples mudança de plataforma tecnológica, como propõe Silva (2000), é digerir a programação de uma forma não passiva e sim interagindo. A conversa, que antes acontecia nas praças e casas, migra para as redes sociais e lá pode alcançar o produtor de conteúdo.
Eis aí uma das grandes diferenças entre os meios analógicos e digitais ao lidar com o receptor: o suporte para a interatividade. Por falta de aparatos técnicos que permitam alguma interação mais avançada que a escolha de canais, as mídias analógicas têm no espectador um simples receptor da programação, cuja única pos-sibilidade de influência sobre o conteúdo das mesmas é o reflexo da audiência. Já nas mídias digitais o grande ganho para o receptor é a possibilidade de interação. O receptor pode interagir e é promovido a agente ativo: pode escolher o que ver, criticar, acessar conteúdos extras e participar dos programas. Como colocam Barbosa Filho e Castro (2008) ao tratarem das possibilidades para a TV Digital, as mídias analógicas apresentam três elementos: fonte, mensagem e destinatário, isso as diferem das mídias digitais:
Agora passa a existir a possibilidade de quatro elementos no processo de comunicação: 1) o campo da produção; 2) a mensagem; 3) o campo da recepção; e 4) o campo do retorno interativo, onde o diálogo entre quem produz ou apresenta e quem está vendo, ouvindo ou lendo em tempo real se torna possível a partir da participação dos públicos com suas diferentes concepções de mundo. Mais do que a interativi-dade que já conhecemos no rádio tradicional, esse espaço cresce em proporções ainda desconhecidas se pensarmos nas possibilidades da interatividade da rádio, da TV digital, dos jornais e revistas on-line e dos celulares, por exemplo. (BARBOSA FILHO e CASTRO, 2008, p.92).
Ainda que a discussão proposta seja a interação do espectador e do produtor intermediada pela rede mundial de computadores, o usuário aos poucos já tem se familiarizado com a possibilidade de interatividade por meio das transformações midiáticas, como, por exemplo, na relação com guias de programação e discursos que redirecionam o espectador para a internet. Em seu doutorado, Alexandre Frigeri (2011), ao tratar de conteúdos veiculados no site de compartilhamento de vídeos Youtube, diz que a sociedade tem vislumbrado um novo tipo de expressão midiática, que depende da estrutura tecnológica e possui características próprias de produção e distribuição de conteúdo. Ou seja, é diferente das mídias tradicionais, permite as interações de atores que movimentam as novas mídias, criando e difundindo conteúdo.

84O
us
O da
s re
de
s sO
cia
is On
lin
e na
s int
er
aç
õe
s de p
rO
du
tO
re
s e re
ce
pt
Or
es d
e te
le
vis
ãO • p
au
la c
ec
ília d
e Mir
an
da M
ar
qu
es - a
na s
ílvia l
Op
es d
av
i Mé
dO
la
As redes sociais na internet
A mídia digital “estende ou democratiza a liberdade de expressão”, escreve Lévy (2011). Hoje se pode notar que o que é disponibilizado na internet é muito difundido. Os exemplos vão desde memes4 espalhados por sites de compartilhamen-to, notícias de última hora divulgadas por portais, até reclamações inconsequentes de funcionários insatisfeitos com seu chefe nas redes sociais online. E, mais do que liberdade de expressão, o que se pode perceber é que a internet é utilizada para a busca de informações. Escassa, entretanto, ainda é a produção de conteúdo online, embora a plataforma e o avanço tecnológico a permitam.
Quanto aos vídeos colocados na internet, eles são em grande parte oriundos de canais de televisão, uma pequena minoria de internautas enviam seus próprios arquivos. Essa hierarquização de arquivos acessíveis nos sites nos deixa perplexos quanto à suposta autonomia do internauta, que se tornará uma espécie de telespectador nômade. É necessário constatar que ele reencontra rapidamente seus reflexos de telespectador, que o empurram na direção de documentos mais partilhados. (JOST, 2011, p.101).
A pouca produção está concentrada nas redes sociais digitais, meios nos quais os usuários podem postar criações pessoais e compartilhá-las com outros usuários de seu círculo. Assim, as redes mostraram-se como ambiente promissor para o fomento de uma nova forma de produção de conteúdo colaborativo. Agregando seu caráter estimulador de criação e expressão ao estímulo das discussões do que é transmitido pela TV, poderia ser a plataforma para que o usuário produzisse também produto televisivo. Como expõe Fabíola de Mesquita (2011), “Diariamente na rede surgem novos regimes de interação e, sobretudo, a possibilidade de participação nos processos de produção de conteúdos, nesse bojo é evidente o crescimento das redes sociais da internet”. (MESQUITA, 2011, p.2).
As redes são objeto de estudos já há muitos anos, entretanto, eram analisadas em outro contexto, como explica Raquel Recuero (2011) em seu livro “Redes sociais na internet”, no qual coloca que o estudo dos sistemas como redes existem antes mesmo do surgimento da internet e já eram pesquisadas no início do século XX. O interesse era dissecar as interações entre as partes integrantes de um sistema, que associados ao
4 De acordo com o site Wikipédia: “Na sua forma mais básica, um Meme de Internet é simplesmente uma ideia que é propagada através da World Wide Web. Esta ideia pode assumir a forma de um hiperlink, vídeo, imagem, website, hashtag, ou mesmo apenas uma palavra ou frase. Este meme pode se espalhar de pessoa para pessoa através das redes sociais, blogs, e-mail direto, fontes de notícias e outros serviços baseados na web tornando-se geralmente viral.” Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Memes_de_Internet>. Acesso em 23 jul. 2012.

85R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
termo “redes”, cunhado por Euler5, foram importados das ciências da natureza pelas ciências sociais e que originaram a Análise Estrutural de Redes Sociais, abordada por Degenne e Forsé em 1999, Scott em 2000, entre outros. Segundo Recuero:
Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999). Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. (RECUERO, 2011, p. 24).
Essa apropriação das ciências naturais permite que as redes sociais na internet sejam analisadas a fundo. Suely Fragoso, na apresentação do livro, resume:
Raquel Recuero se propõe a pensar as redes sociais na internet reconhe-cendo-as justamente como agrupamentos complexos instituídos por interações sociais apoiadas em tecnologias digitais de comunicação. A metáfora da rede é mobilizada, em seu trabalho, para pensar os aspectos individuais, coletivos e tecnológicos dos agrupamentos humanos na internet. (FRAGOSO, 2011, p. 13).
Porém, Recuero ressalva que os sites não são em si as próprias redes sociais, são sistemas, o que constituem as redes são os atores sociais que as utilizam. Para fins didáticos, escolheu-se a o site Twitter para exemplificação das interações possíveis entre os usuários das redes.
O Twitter é um site rede social (SRS) definida por Recuero como SRS apropriado, que, diferente dos SRS propriamente ditos, não tinha em sua concepção a proposta de mostrar as redes sociais de seus atores, essa característica é adotada pelos usuários, fazendo uma apropriação. Esse atributo é o que o torna o microblog uma plataforma capaz de promover o conteúdo colaborativo, pois o foco não seriam os perfis, seriam as contribuições dos usuários.
O Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir onde cada Twitter pode escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros. Há também a possibilidade de enviar mensagens em modo privado para outros usuários. A janela particular de cada usuário contém, assim,
5 Leonard Euler, de acordo com Raquel Recuero (2009), “é considerado um dos grandes gênios de sua época, em 1736, publicou um artigo sobre o enigma das Pontes de Königsberg. Königsberg era uma cidade prussiana, localizada, como muitas de sua época, em meio a ilhas no centro do rio Pregolya. A cidade continha ao todo sete pontes, e folcloricamente conta-se que, na época, era uma diversão para seus habitantes tentar resolver o problema de atravessar a cidade através das sete pontes, cruzando cada uma apenas uma vez”.

86O
us
O da
s re
de
s sO
cia
is On
lin
e na
s int
er
aç
õe
s de p
rO
du
tO
re
s e re
ce
pt
Or
es d
e te
le
vis
ãO • p
au
la c
ec
ília d
e Mir
an
da M
ar
qu
es - a
na s
ílvia l
Op
es d
av
i Mé
dO
la
todas as mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue. Mensagens direcionadas também são possíveis, a partir do uso da “@” antes do nome do destinatário. Cada página particular pode ser personalizada pelo Twitter através da construção de um pequeno perfil. (RECUERO, 2011, p.186).
Zago demonstra que o Twitter, devido a sua arquitetura aberta, pode ser utilizado por organizações jornalísticas tradicionais para “criar suportes de visualização diferenciada para atualizações de interesse público, bem como novas formas de agregar conteúdos diversos produzidos colaborativamente na ferramenta”. (ZAGO, 2008, p.13). E ao pensar nessa arquitetura aberta, com suporte de visualizações diferenciadas, que surgiu a possibilidade de um produto de televisão que fosse resultado da coautoria entre produtor e usuário, por meio do microblog.
Potencialidades do uso das redes na produção colaborativa
Alguns usuários, que já estão imersos nessa nova realidade interativa, têm tentado interferir nos produtos que consomem. Podem movimentar as redes conforme seu interesse, por meio de processos sociais, como lembra Recuero: “os processos dinâmicos das redes são consequência direta dos processos de interação entre os atores”, (2011, p.80). Esses atores que integram as redes online produzem seu conteúdo por meio de opiniões e, quando essa expressão é difundida e suas ideias compartilhadas por outros usuários, podem atingir os produtores de conteúdo televisivo. Assuntos que estão presentes nas interações entre atores nas redes sociais são produtos de televisão e o contrário é verdadeiro. Para retratar a força dos temas de grande abrangência nas redes online, utilizar-se-á os Trending Topics6 do Twitter. Nota-se, por exemplo, que no dia 23 de março de 2012, data da exibição do capítulo final de Fina Estampa, exibida pela Rede Globo, a telenovela ocupou por duas horas posição entre os TT nacionais, como assunto mais comentado7 na rede.
Hoje em dia, os sites de redes sociais é que permitem a garantia de que vemos a mesma coisa, numa época em que, por causa da multiplicida-de de canais, não se pode dizer isso naturalmente. Durante a emissão de uma grande partida de futebol ou de um reality show popular, os tweets todos são sobre esses programas e comentários feitos. (JOST, 2011, p.102).
6 Trending Topics ou TTs, de acordo com o site Wikipédia, são “uma lista em tempo real das frases, hashtags (#) ou nomes próprios mais publicados no Twitter pelo mundo todo. O recurso de Trending Topics usa por padrão a abrangência total (worldwide), mas também é possível filtrar por países ou cidades”. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter>. Acesso em 25 jul. 2012.7 Dados disponíveis em < http://ttbr.info/>. Acesso em 23 jul. 2012.

87R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
E o impacto do conteúdo produzido online no meio televisual é tamanho que em
algumas ocasiões conseguiu interferir na programação já estipulada pelas emissoras. São casos como a publicidade de uma construtora da Paraíba – protagonizada por uma celebridade local, citando sua filha8, que estava em intercâmbio – que mobilizou de tal forma as redes que a moça foi apresentada como participação especial em telejornal com veiculação nacional.
Com isso, notou-se que mesmo de forma não consciente os usuários, que também são espectadores, implantaram o assunto que lhes interessava na mídia que sempre fora tão inatingível. Diferentemente do modo de produção a que se era habituado, de indústria cultural, no qual um assunto principal que era difundido para o receptor em todos os meios, de acordo com o que estipulavam os interesses comerciais, atualmente, há a possibilidade de que a produção de conteúdo percorra o caminho inverso.
Com esta migração das redes sociais off-line para as redes sociais on-line, além da facilidade de criar relacionamentos entre pessoas de interesses comuns, a forma de lidar com conteúdo encontrado transformou o consumidor em um produtor de conteúdo. Hoje, o consumidor não apenas compartilha suas experiências, como também opina sobre qualquer assunto, recomendando ou condenando o conteúdo para os membros de seus grupos de convívio em suas redes sociais. (ARNAUT et al, p.263).
Brasil e Arnt defendem que estes usuários que são produtores não querem ser induzidos: “a interatividade é um pré-requisito: eles querem diálogo e não imposição”. (2002, p.26).
O diálogo acima citado pode mudar os rumos da produção televisiva, agregando diversidade de conteúdo e linguagem. Produtores de programas podem saber o que pensam os usuários, o que esperam e pelo que se interessam, de acordo com Jost, “graças à extensão das mídias digitais, ao sucesso das redes sociais, é possível propor conteúdos que dependem parcialmente da ação do usuário e que fazem convergir duas mídias, a televisão e a internet, a caminhos até agora paralelos” (JOST, 2011, p.99).
É possível que o poder de influenciar que surgiu com os internautas nas redes sociais, nas quais se expressam com liberdade, possa de fato contribuir para a produção de conteúdo de qualidade e interesse para o público – um conteúdo verdadeiramente colaborativo.
Azevedo (2011) explica que o papel das redes sociais online é tornar mais visível o processo de produção e as conexões estabelecidas e, assim, mudar a dinâmica de produção das obras televisivas.
8 Meme Luiza no Canadá começou em janeiro de 2012 e chegou aos Trending Topics do Brasil no Twitter.

88O
us
O da
s re
de
s sO
cia
is On
lin
e na
s int
er
aç
õe
s de p
rO
du
tO
re
s e re
ce
pt
Or
es d
e te
le
vis
ãO • p
au
la c
ec
ília d
e Mir
an
da M
ar
qu
es - a
na s
ílvia l
Op
es d
av
i Mé
dO
la
A qualidade de obra aberta permite que o público possa sentir-se parte da própria trama, já que os desenlaces não estão definidos e duas vozes podem ser consideradas pelos autores. As cartas e, mais tarde os e-mails, enviados para revistas e sites especializados comprovam isto. (AZEVEDO, 2011, p.1)
O modo como o usuário interage é que pode mudar o rumo do processo produtivo audiovisual. Por isso, como lembra Faris Yakob, no prefácio do livro Cultura da convergência, além de interativa, essa convergência midiática é participativa. Jenkins, complementa:
A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. (JENKINS, 2009, p.30)
A participação tem que vir com ideias e difusão de propostas. Mostrou-se que os casos de fenômenos da rede que chegaram até a programação televisiva foram os que tiveram maior número de adesão. Para fazer conteúdo, o receptor deve conseguir convencer outros usuários e produtores de sua proposta. É a produção de todos para todos e com todos, não mais de um para todos.
Arnaut e outros autores, baseados em estudos de Jesus Martin-Barbero, afirmam que pesquisas sobre a cultura participativa, presente nas redes sociais digitais, “passaram a considerar o sujeito-receptor como um indivíduo que recebe as mensagens midiáticas, mas que também possui uma opinião a ser explorada, deixando em segundo plano a ideia de conversa predominante unilateral” (ARNAUT et al, 2011, p.264)
O receptor não é apenas um mero decodificador dos conteúdos das mensagens impostas pelo emissor, mas também produtor de novos conteúdos. Embora inicialmente designado como um agente passivo na comunicação, o receptor mantém um espaço interior de resistência que lhe permite rejeitar informações que cul-turalmente não são reconhecidas por ele. (ARNAUT et al, 2011, p.264).
Ou seja, o receptor pode propor, mas também pode recusar. A dinâmica das redes possibilita a interação entre todos os seus agentes, facilitando assim a tarefa de sugestão de conteúdos e adesão de outros usuários para torná-la viável.

89R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Considerações
Inicialmente, pensou-se que as redes sociais digitais já existentes fossem o ambiente ideal para promoção do conteúdo colaborativo, impulsionado pela ampla interação que a programação televisiva gera na internet e, principalmente, nas redes sociais online devido às características dos atores que criam seu conteúdo com liberdade de expressão. Mais que aprovação ou não aprovação, o usuário e espectador poderia influenciar os roteiros da ficção televisual, contribuir com o jornalismo mais estratégico e contextualizado. Poderia ser um avanço na interatividade exercida. Segundo Barbosa Filho e Castro, pensar a “participação dos sujeitos sociais não apenas como objetos de pesquisa, mas como sujeitos na construção do conhecimento”, (2008, p.97).
Porém, como nos adianta Jost (2011), deve-se questionar se a internet pode assumir a função de produção, além de difundir. Pesquisando as redes a fundo, em especial o Twitter e sua estrutura, percebeu-se que o site não seria adequado ao tipo de conteúdo participativo proposto. Na realidade, com ajuda dos marcadores (hashtags) e buscas, é possível ter uma noção de que assuntos os usuários estão tratando, porém não há ferramenta eficiente para que o produtor tenha acesso às mensagens a ele encaminhadas, a menos que estas sejam direcionadas com a utilização do “@”, e, mesmo considerando essa solução, seria de difícil manejo para definir o que agrada mais usuários, ou mesmo ler todas as mensagens dependendo do fluxo recebido.
Ao considerar esses obstáculos inerentes ao meio proposto, percebeu-se que, como colocado por Barbosa Filho e Castro: “Uma base interativa pensada do campo da comunicação dialógica deve contemplar as complexidades inerentes aos âmbitos da produção e da recepção e deve ser arquitetada dentro de um projeto horizontal e par-ticipativo que contemple as audiências.” (2008, p.96). Assim, notou-se a necessidade de uma plataforma específica para o tipo de interatividade proposta. Devido às caracte-rísticas das redes sociais digitais, acredita-se que esse tipo de sistema ainda seja o mais indicado para abarcar a produção de conteúdo colaborativo, porém, essa rede deverá ser criada para esse fim e não ser apropriada do modo como são.
As propriedades dos sites de redes sociais são definidas por Boyd e Ellison (apud RECUERO, 2009) e mostram-se pertinentes para delimitar a estrutura de um site de produção colaborativa, pois permitem: 1. Construção de persona através de um perfil ou página social; 2. A interação através de comentários; e 3. A exposição pública da rede social de cada ator. Acredita-se que para tratar do tema conteúdo colaborativo seria interessante criar uma plataforma em que a exposição de um perfil não seja caracterís-tica principal, mas um aspecto importante, para creditar as ideias propostas, promover

90O
us
O da
s re
de
s sO
cia
is On
lin
e na
s int
er
aç
õe
s de p
rO
du
tO
re
s e re
ce
pt
Or
es d
e te
le
vis
ãO • p
au
la c
ec
ília d
e Mir
an
da M
ar
qu
es - a
na s
ílvia l
Op
es d
av
i Mé
dO
la
alguma forma de valorização dos participantes que sempre contribuírem com a rede e propiciar o esquema de votação das sugestões por parte dos outros usuários da rede.
A necessidade de ter uma rede exclusiva para esse fim facilitaria o manejo dos resultados por parte dos produtores, que poderiam criar tópicos para cada programa que tiver a identidade participativa. Com o resultado das sugestões mais aceitas definidas em votação, os roteiristas do projeto introduziriam a vontade do usuário na trama.
Outra possibilidade válida, seria a implementação de um aplicativo para as redes sociais online que fosse voltado para essa produção. Nesse caso, uma parceria com programadores que desenvolvessem essa ferramenta renderia bons frutos.
Embora haja essas possibilidades, a sugestão de incentivo a produção de conteúdo colaborativo ainda está distante da realidade, mesmo nas redes sociais existentes, como foi citado. Em pesquisa de tweets do perfil oficial da Rede Globo, realizada por Mesquita, a autora constatou que “o perfil da emissora pouco desenvolve a comunicação e relação entre os autores da rede social, ou seja, seguidores e seguidos pelo canal [...] As publicações no Twitter apresentam características de auto-vendagem e autopromoção”, (MESQUITA, 2011, p.13).
A falta de engajamento das emissoras tradicionais no meio eletrônico no que diz respeito à participação do usuário na programação, mostra que elas ainda não têm interesse nessa interação. Azevedo (2011) alerta que justamente porque a internet permite ao público criar e divulgar seus próprios produtos, a rede descentraliza o poder que sempre foi concentrado nos antigos meios de produção e obriga as emissoras a repensarem seus processos produtivos.
Mais que a falta de uma plataforma criada para esse fim e a falta de interesse das grandes produtoras e emissoras de televisão, o comportamento dos usuários das redes sociais digitais também é um fator que dificulta a implantação de uma rede colaborativa. Como Jost (2011) alertou, mesmo o computador que é uma mídia digital que trabalha com sequência de dígitos, pode ser utilizado com dois dedos, como uma antiga máquina de escrever.
Nota-se que os assuntos abordados em redes sociais são reflexo da sociedade na qual estão inseridas. Eric Schimdt, então presidente executivo do Google, afirmou em 2011:
Celulares, redes sociais, sites da internet, são apenas isto: ferramentas. Permitem que as pessoas organizem e comuniquem seus pensamentos de maneira mais eficiente, mas não podem nada sem as pessoas a lhes dar vida. E, como toda ferramenta, podem ser usados pelos dois lados do conflito – como de fato aconteceu no Egito, por exemplo. Sempre é bom lembrar que nenhuma pessoa caiu, ou jamais cairá, morta alvejada por um tweet. (SCHIMDT, 2011).

91R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Por enquanto o que vemos no Brasil é um uso superficial do poder das redes.
As redes sociais digitais, do modo como são utilizadas, são medidores de audiência, pesquisas de satisfação. Não vão além do uso que se fazia das cartas e telefonemas às emissoras no passado. Porém, podem ser consideradas o primeiro passo para a produção participativa, já que um conteúdo tão aberto, como foi dito, necessita estar ancorado em uma plataforma específica como o Twitter. Vale destacar a necessidade de que, mesmo nessa ferramenta forjada, os atores envolvidos teriam de passar por um período de aprendizagem para entender essa nova possibilidade criativa, para que reconheçam a linguagem televisiva e consigam assim trabalhá-la de modo satisfatório e, posteriormente, inovador.
Diríamos que, mais do que a conexão, é preciso preparar os profis-sionais da comunicação, em conexão com outras ciências e saberes – e a sociedade para participar da Nova Ordem Tecnológica, para que tenham condições de analisar as diferentes informações que recebem, assim como produzir conteúdos para as novas plataformas digitais. (BARBOSA FILHO e CASTRO, 2008, p.85).
A falta de amadurecimento no uso das redes para a produção de conteúdo não é característica exclusiva dos receptores. Os produtores de conteúdo parecem não estar preparados para ceder parte do poder criativo. Na análise acima citada sobre o perfil da rede Globo no Twitter, Fabíola de Mesquita (2011) revela que emissora não têm conteúdo conversacional na rede. Quebrar o monopólio da informação dos meios de transmissão, como colocou Azevedo (2011) é obrigá-los a se reinventar, o que além de ser trabalhoso e custoso não garante às emissoras e produtoras que terão a influência de sempre.
O que se pode deduzir é que quando o conteúdo colaborativo for realidade, poderá render bons frutos. A qualidade da produção televisiva é alvo constante de julgamentos que acusam o meio de promover futilidades, não incentivar o pensamento crítico e manipular o espectador. O que pode ser considerado conteúdo de qualidade? Ainda que não haja uma resposta objetiva, a participação da comunidade receptora na produção televisual deve ser encarada de forma otimista. Além de entreter e fidelizar o público para manter vivo e influente esse meio – injustamente – ameaçado pelo ostracismo, a estratégia do conteúdo colaborativo tem grande possibilidade de contribuir para melhoria do que é exibido pelos canais de televisão.
Conclui-se que a possibilidade de confecção de conteúdo colaborativo tendo como suporte a tecnologia das redes sociais é viável e até atraente do ponto de vista dos espectadores. Entretanto, ainda não é realidade. A falta de uma plataforma exclusiva, um site em que as sugestões dos usuários fossem organizadas de forma que os produtores

92O
us
O da
s re
de
s sO
cia
is On
lin
e na
s int
er
aç
õe
s de p
rO
du
tO
re
s e re
ce
pt
Or
es d
e te
le
vis
ãO • p
au
la c
ec
ília d
e Mir
an
da M
ar
qu
es - a
na s
ílvia l
Op
es d
av
i Mé
dO
la
pudessem acessar, o desconhecimento do público com relação à linguagem audiovisual e o uso superficial que se faz dos sites que promovem as redes são fatores que dificultam a realização da produção colaborativa. O que falta é investimento na educação de novos modos de produção, pois o usuário está ansioso para interagir, só não sabe como.
Referências
ARNAUT, Rodrigo D. Era Transmídia. Revista Geminis. São Carlos: ano 2, n. 2, pp. 259-275.
AZEVEDO, Elaine C. Da tela da TV à tela do computador: A telenovela entra nas redes sociais online. Disponível em <http://pucposcom-rj.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Elaine-Christovam-de-Azevedo.pdf> Acesso em: 18 de jun. 2012.
BARBOSA FILHO, André; CASTRO, Cosette. Comunicação digital: educação, tecnologia e novos comportamentos. 1ª ed. São Paulo: Paulinas, 2008.
BARBOSA, Marialva C. Imaginação televisual e os primórdios da TV no Brasil. In Historia da televisão no Brasil. Org. Ana Paula Goulart, Igor Sacramento, Marcos Roxo. São Paulo: Contexto, 2010.
BECKER, Valdecir; MONTEZ, Carlos. TV Digital Interativa: conceitos e tecnologias. In: Minicursos Webmidia 2004. Ribeirão Preto, 2004.
BRASIL, Antonio; ARNT, Héris. Telejornalismo On-line em debate. Rio de Janeiro: EPapers, 2002.
CANNITO, Newton. Verdades e mentiras sobre televisão. 14 abr. 2010. Entrevistador: Luciano Trigo. Entrevista concedida ao Portal G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2010/04/14/812/>. Acesso em: 05 ago. 2012.
FRIGERI, Alexandre M. Youtube: estrutura e ciberaudiência – um novo paradigma televisivo. 2011. 171 f. Tese – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 2011.
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 2ª ed. São Paulo: Aleph, 2009.
JOST, François. Revista Matrizes. São Paulo: ano 4, n. 2, jan. - jun. 2011, pp. 93-109. Disponível em: <http://www.redetupi.com/paginas/posts/a-inauguracao-oficial69.php> Acesso em: 20 jul. 2012.

93R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
LÉVY, Pierre. A esfera pública do século XXI. Disponível em: <http://www.moodle.ufba.br/file.php/11/artigo-pierre-levy.pdf> Acesso em: 23 jul. 2012.
MESQUITA, Fabíola de. Televisão e twitter: apropriações e convergência midiática. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2011/resumos/R24-0060-1.pdf> Acesso em: 15 jun. 2012.
RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. 2ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2011.
SCHIMDT, Eric. A revolução não é digital. Entrevista concedida a revista Veja. São Paulo: Abril, 02 mar. 2011.
SILVA, Marco. Interatividade: uma mudança no esquema clássico da Comunicação. In: Boletim Técnico do Senac, v. 26, n. 3, set.- dez., 2000.
WOLTON, Dominique. Elogio do grande público. 1ª ed. São Paulo: Ática, 1996.
ZAGO, Gabriela S. Dos blogs aos microblogs: aspectos históricos, formatos e características. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/zago-gabriela-dos-blogs-aos-microblogs.pdf> Acesso em: 25 jul. 2012.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 94-110
pRodução de conteúdo paRa televisão diGital no bRasil
João baptista de Mattos Winck Filho
leiRe MaRa bevilaqua
Doutor em Semiótica e docente do Programa de Pós-graduação em Televisão Digital: Informação e Conhecimento da Unesp de Bauru-SP. E-mail: [email protected]
Jornalista e mestre em Televisão Digital: Informação e Conhecimento pela Unesp de Bauru-SP. Atua como jornalista na Televisão Universitária Unesp e é membro do GEA - Grupo de Estudos Audiovisuais da Unesp. E-mail: [email protected]

ResuMo
A implantação do sistema de televisão digital no Brasil traz mudanças que não tratam apenas da tec-nologia. Interferem no modo de produzir conteúdos audiovisuais, ou seja, nas rotinas de produção e nas competências profissionais. Também muda a forma de acessar e consumir conteúdo. Por essa razão, este trabalho tem o objetivo de discutir as principais características da televisão digital e como elas desencadeiam novas demandas na produção de conteúdos. Entende-se que, com a digitalização, o material produzido deve estar disponível em diferentes plataformas digitais e estimular a participação do telespectador, exigindo planejamento e afinação dos membros da equipe de produção.
Palavras-chave: televisão digital; produção de conteúdo; convergência; interatividade.
abstRact
The implantation of digital television system in Brazil brings changes that are not just about technology. They interfere in the way of producing audiovisual content, i.e., in the production routines and in the professional skills. It also changes the way to access and consume content. Therefore, this paper aims to discuss the main characteristics of digital television and how they initiate new demands on content production. It is understood that, with the digitalization process, the material must be made available in different digital platforms and encourage participation of the viewer, requiring planning and adjust-ment of the team production members.
Keywords: digital television, content production, convergence, interactivity.

96R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
1 Introdução
O volume do ano de 2010 da Enciclopédia Intercom de Comunicação define televisão digital como “uma plataforma capaz de agregar diversos serviços, apresentado-se, assim, como uma importante ferramenta para o campo do
audiovisual” (ENCICLOPÉDIA INTERCOM DE COMUNICAÇÃO, 2010, p.1163).O verbete acima foi escrito por Valério Cruz Brittos e Marcia Turchiello Andres
e apresenta uma lista dos recursos que estão disponíveis a partir da digitalização do sistema de transmissão. São eles:
A convergência dos serviços de dados, imagem e voz; superior qualidade de imagem e som; mobilidade (transmissão via televisores portáteis, aparelhos usados em veículos); portabilidade (transmissão via dispositivos pessoais, como celular); multiprogramação (transmissão simultânea de até quatro programas por canal); e intera-tividade, que depende de um canal de retorno e de um software inter-mediário (middleware), batizado, no Brasil, de Ginga. (ENCICLOPÉDIA INTERCOM DE COMUNICAÇÃO, 2010, p. 1163).
Todas essas características geram, segundo Ferraz (2009), grandes expectativas em toda a cadeia produtiva e também nos telespectadores. De acordo com o autor, de todas as potencialidades, a interatividade é a que mais chama atenção, por ser forte a expectativa de mudança na forma de comunicação entre a televisão e o telespectador.
Porém, ainda que a interatividade seja um dos principais destaques, há que se ressaltar uma característica que trouxe mudanças significativas tanto para a forma de produzir como de consumir conteúdo: a convergência tecnológica. Cada vez mais, é possível utilizar plataformas variadas para acessar informações, sem prejuízos quanto à estética e ao conteúdo, uma vez que as produções se adéquam à mídia a que se destinam. Além disso, é o indivíduo quem faz a escolha por uma ou outra mídia com base em seu gosto pessoal e também na relação que já possui com o meio escolhido.
A convergência de mídias propiciada pela tecnologia digital torna mais fácil que o mesmo objeto cultural seja exibido em várias mídias e de várias formas. A definição de uma interface em função de outra

97P
ro
du
çã
o de C
on
te
úd
o Pa
ra t
ele
vis
ão d
igit
al n
o Br
as
il • Jo
ão B
aP
tis
ta d
e Ma
tt
os W
inC
k Fil
ho - l
eir
e Ma
ra B
ev
ila
qu
a
se torna mais difícil, menos técnica, quase cultural. Isso faz com que, para entendermos a relação entre as interfaces e as linguagens “ideais” para ela, torna-se mais importante a análise dos hábitos culturais do público, em oposição a uma análise “determinista” das limitações e características do aparato técnico. (CANNITO, 2009, p. 135-136).
Sendo assim, deixam de fazer sentido discussões que, por exemplo, se prendam à tentativa de definir se a televisão é ou não adequada para a exibição de filmes ou se os computadores, ao armazenarem e reproduzirem vídeos, vão roubar o lugar da televisão. É preciso entender que existem diversas interfaces para um mesmo produto e que a linguagem passa por mudanças a partir de transformações e criações dessas novas interfaces (CANNITO, 2009, p.136). Não há, portanto, competição entre elas, mas sim a opção de um meio complementar o outro, com base nas possibilidades que oferece. Por isso, há a necessidade de se pensar, logo no início da produção de determinado conteúdo, como ele deve ser distribuído para as várias plataformas, da televisão ao celular, passando pela internet.
Como diz Negroponte, não convém mais afirmar que o “meio é a mensagem”: “No mundo digital, o meio não é a mensagem: é uma forma que ela assume. Uma mensagem pode apresentar vários formatos derivando automaticamente dos mesmos dados” (NEGROPONTE, 1995, p. 67). Devemos, portanto, pensar nas características de novos formatos, adequados à convergência de mídias. É justamente essa necessidade de pensar um determinado objeto com “versões” para várias interfaces que tem transformado os formatos da mídia digital. (CANNITO, 2009, p. 136).
O desafio está, justamente, em oferecer materiais que atendam às necessidades dos usuários de cada uma dessas mídias. Isso significa que não basta transpor o conteúdo da televisão, por exemplo, para o site da emissora. O telespectador que costuma assistir à programação da televisão e acessa a internet para obter outras informações quer ver conteúdos diferenciados, que respeitem o formato da mídia em que são disponibilizados.
2 Televisão Digital no Brasil
Ao longo do século XX, a televisão analógica se consolidou como o principal meio de comunicação de massa no Brasil. Com a digitalização, tem início uma nova fase na escala de evolução tecnológica da radiodifusão, iniciada na década de 60 do século passado com a criação do videotape, seguida pela televisão em cores, pelo controle remoto e pelo videocassete. Como em todos esses momentos, a transposição

98R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
para o digital acarretará mudanças significativas no modo de produzir e de consumir conteúdo.
No ano de 2006, após diversas pesquisas, o governo brasileiro adotou o ISDB-T como referência para o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (ISDB-Tb), pois melhor atendia às necessidades brasileiras tanto em relação à extensão territorial e à mobilidade, quanto às condições socioeconômicas de país em desenvolvimento.
A proposta brasileira faz duas modificações no ISDB-T. A principal inovação, e a grande contribuição das pesquisas nacionais, é o middleware1 Ginga. Ele foi desenvolvido nos laboratórios Telemídia, da PUC-Rio, e LAViD, da UFPB. É considerado superior a todos os outros middlewares empregados nos demais padrões (TEIXEIRA, 2008). A outra mudança está na compressão de vídeo utilizada. Os japoneses utilizam o MPEG-2. No padrão híbrido, a opção é pelo MPEG-4, cuja compressão de dados é maior. Isso possibilita o uso de uma largura de banda menor para transmitir canal em alta definição.
Também no ano de 2006, foi criado o Fórum do SBTVD, com o objetivo de promover a normatização do padrão híbrido junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As transmissões, por sua vez, só tiveram início em dezembro de 2007.
O Decreto 5820 de 2006 (DOU, 2006) é o que trata da implantação do sistema e estabelece as diretrizes para a transição da transmissão analógica para a digital. No artigo 6º, consta o tripé que caracteriza a televisão digital brasileira: transmissão em alta definição (HDTV) e em definição padrão (SDTV), transmissão digital simultânea para recepção fixa, móvel e portátil, e interatividade.
Segundo Teixeira (2008, p.72), o decreto “impõe um marco na comunicação audiovisual do Brasil frente ao cenário de convergência digital”. Isso porque no artigo 4º fica clara a intenção de assegurar ao público em geral o acesso a essa nova tecnologia de forma livre e gratuita.
Ao mesmo tempo, a interatividade aparece no documento sem qualquer menção ao seu uso social. A especificação é exclusivamente técnica, ainda que o objetivo do governo com a sua implantação seja promover a inclusão digital da população.
Além de o modelo brasileiro ter partido do princípio de que nossa sociedade é altamente dependente da televisão aberta e terrestre, o desafio com a implantação, é o de articular uma tecnologia de ponta a uma realidade com muitos entraves à inclusão digital por meio de uma
1 Middleware é uma camada intermediária de software que permite a execução dos aplicativos interativos. Com o middleware, os produtores de conteúdo desenvolvem aplicações interativas sem a necessidade de considerar o sistema operacional utilizado na recepção.

99P
ro
du
çã
o de C
on
te
úd
o Pa
ra t
ele
vis
ão d
igit
al n
o Br
as
il • Jo
ão B
aP
tis
ta d
e Ma
tt
os W
inC
k Fil
ho - l
eir
e Ma
ra B
ev
ila
qu
a
“educação para a interatividade”. Vale lembrar que o Brasil é um país de contrastes, mesmo com uma maioria ainda excluída do contexto relacionado às novas mídias, porém altíssima consumidora de conteúdo da televisão, há uma classe média conectada e que já compreende bem as novas linguagens que a interatividade proporciona. (TEIXEIRA, 2008, p. 74).
Ainda de acordo com o autor, são esses novos costumes introduzidos pela classe média, auxiliados pelo barateamento dos aparelhos, que tendem a influenciar a sociedade no que diz respeito à inclusão digital e ao uso dos recursos interativos dispo-nibilizados pela televisão digital. Essa, no entanto, é uma visão questionada por alguns pesquisadores que acreditam ter que ser mais incisiva a atuação do governo na criação de políticas sociais públicas que garantam esse acesso (WERTHEIN, 2000).
É importante ressaltar que a televisão brasileira analógica surge e se consolida sustentada por um modelo comercial, a exemplo do modelo americano, pautado em conteúdos voltados para o mercado e na venda da audiência para os anunciantes. “A expressão da linguagem audiovisual em programas de televisão é, em grande parte, mais uma resposta a uma estrutura narrativa com elementos que se enquadrem a um padrão comercial do que uma expressão técnica e filosófica” (SOARES; ANGELUCI; AZEVEDO, 2011, p.88),
Assim, a grande dificuldade com a chegada da televisão digital é construir modelos de negócio que sustentem os novos recursos disponibilizados. Como possibilitar, por exemplo, o acesso a conteúdos, produzidos por emissoras, em diferentes plataformas, como internet, celulares e tablets? Assistidos por demanda, ou seja, fora de um fluxo estabelecido pela emissora, como seria possível atrair anunciantes, responsáveis pelos custos dessas produções? Para disponibilizar recursos interativos, os gastos com a produção aumentam. Como conciliar o interesse de emissoras, fabricantes de televisão e de softwares, e do próprio governo? Além disso, como despertar o interesse dos telespectadores para a interação? Será que eles realmente desejam interagir durante a programação? Qual o objetivo de se criar um conteúdo interativo?
Essas são questões que ainda não podem ser respondidas com precisão, mas que, ao longo da implantação da televisão digital e até o desligamento do sinal analógico, têm condições de serem analisadas, testadas e respondidas.
Segundo Médola (2009a), uma coisa é certa: com o processo de digitalização, a televisão não deixará de exercer o papel de mobilizar grandes audiências sobre temas de interesse coletivo. Ou seja, não vai perder as características que a tornam única enquanto meio. A mudança, segundo a autora, está na

100R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
ampliação das formas de produção e difusão, processamento e consumo dos conteúdos audiovisuais. Certo também é que, ao incorporar estruturas e conceitos de outras mídias, a televisão digital não pode ser mais pensada a partir dos paradigmas da televisão analógica. Ao mesmo tempo, impõe a tarefa de desvendar em que medida a nova televisão reflete as poéticas da contemporaneidade. (MÉDOLA, 2009a, p. 259).
Há que se considerar que um novo meio, quando criado, até que sua linguagem e estética sejam, de fato, construídas, toma emprestadas algumas características dos meios que o antecedem (MURRAY, 2007). A própria televisão analógica, nas décadas de 50 e 60 do século passado, construiu a sua linguagem com base nos gêneros e formatos já utilizados no rádio, no cinema e no teatro.
Scolari (2009), assim como Médola (2009a), acredita na importância de considerar os avanços de mídias digitais como os celulares, os videogames e a internet, para entender as mudanças pelas quais a televisão está passando nesse período de transição.
Cannito (documento eletrônico), por sua vez, ressalta que, para uma tecnologia de fato trazer inovações para determinada mídia, é preciso que essas inovações estejam relacionadas ao uso social e aos hábitos de consumo dos receptores. Do contrário, a tecnologia não será “sedimentada”.
No caso da televisão digital, Cannito tem uma visão bastante particular. Segundo ele, a linguagem da televisão digital que vai conquistar o público será aquela que potencializar digitalmente os procedimentos que a televisão já faz hoje, na forma analógica. “Ao invés de destruir a televisão que conhecemos hoje, o digital tornará a televisão ainda mais televisão” (CANNITO, documento eletrônico).
3 A Interatividade no Padrão Brasileiro
A interatividade é o recurso de destaque do ISDB-Tb. Isso porque possibilita à audiência uma nova forma de se apropriar de conteúdos por meio da televisão digital. É considerada uma ferramenta capaz de promover a inclusão digital, contudo, muito pouco tem sido feito nesse sentido. Uma prova disso, como já foi citado, é o fato de haver apenas especificações técnicas e não relativas a seu uso social no decreto que regulamenta a televisão digital no Brasil (DOU, 2006).
Codificada em zeros e uns, a informação pode ser compactada, tornando-se possível, junto com som e imagem, enviar dados à casa dos telespectadores, em forma de aplicações interativas.
Para fazer uso dessas aplicações, o telespectador precisa ter uma televisão

101P
ro
du
çã
o de C
on
te
úd
o Pa
ra t
ele
vis
ão d
igit
al n
o Br
as
il • Jo
ão B
aP
tis
ta d
e Ma
tt
os W
inC
k Fil
ho - l
eir
e Ma
ra B
ev
ila
qu
a
com o middleware Ginga2 ou um conversor3 com esse software instalado. De acordo com informações do site oficial da TV Digital, o Ginga é o middleware de especificação aberta4 adotado pelo Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (ISDB-Tb) e tem duas funções principais: uma é tornar as aplicações independentes do sistema operacional da plataforma de hardware utilizados. A outra é oferecer um melhor suporte ao desen-volvimento de aplicações.
Concluído em 2008, desde essa data o software não tem avançado no campo da produção de conteúdo. As discussões sobre esse middleware só voltaram a ganhar impulso em setembro de 2011, com o lançamento da Consulta Pública para a inclusão obrigatória do Ginga no Processo Produtivo Básico das indústrias.
No início do mês de fevereiro de 2012, a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) divulgou5 que realizaria programa piloto com serviços interativos, através do sinal de televisão digital aberta, com o uso do middleware Ginga e de um canal de retorno, para possibilitar a participação dos telespectadores. O objetivo era usar os resultados obtidos para formular um projeto nacional, a ser apresentado ao governo federal, para motivar o uso do Ginga pela televisão pública e a criação de uma política para tal. Os pilotos começaram a ser feitos em dezembro de 20126, com aplicações interativas sobre saúde, benefícios do governo federal e também sobre qualificação profissional. As aplicações foram destinadas a beneficiários do programa Brasil Sem Miséria inscritos no Bolsa Família na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Os dados obtidos ainda estão sendo analisados.
Os recursos interativos chegam ao telespectador de duas maneiras, definidas segundo normas do padrão ISDB-Tb: (1) pela transmissão do fluxo de dados em pacotes no Transport Stream (TS), nos casos de serviços em tempo real e (2) pela transmissão por meio do carrossel de dados, nos serviços que requerem armazenamento no terminal de acesso, ou seja, no televisor, ou no set top box do telespectador (ANGELUCI; LOPES; ZUFFO, 2011).
As duas formas são um tipo de interatividade local, pois as aplicações enviadas pela emissora são executadas no próprio dispositivo e não há nenhuma resposta de
2 Para mais informações sobre o software, acesse o site oficial: www.ginga.org.br.3 Também chamado de set top box é, segundo o Fórum do SBTVD, o componente que converte o sinal da TV digital para exibição das imagens no televisor. O equipamento pode ser vendido separadamente ou estar incorporado (integrado) ao televisor.4 Existem também os middlewares proprietários com licença de uso, desenvolvidos por fabricantes de televisores e conversores.5 Informações veiculadas na matéria “EBC prepara teste piloto de Ginga com canal de retorno”, de 09/02/2012. Disponível em: <http://www.arede.inf.br/inclusao/acontece/5173-ebc-prepara-teste-piloto-de-ginga-com-canal-de-retorno>. Acesso em 15 jun. 2012.6 Informações veiculadas no texto “Piloto da TV Digital Publica Interativa começa com o pé direito”, de 13/01/13, publicada no blog do professor Dr. André Barbosa Filho. Disponível em <http://abfdigital.blogspot.com.br/2013/01/piloto-da-tv-digital-publica-interativa.html>. Acesso em 15 jul. 2013.

102R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
volta para a emissora. Seriam exemplos de aplicativos interativos executados localmente: informações extras, guias de programação, opções por diferentes ângulos de câmeras, entre outros.
Porém, existe a opção da interatividade plena, que seria uma via de mão dupla, capaz de colocar em contato emissor e receptor. Mas, para que essas informações do receptor cheguem até a emissora, é necessário um canal de retorno, também chamado de canal de interatividade. A interatividade a partir desse canal tem condições de ser permanente ou intermitente, isto é, com o telespectador interagindo com o aplicativo localmente e só depois enviando os dados. Assim, ainda que com a interatividade intermitente, o receptor poderia influenciar de alguma maneira o conteúdo transmitido pela televisão, seja por meio de receptores fixos, móveis ou portáteis.
Mas, ainda não há uma definição exata sobre a tecnologia a ser empregada no canal de retorno. O problema é que, de um lado, pesquisadores defendem o recurso pela possibilidade de inclusão digital da população brasileira. De outro, emissoras e fabricantes justificam o tímido uso de recursos interativos na programação pela falta de um modelo de negócios que pague essa conta.
Um estudo realizado por Angeluci (2011) de 26 de agosto a 11 de setembro de 2011, em horários alternados, aponta que, dos 17 canais digitais disponíveis analisados, tendo como referência o bairro Butantã, na cidade de São Paulo – SP, apenas quatro ofereciam aplicativos interativos com regularidade, a saber: TV Gazeta, TV Globo, SBT e TV Record. Outros canais realizaram testes em diferentes períodos, mas, por não serem visualizados no momento de aplicação do estudo, não foram contabilizados.
E é justamente em razão desse estágio de transição, no qual existe a necessidade de se discutir definições que respeitem os diversos interesses de grupos envolvidos, que os processo de padronização e regulamentação tornam-se lentos. O mercado, por sua vez, por ter um tempo diferente, já que não precisa necessariamente seguir os trâmites que garantem a legalidade e a ética no processo, acaba por lançar diversos produtos, como é o caso das televisões conectadas. O produto consiste em televisores que permitem o acesso à internet, numa parceria dos fabricantes com provedores de conteúdo, ainda sem uma regulamentação específica.
Abaixo, seguem as principais diferenças entre a televisão em transmissão aberta e a televisão conectada. O Quadro foi formulado por Angeluci; Lopes e Zuffo (2011), em artigo apresentado no XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

103P
ro
du
çã
o de C
on
te
úd
o Pa
ra t
ele
vis
ão d
igit
al n
o Br
as
il • Jo
ão B
aP
tis
ta d
e Ma
tt
os W
inC
k Fil
ho - l
eir
e Ma
ra B
ev
ila
qu
a
Quadro 1 – Quadro comparativo entre os sistemas ISDB-Tb e TV conectada
ISDB-Tb TV Conectada
Transmissão Broadcast Broadcast e Broadband
Infraestrutura e abrangência
98% da população com acesso à TV aberta. Cobertura do sinal digital em todo território: 2016
Atualmente insuficiente, internet Banda Larga de no mínimo 1Mbps não chega a todo o país. Expansão exponencial.
Custo de recepção
Compra do conversor com Ginga (a partir de R$200) ou novo aparelho televisor com tecnologia embutida. Depois disso, é gratuita.
Compra de dispositivo de recepção e pagamento mensal de serviço de internet, a partir de R$50 em média (para velocidade ainda insuficiente).
RobustezPlena, se há cobertura do sinal digital e ausência de área de ‘sombra’.
Variável, dependendo de infra, velocidade, qualidade do sinal e quantidade de usuários simultâneos.
Qualidade de serviço Superior em áudio e vídeo.Inferior em áudio e vídeo com a banda disponível atualmente.
Legado60 anos de know-how em produção, herança cultural e social da TV analógica.
Desenvolvimento e expansão da internet
Mobilidade e Portabilidade
É acessível em dispositivos de recepção parados ou em movimento havendo cobertura do sinal digital e ausência da área de ‘sombra’.
É acessível em dispositivos de recepção parados ou em movimento havendo disponibilidade de banda larga móvel.
Interatividade Middleware aberto Ginga Middleware proprietário
Conteúdos e aplicações interativas
Crise criativa: poucos aplicativos voltados às características e especificidades da TV; necessidade de formação de profissionais e modelo de negócio. Interatividade sincronizada e relacionada com a programação das emissoras abertas, além de serviços sociais.
Parceria entre fabricantes e provedores de conteúdo. Mesmos conteúdos e aplicações da web adaptados para tela de TV. Interatividade separada do conteúdo das emissoras. Aposta nos vídeos online sob demanda.
Canal de retorno TCP/IP TCP/IP
Inclusão socialAlto impacto, com maior ação do governo e outras entidades na promoção do sistema.
Baixo impacto, caso a banda larga não chegue gratuita em todos os lares.
Investimento publicitário53% do mercado para TV tradicional. Crescimento de 5%.
5% do mercado para internet. Crescimento de 153%.
Fonte: ANGELUCI; LOPES; ZUFFO, 2011, p. 12-13.

104R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Segundo o pesquisador André Barbosa Filho, diante dessas características, a
televisão conectada não concorre com o Ginga, tampouco apresenta uma ameaça. Para ele, a discussão deve ser mais ampla e se pautar em como “integrar essas plataformas”, uma vez que as televisões conectadas dependem da conexão com a internet e, no Brasil, apenas 27% dos lares têm acesso à rede, sendo que, desse total, apenas 5,5% têm banda larga7.
4 Novas Demandas na Produção de Conteúdo Audiovisual
Ao longo de sua trajetória, a televisão passou por diferentes fases de desenvol-vimento. Em todas elas, o componente tecnológico esteve presente, modificando sua forma de inserção na sociedade, parâmetros de organização da produção e o modo com que os telespectadores consomem a informação veiculada. “Da mesma forma, o desenvolvimento de conteúdos em plataformas digitais interativas promove alterações estruturais nos fluxos de produção, circulação e consumo de conteúdos midiáticos” (MÉDOLA, 2009b, p.5).
É certo que a interatividade não surgiu com a digitalização. Desde os primeiros programas veiculados, a televisão incentivava a participação popular8. A diferença, agora, é que a interatividade pode se dar por meio do próprio televisor, não necessitando mais de outros suportes, por exemplo, as cartas, e-mails, mensagens de celular e ligações via telefone fixo.
O foco, então, deve estar no processo produtivo, que agora exige um nível de detalhamento cada vez mais acentuado. Desde a pré-produção, passando pela produção e pós-produção, etapas consagradas no processo produtivo da televisão analógica, tudo precisa ser pensado em uma nova lógica, fundamentada na possibilidade de participação da audiência e na convergência entre as plataformas digitais.
O primeiro ponto a ser analisado são os programas concebidos para serem veiculados dentro de uma grade de programação. Diante da oferta de conteúdos e do
7 Informações veiculadas na matéria “Para governos e radiodifusores, TVs conectadas e Ginga não são concorrentes”, de 10/11/2011. Disponível em: <http://itvbr.com.br/blog/destaque/para-governo-e-radiodifusores-tvs-conectadas-e-ginga-nao-sao-concorrentes>. Acesso em 15 jun. 2012.8 Segundo Gawlinski (2003), o programa Winky Dink and You foi o primeiro programa interativo da televisão, veiculado pela primeira vez em outubro de 1953, na rede de televisão americana CBS. O programa, em preto e branco, contava as aventuras dos personagens Winky Dink, Woofer, seu cachorro, Mike McBean e Dusty Dan, seus amigos, e o mágico Mysto. Era preciso comprar o “Official Winky Dink Kit” para interagir com o programa. Nele vinha um acetato para ser colocado na tela da televisão e crayons coloridos para desenhar sobre ele. Na narrativa do programa, havia espaços para que as crianças interagissem, sempre sob a orientação do apresentador, por exemplo, desenhar pontes para os personagens atravessarem ou para ligar objetos, entre outras ações. A primeira versão do programa ficou no ar por quatro anos. Apesar do sucesso, o programa foi retirado do ar atendendo pedidos dos pais, que acreditavam que a proximidade das crianças ao aparelho de televisão poderia prejudicar a saúde. Em 1969, o programa voltou ao ar, com uma nova temporada e episódios diferentes.

105P
ro
du
çã
o de C
on
te
úd
o Pa
ra t
ele
vis
ão d
igit
al n
o Br
as
il • Jo
ão B
aP
tis
ta d
e Ma
tt
os W
inC
k Fil
ho - l
eir
e Ma
ra B
ev
ila
qu
a
tempo como fator limitante, a grade foi desenvolvida para a radiodifusão analógica como forma de selecionar e organizar a informação para ser veiculada, em fluxo, ao longo do dia. Além disso, era preciso tornar a informação e o entretenimento interes-santes a um maior número de pessoas.
Assim, com os conteúdos organizados de forma temporal, o telespectador se acostumou a ter contato com uma programação que se desenrola de maneira fluida e coesa, entregue a toda a população homogeneamente.
Com a digitalização, esse cenário passa por mudanças. Existe, agora, a possibi-lidade de oferta de conteúdos por demanda, ou seja, segundo as necessidades do teles-pectador e não seguindo uma programação previamente estabelecida. Com isso, há que se considerar que a estrutura tradicional pode ser modificada e os programas tendem se transformar em “módulos televisivos”.
Segundo André Barbosa (CASTRO, 2005), o termo programa pressupõe conteúdo audiovisual linear, veiculado em uma grade de programação distribuída em fluxo contínuo. Já os módulos seriam produtos audiovisuais realizados com a finalidade de serem exibidos em televisão digital e em outras mídias, como computadores, telefones móveis, tablets e demais dispositivos que aceitem esses produtos. Por esse motivo, são pensados de forma não linear, para que o telespectador possa contribuir com a sua produção, escolher o que de fato quer assistir e também para que possam ser inseridos recursos interativos.
É importante ressaltar que desde o início do cinema já existiam produções não lineares. A diferença, com a televisão digital, é a possibilidade de participação da audiência na “montagem” do conteúdo (ANGELUCI, 2010). E essa cultura da participação é, segundo Jenkins (2008), um fenômeno global, resultante de uma nova geração, a geração transmídia, acostumada a consumir conteúdos de diversas mídias. Por esse motivo, além de definir como absorver a participação do telespectador (seja por meio do envio de conteúdo, na sugestão de assuntos ou como fonte de informação) também se torna necessário pensar como atender à demanda de produção para as diversas plataformas, de forma que não haja repetição de conteúdo, e sim que uma mídia seja capaz de complementar a outra, de acordo com as suas especificidades.
Por tudo isso, o processo de produção televisiva, operado nos estágios de pré-produção, produção e pós-produção, com a digitalização, requer aprimoramentos em cada uma dessas fases, além, é claro, de investimentos em equipamentos e capacitação profissional.
Com base no trabalho de Gawlinski (2003), é possível afirmar que a pré-produção é a etapa do processo produtivo que merece destaque. É que dela dependem as demais etapas, uma vez que as ações a serem implementadas são planejadas nesse momento.

106R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Com isso, pode-se dizer que o resultado do conteúdo audiovisual reflete os trabalhos desenvolvidos nessa fase inicial.
Para produzir conteúdos interativos há que se considerar que “não se trata apenas de áudio e vídeo, mas de software também” (BECKER et. al 2005). Então, além de desenvolver o conceito do material a ser veiculado, de escrever o roteiro, de agendar datas e horários de entrevistas e escolher locações, de determinar os equipamentos a serem utilizados (BONASIO, 2002) surge também, na pré-produção, a necessidade de pensar qual deve ser o conteúdo interativo, o que ele vai agregar ao conteúdo veiculado, qual a melhor forma de ser apresentado ao telespectador e para qual outra plataforma esse material pode ser disponibilizado após as devidas adequações de conteúdo e formato. Mais do que isso, quem serão os responsáveis por produzir todo o material e, no caso da interatividade, testá-la e programá-la para que, ao ser acionada, esteja inteiramente disponível.
Gawlinski (2003) compara, inclusive, o processo de produção de um aplicativo interativo ao da construção de uma casa. Durante a construção, primeiro é feita a fundação, depois as paredes, teto e janelas. E assim deve ser o desenvolvimento de um aplicativo. Passo a passo, cada etapa sendo considerada e muito bem detalhada. Não há nenhum problema se, durante o processo, a mudança na programação for equivalente à mudança da cor da janela. O problema é quando a mudança a ser feita é na fundação, ou seja, na programação de códigos específicos, o que poderia aumentar os custos e tornar o projeto inviável.
Isso faz com que novas funções sejam incorporadas nas redações televisivas, tais como programador, responsável por “montar” a interatividade, que trabalha tanto na sua concepção como na sua inserção no produto finalizado após a edição; e também o designer de interface, responsável por pensar no layout das aplicações interativas e em sua usabilidade, ou seja, na disposição dos recursos de forma a ser o mais intuitivo possível ao interagente.
Mais do que nunca, o trabalho em equipe é uma das exigências da nova lógica de produção digital, em especial nessa etapa em que o produto está sendo concebido e precisa de direcionamentos, para que não seja preciso realizar correções ao longo do processo.
E ainda que a interação planejada não seja por meio de aplicativos, mas com uso de celulares9 ou da Internet (chats e redes sociais), o processo de pré-produção também
9 Ao fim de 2011, o Brasil acumulava 242,2 milhões de linhas de celulares, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o que representa uma penetração de 123,87 linhas para cada 100 habitantes. Desse total, 81,81% dos celulares são pré-pagos. Esses dados dão a dimensão da importância do celular para consumo de conteúdo. Consumo esse que necessita de um modelo de negócios que o atenda, uma vez que a maior parte das linhas são pré-pagas e o usuário é que teria que arcar com os custos de acesso. Informações obtidas no site da Anatel: www.anatel.gov.br. Acesso em 05 jun. 2012.

107P
ro
du
çã
o de C
on
te
úd
o Pa
ra t
ele
vis
ão d
igit
al n
o Br
as
il • Jo
ão B
aP
tis
ta d
e Ma
tt
os W
inC
k Fil
ho - l
eir
e Ma
ra B
ev
ila
qu
a
precisa ser muito bem planejado, evitando-se as falhas de sistema. Por exemplo, o que será produzido para esses tipos de mídias, quem ficará responsável pela postagem dos conteúdos, quem vai receber, selecionar e encaminhar para a equipe de produção do programa as informações recebidas dos interagentes, qual o retorno a ser dado a esses colaboradores e como elaborar estratégias para realimentar essa parceria com os teles-pectadores. Tudo isso precisa ser considerado logo na etapa da pré-produção, pois a partir do que for decidido, estruturam-se as demais etapas de produção e pós-produção.
Outra mudança na fase de pré-produção está na concepção do roteiro para as gravações. É preciso estar bastante claro o momento em que as aplicações interativas serão inseridas, uma vez que dessa marcação depende uma série de outras ações, por exemplo, a captação de imagens. A disposição da imagem na tela faz toda a diferença e precisa ser planejada com bastante cuidado, para que não saia nada errado no momento da captação e o enquadramento pensado para a interatividade seja respeitado.
Pensando nessas mudanças, Angeluci (2010) propõe um modelo de roteiro que rompe com os modelos tradicionais, em duas colunas, uma de áudio e a outra de vídeo. Na proposta do autor, duas outras colunas precisam ser inseridas para tornar o roteiro mais claro. Na extremidade esquerda, a nova coluna apresenta a marcação das sequências de cena. Na extremidade direita, a coluna da interatividade é usada para descrever a entrada e a saída dos recursos interativos. As colunas tradicionais de vídeo e áudio ficam no centro, em posição invertida, a de áudio à esquerda e a de vídeo à direita. O objetivo é deixar próximas as colunas de vídeo e interatividade, para ser mais fácil a identificação das necessidades de produção.
Durante a produção, um grande desafio está na captação de imagens com os equipamentos digitais. Além da necessidade de o profissional entender o funciona-mento desses equipamentos, é preciso atender às especificações do roteiro, uma vez que as aplicações interativas já foram pensadas para determinados enquadramentos de imagem. Também é preciso considerar as especificações dos conteúdos para as demais mídias. Para os celulares, por exemplo, tornam-se inviáveis enquadramentos muito abertos, pois é difícil visualizar o conteúdo da imagem a partir de telas pequenas.
Imperfeições antes disfarçadas pela baixa resolução das fitas magnéticas, agora são reveladas pelas lentes das câmeras de alta definição – o que exige mais cuidado com detalhes tanto em estúdio quanto em externas. Outra questão é a forma de armazenar e recuperar materiais digitais, agora em arquivos, o que requer dos profissionais competências antes não exigidas, por exemplo, o conhecimento básico em informática.
A fase de pós-produção é o momento de finalizar tudo o que foi planejado e produzido. O processo de edição do conteúdo deixou de ser linear. Isso quer dizer que,

108R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
para editar um material, não é preciso respeitar a ordem exata em que ele foi gravado. Qualquer parte do conteúdo pode ser acessada e manipulada a qualquer tempo, sem prejuízos ao que vem antes ou depois.
Após a edição, parte-se para a inserção de recursos gráficos, como infográficos, efeitos de som e imagem. No caso do uso de aplicativos de interatividade nos módulos televisivos, é neste momento em que são inseridos.
Vale lembrar que os profissionais que deram início à pré-produção desses conteúdos precisam acompanhá-los, inclusive com testes e avaliações, enquanto ele está à disposição do interagente e em seguida, para verificar se atingiu o objetivo estabelecido. É também o momento, a partir da veiculação/disponibilização, de se avaliar possíveis mudanças que melhorem a qualidade do material.
5 Conclusão
Assim como a televisão analógica em seus primórdios “era entendida como um tipo especial de ‘rádio’, um rádio que ganhou imagem sincronizada” (MACHADO, 1995, p.13) por ter sua estrutura, programação, formatos e economia baseados em seu antecessor, para então conseguir construir a sua própria linguagem e formar profissio-nais especializados, pode-se dizer que a televisão digital tem início e se estrutura de forma semelhante. É certo que os contextos são bastante diferentes, porém a televisão, em essência, não vai deixar de ser televisão. Sendo assim, não é possível ignorar com-pletamente os processos já consagrados durante a fase analógica.
Contudo, há a visão de alguns autores, a exemplo de Cannito (2009), que acreditam na necessidade de uma reformulação total nos modos de produzir conteúdo digital. Seria necessária, inclusive, uma ruptura nas etapas que regem o processo produtivo (pré-produção, produção e pós-produção), que deixariam de ser rigorosa-mente sistematizadas para serem mais próximas umas das outras, até mesmo com o intercâmbio de profissionais.
É importante salientar que, tendo ou não como referência o processo de produção analógico, os produtores de conteúdo precisam se atentar para as novas necessidades da televisão digital e de seus telespectadores. A produção deve articular o seu pensamento em relação às tecnologias narrativas e de captação e essas numa engenharia de produção e distribuição, prevendo (ou não) a interferência do usuário nesse sistema narrativo, para uma ou mais plataformas, em consonância com os sistemas produtivo e distributivo que lhe dão suporte.

109P
ro
du
çã
o de C
on
te
úd
o Pa
ra t
ele
vis
ão d
igit
al n
o Br
as
il • Jo
ão B
aP
tis
ta d
e Ma
tt
os W
inC
k Fil
ho - l
eir
e Ma
ra B
ev
ila
qu
a
Referências
ANGELUCI, Alan César Belo. A interatividade na TV Digital Aberta: estudos preliminares em São Paulo/SP. Revista Geminis, São Carlos, v.2, n.2, p.180-197, 2011. Semestral. Disponível em: <http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/issue/view/3/showToc>. Acesso em 05 de dez. 2011.
______. Produção de Conteúdos na Era Digital: a experiência do “Roteiro do Dia”. 2010. 109f. Dissertação (Mestrado em Televisão Digital: Informação e Conhecimento) – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Bauru, 2010.
ANGELUCI, Alan César Belo; LOPES, Roseli de Deus; ZUFFO, Marcelo Knörich. Estudo comparativo entre TV Digital Aberta e TV Conectada no Brasil. In: XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2011, Recife. P. 1-16. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-3016-1.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2011.
BECKER, Valdecir et al. Datacasting e Desenvolvimento de Serviços e Aplicações para TV Digital Interativa. In: TEIXEIRA, César Augusto Camillo; BARRÉRE, Eduardo; ABRÃO, Iran Calixto (Org). Web e Multimídia: Desafios e Soluções. Poços de Caldas: PUC-Minas, 2005.
BONASIO, Valter. Televisão: manual de produção & direção. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2002.
CANNITO, Newton Guimarães. A TV 1.5 – A televisão na era digital. 2009. 302f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação). Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
______. Potenciais da linguagem da TV digital. Disponível em: <http://www.artv.art.br/informateca/escritos/new_media/ling_dig.htm> Acesso em 18 set. 2011.
CASTRO, Cosette. Conteúdos para TV digital: navegando pelos campos da produção e da recepção. In: FILHO, André Barbosa; CASTRO, Cosette; TOME, Takashi (org.). Mídias digitais: convergência tecnológica e inclusão social. São Paulo: Paulinas, 2005. p. 295-319.
DOU. (30 de Jun. de 2006). DECRETO Nº. 5.820, DE 29 DE JUNHO DE 2006 - Dispõe sobre a implantação do SBTVD-T, estabelece diretrizes para a transição do sistema (...) de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão, e dá outras providências. Diário Oficial da União.

110R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Enciclopédia Intercom de Comunicação. São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, 2010.
FERRAZ, Carlos. Análise e perspectivas da interatividade na TV digital. In: SQUIRRA, Sebastião; FECHINE, Yvana. (orgs.). Televisão digital: desafios para a comunicação. Livro da Compós 2009. Porto Alegre: Sulina, 2009.
GAWLINSKI, Mark. Interactive television production. Oxford: Focal Press, 2003.
JENKINS, Henry. A cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008.
MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. 3. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995.
MÉDOLA, A. S. L. D. Televisão digital, mídia expandida por linguagens em expansão. In: SQUIRRA, Sebastião; FECHINE, Yvana. (orgs.). Televisão digital: desafios para a comunicação. Livro da Compós 2009. Porto Alegre: Sulina, 2009a. p. 247-260.
MÉDOLA, A. S. L. D. Televisão digital brasileira e os novos processos de produção de conteúdos: os desafios para o comunicador. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. E-compós. Brasília, v.12, n.3, set/dez. 2009b.
MURRAY, J. H. (2003). Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo: Unesp, Itaú Cultural.
SCOLARI, Carlos Alberto. Ecología de la hipertelevisión. Complejidad narrativa, simulación y transmedialidad em la televisión contemporánea. In: SQUIRRA, Sebastião; FECHINE, Yvana. (orgs.). Televisão digital: desafios para a comunicação. Livro da Compós 2009. Porto Alegre: Sulina, 2009. p.174-201.
SOARES, Luiz; ANGELUCI, Alan César Belo; AZEVEDO, Roberto. A comunicação digital e a interdisciplinaridade na produção de conteúdo televisivo. Revista Comunicação Midiática, Bauru, v.6, n.1, p. 81-99, 2011. Quadrimestral.
TEIXEIRA, Lauro Henrique de Paiva. Televisão Digital: Interação e Usabilidade. 2008. 142f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Bauru, 2008.
WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. Ciência da Informação, Brasília, v.29, n.2, 2000.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 111-128
o olhaR e a contRa-peRspectiva
alexandRe davi BoRGes
suely FRaGoso
Professor de Comunicação e Fotografia da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), RS. Doutorando no Programas de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (PPGCom) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), RS.E-mail: [email protected]
Professora dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (PPGCom) e em Design (PGDesign) e do Curso de Design Visual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), RS. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.E-mail: [email protected]

ResuMo
Tendo como base as significações construídas pelas diferentes modalidades do olhar, propomos neste trabalho a noção de contra-perspectiva. A perspectiva - e, com ela, a imersão visual - diz respeito ao alinhamento entre os pontos de vista do observador teórico e daquele que efetivamente olha para a imagem. A contra-perspectiva, por sua vez, corresponde à visão daqueles que, sendo eles mesmos parte da imagem, simbolicamente olham para quem os vê. Após a descrição e discussão dessa construção espacial e suas características, discutimos brevemente o caso particular dos autorretratos e sugerimos possibilidades para pesquisas futuras.
Palavras-chave: ponto de vista, perspectiva, espaço
aBstRact
Based on the meanings built by different types of sight, we propose the idea of counter-perspective. Perspective - and visual immersion - is related to the alignment of the points of view of the theoretical observer and of the one who effectively looks at the image. Counter-perspective corresponds to the vision of those that, being themselves part of the image; symbolically look at those who see them. After describing and discussing this spatial construction and its characteristics, we discuss the case of self--portraits and suggest further possibilities for future studies.
Keywords: point of view, perspective, space

113R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
1 Introdução
Apresentamos neste trabalho a ideia de contra-perspectiva e, como sua decorrência direta, a existência de modalidades de experiência imersiva que se dão na direção inversa àquela em que o tema é normalmente abordado. Como
a proposta vai contra alguns pressupostos que já se encontram um tanto consolidados, optamos por ancorar a discussão nas variantes expressivas de uma tecnologia de re-presentação visual cuja presença é pouco frequente nas discussões sobre imersão: a fotografia. Essa opção nos permitiu concentrar a discussão nos aspectos relativos à visualidade e, ao mesmo tempo, evitar as questões relativas aos encadeamentos temporais e as formas narrativas que lhes são próprias. Consideramos, neste texto, que a fotografia é, a princípio, estática, e que, assim sendo, as narrativas que ela estabelece desenvolvem-se no espaço, não no tempo. Entretanto, em nome da clareza e, sobretudo, da fidelidade em relação às considerações que trazemos da literatura sobre imersão, em algumas ocasiões consideramos mais apropriado trazer para o texto outras técnicas e tecnologias mais comumente referidas, como é o caso do cinema e dos games.
2 Imersão
Inicialmente cabe apontar o entendimento do conceito de imersão em sua forma mais generalizada e também mais objetiva, justamente para, ao problematizá-lo, propor a ideia central da contra-perspectiva. Entre as definições mais conhecidas encontra-se a de Janet Murray (1998, p.98), que traz do sentido mais literal da imersão na água a ideia de sensação de estar totalmente mergulhado em outra realidade, que absorve nossa atenção e toma conta do nosso aparato perceptivo. Em seu famoso exemplo do Holodeck1, Murray aponta para todos os elementos aos quais se atribui a capacidade de criar experiências imersivas:a narrativa, a multisensorialidade e a interatividade.
1 O Holodeck é uma mídia narrativa multissensorial que aparece em episódios da série de ficção Jornada nas Estrelas, criada por Gene Roddenberry e iniciada na década de 1960.

114O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
O poder imersivo da narrativa foi trabalhado em diferentes meios, por exemplo, na
literatura, sob a forma de ‘suspensão de descrença’, ou no cinema, como uma forma
de ‘sonhar acordado’ (respectivamente em Coleridge e Metz, conforme Fragoso, 2013).
As técnicas que buscam o envolvimento multissensorial têm uma longa história, que
passa pelo uso de recursos olfativos e táteis como estratégias cenográficas teatrais e
se materializa tecnologicamente em diversos dispositivos, o mais famoso dos quais
o Sensorama, dos anos 1960 (Fragoso, 2002). Finalmente, a interatividade foi a grande
novidade que trouxe o tema de volta ao centro das atenções, aparentemente atenuando
as demandas do acordo de espectador que condicionava a experiência imersiva nos
meios ‘passivos’ (Metz, 1982). Isso se deve ao fato de que a interatividade, que é própria
dos meios digitais, permite interferir sobre os dois outros condicionantes da imersão:
a narrativa e a experiência sensorial. O exemplo utilizado por Murray é particular-
mente ilustrativo: em sua interação com o Holodeck, a comandante da Enterprise altera
a narrativa afetando seu desenvolvimento pelo que diz ou os modos como age, mas
também experimenta o mundo ficcional ao ser abraçada por um dos personagens, ou
sentir o gosto de uma bebida.
Em meio à trajetória dos dispositivos e estratégias de imersão multissensorial,
as telas prevaleceram como suportes privilegiados da enunciação audiovisual. Desde
as grandes pinturas até o IMAX, passando pelas múltiplas proporções e dimensões das
tantas telas que nos circundam nos dias de hoje, a história da imagem fala da importância
da representação em superfícies planas. Em sua atual variedade de tamanhos e mate-
rialidades, as telas desempenham um papel fundamental na multiplicidade espacial
da paisagem contemporânea, povoada de imagens bidimensionais, enunciadas em
telas de pintura e de celulares; telas de televisão e de porta-retratos digitais ou, ainda,
em superfícies mais tradicionais, mas nem por isso menos frequentes, como o papel
fotográfico ou a página impressa. De acordo com Nikos Salingaros (1999), a informação
a partir da qual construímos nossa percepção da espacialidade advém das superfícies
que nos circundam (nos exemplos do autor as fachadas dos prédios, o pavimento das
ruas, por exemplo, mas também, acrescentamos os outdoors, os cartazes, etc.). De modo
semelhante, consideramos que é prioritariamente a partir do olhar (prioritariamente,
e não exclusivamente) que passamos a nos relacionar substancialmente com o espaço
à nossa volta. Assim, é na relação entre o olhar e as superfícies que a ele se oferecem
que se constitui, de forma muito intuitiva e seminal, a nossa experiência espacial. Por
isso mesmo, nossa relação com os mundos representados nas muitas telas das mídias
audiovisuais constitui uma forma de imersão, o que pode ser compreendido a partir
da metáfora do espelho - e de seu atravessamento. Como nos aponta Arlindo Machado:

115R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Atravessar o espelho tem um sentido mágico na nossa cultura. O espelho é justamente o lugar onde vivem as imagens, essas entidades virtuais que “imitam” gestos e comportamentos das criaturas de nosso mundo, mas cuja existência é puramente luminosa. Atravessar o espelho significa, portanto, entrar dentro da imagem, existir como pura possibilidade dentro de um mundo virtual, um mundo sem espessura, sem densidade, onde, em princípio, tudo é possível. (MACHADO, 2007, p. 163)
A semelhança entre os limites impostos pela superfície do espelho e pela planura da tela ajuda a compreender alguns pressupostos que se ocultam por trás da ideia de imersão. Como bem lembra Arlindo Machado, Jacques Lacan também recorreu à metáfora do espelho para explicar o processo através do qual passamos a reconhecer a nós como sujeitos, separados da mãe e, por extensão, de tudo que nos é outro (Lacan, 1949). Uma dissociação de mesmo tipo está implícita na ideia de imersão, pois a ilusão de estar em outro espaço e tempo depende da aceitação de uma separação cartesiana entre o sujeito e o mundo. Em outras palavras, para aceitarmos a viabilidade da imersão é preciso aceitar, antes, que o mundo e as coisas do mundo nos são exteriores. Só assim podemos nos identificar como subjetividades que são essencialmente imateriais e, por isso mesmo, podem experienciar a representação - o outro lado da tela - do mesmo modo como vivenciam o mundo físico.
Entretanto, nossa convicção pessoal vai em outra direção, mais afinada com a perspectiva fenomenológica, segundo a qual não estamos dentro do mundo, nem o mundo está lá fora, separado de nós. Para Martin Heidegger (2001), o entendimento do mundo é essencialmente um entendimento de como nos situamos nele, de modo que nossa existência no mundo configura o modo como o compreendemos. Por decorrência, “[o] mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito que não é senão projeto do mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um mundo que ele mesmo projeta” (Merleau-Ponty, 2006, p 576). Essa indivisibilidade implica que o sujeito não está contido no mundo, nem faz parte do mundo como um corpo que abriga uma consciência. Nossos corpos são, também eles, nossas consciências - e portanto não podem ser deixados para trás durante uma experiência imersiva. Nasce aí, de certa forma, a origem da proposição da contra-perspectiva, como um movimento não para passar, cognitivamente, para ‘o lado de lá’; mas para identificar-se e compartilhar um espaço que é inaugurado pela intersecção entre o olhar que se dirige à imagem e o(s) olhar(es) que, de dentro dela, também olham para quem olha para elas. Um espaço, portanto, que pertence aos dois lados do plano da representação ou, para voltar à metáfora anterior, aos dois lados do espelho.
Dissemos que seria apenas na vigência de um conhecimento de mundo

116O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
baseado na dualidade cartesiana entre o sujeito e o mundo, a consciência imaterial e as coisas materiais, que a imersão nas representações poderia acontecer. Nesse sentido, acreditamos que a imersão depende de um conjunto de concessões, que seriam aquelas que autores anteriores tentaram descrever com expressões como “suspensão de descrença” (Coleridge, 2004), “criação de crença” (Murray, 1998) e “acordo de espectador” (Metz, 1982) Todas essas proposições dizem respeito, justamente, a deixar de lado possíveis percepções e compreensões anti-cartesianas, intuitivas ou raciona-lizadas, que trariam à tona questões de outra natureza comprometendo a experiência imersiva. Porém, essa proximidade entre a ideia de imersão e o cartesianismo não nos obriga a descartar a perspectiva fenomenológica - na verdade, é apenas devido a ela que podemos nos aventurar a discutir a imersão em outros termos que não os de experiências narrativas, multissensoriais e/ou interativas, como é de praxe (Murray, 1982; Machado, 2007).
A ideia da contra-perspectiva trata do reverso da imersão nas representações das imagens tecnologicamente produzidas, cuja profusão domina a paisagem contemporâ-nea, caracterizando-as como elementos indissociáveis de nossa existência e experiência no mundo e de nosso conhecimento sobre o mundo. Na medida em que os espaços físicos confundem-se e complexificam-se com as representações enunciadas nas telas com as quais nos relacionamos no dia-a-dia, faz cada vez menos sentido tentar separar nossas experiências sensóreo-cognitivas em termos da materialidade das coisas do mundo versus a imaterialidade das imagens. Ou seja: as imagens enunciadas nas telas evidenciam a complexidade das relações espaciais estabelecidas entre nossos corpos, as coisas materiais e as coisas imateriais. Com isso, elas nos propõem novas compreensões do mundo e de nós mesmos. Diante da espacialidade assim instituída e do caráter inaugural da ideia de contra-perspectiva - ou pelo menos de alguns dos seus aspectos -, optamos por restringir nossas considerações, na medida do possível, ao caso das imagens fotográficas e estáticas, enunciadas em telas planas. Ainda com essa restrição, no entanto, a questão rapidamente se expande, mesmo porque as enunciações nas telas não independem dos esforços de intersecção que procuram aproximar o observador e a produção simbólica que a ele se oferece, sobretudo no que diz respeito à multissen-sorialidade. Quer dizer: a relação que temos com a planura das telas (desde as telas de pintura, do cinema, da TV e, mais recentemente, dos monitores) parece ter muita ligação com o “contato” visual que engendramos sobre estas superfícies - porém, o contato físico entre olho e tela também vem sendo transformado, pelas técnicas relativas à in-teratividade (como na experiência de controle visual dos games) e pela incorporação de novos sentidos (tátil, olfativo, sonoro). Neste texto, entretanto, o que nos interessa não

117R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
são as estratégias tecnológicas, mas as questões cognitivas, as aproximações e reflexões propostas pela transformação do entendimento do próprio olhar através da tela.
Para tratar disso, consideramos inicialmente modalidades de ‘envolvimento visual’ propostas pelas estratégias que direcionam o olhar para as telas, às quais designamos tentativamente: olhar perpendicular; olhar oblíquo; olhar paralelo e olhar sobreposto. Somam-se a esses, pela via da interatividade, a incrustação. Tendo apresentado esse conjunto de noções, passamos à proposição central deste trabalho, a contra-pers-pectiva e, finalmente, a um exercício de aplicação dessa ideia, voltado para os retratos fotográficos.
3 Olhares
Os nossos olhares, contatos tão próximos e objetivos com as coisas do mundo que vivemos (e somos) são representados midiaticamente pelos pontos de vista tomados pelas câmeras. As relações espaciais que constroem esses olhares mediados são importantes para as significações propostas pelas imagens.
3.1 O olhar perpendicular
Estamos chamando de olhar perpendicular aquele em que a localização da câmera situa o observador em um ângulo de aproximadamente 90º em relação ao eixo da cena. As imagens assim constituídas correspondem à famosa metáfora da pintura como uma janela por meio da qual se vê a cena retratada (Alberti e da Vinci apud Fragoso, 2005, p. 24), bem como da ‘quarta parede’, desaparecida ou invisível, que carrega de impar-cialidade o ponto de vista do espectador de teatro2. Muito já foi dito sobre esse tipo de construção transparente como uma estratégia cultural de imediação, conforme proposta por Bolter e Grusin (1999). Para o nosso trabalho, é importante notar também que essa ilusão de um plano transparente metafórico através do qual se vê a pintura ou o teatro não é apenas uma estratégia de produção de realismo, mas também uma demarcação do limite entre o que é interno e o que é externo à representação, ou seja, entre a imagem e seu observador. O olhar perpendicular posiciona o observador fora da imagem, o que, de certa forma, o isenta de qualquer posicionamento (diegético ou emotivo) em relação aos elementos e acontecimentos da cena. Essa imparcialidade já dá claros sinais do acordo de imediação (Bolter e Grusin, 1999) que se estabelece entre o observador e a enunciação. Ao adotarmos este ponto de vista, antes do que qualquer outro sentimento, propõe-se
2 O uso dessa expressão no âmbito do teatro remonta ao século XVIII e sua origem é geralmente atribuída a Denis Diderot.

118O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
que nós não estamos ali (ou não somos percebidos) e, portanto, a mediação também não está ali. Essa imparcialidade, agregada ao voyeurismo promovido por tal modo de olhar, já dá claros sinais do acordo de imediação que se estabelece entre o observador e a enunciação. Ao tomarmos este ponto de vista, antes do que qualquer outro sentimento, parece mesmo que não estamos ali (ou não percebemos). Ao não sermos vistos, aquilo que “olha” os personagens também não está ali.
3.2 O olhar oblíquo
O olhar oblíquo é uma estratégia de representação cujo lugar é intermediário entre o olhar perpendicular e o olhar paralelo (que descreveremos a seguir) e que, por isso mesmo, apresenta características de ambos. A literatura muitas vezes não distingue entre o que estamos chamando de olhar oblíquo e olhar paralelo, denominando a ambos “câmera sobre o ombro”, já que em ambas o posicionamento da câmera se aproxima do ponto de vista de um dos personagens (ou elemento do cenário). Nossa diferen-ciação visa demarcar alguns aspectos que consideramos importantes para a questão da imersão na imagem fotográfica. O olhar que estamos chamando de oblíquo guarda muita semelhança com o olhar perpendicular, primeiro porque mantém o princípio do plano invisível, e portanto o acordo de imediação e, também, porque também posiciona o observador explicitamente fora da representação. O olhar oblíquo diferente daquele, entretanto, pelo posicionamento da câmera, que é colocada em um ângulo menor que 90o em relação aos elementos centrais da imagem, de modo que é possível ver a cena representada e, ao mesmo tempo, um semi-perfil, pelas costas, de um personagem que faz parte dela. O observador é direcionado para o olhar desse personagem, mas não chega a adentrar a cena. O que se propõe ao observador parece ser que ele continue desempenhando o papel de voyeur, mas de um voyeur autorizado e privilegiado.
3.3 O olhar paralelo
O olhar paralelo é criado por um posicionamento de câmera que incide sobre a cena visualizada desde um ponto bastante próximo à cabeça de um de seus personagens. Optamos pela denominação paralelo porque o ponto de vista ‘corre’ no mesmo eixo do olhar do personagem - o qual, no entanto, não deixa de aparecer na cena. Assim, o olhar paralelo não corresponde a um compartilhamento do ponto de vista do personagem, o observador não ‘é’ o personagem. Ele está (ou pode estar) dentro da cena, mas quem efetivamente participa dela é o outro.

119R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Curiosamente, embora a câmera paralela seja a primeira a propor a ilusão de
imersão, no sentido de um certo tipo de presença (ainda que muito peculiar) na repre-sentação, o olhar paralelo é também o mais evidentemente mediado de todos os classi-ficados neste trabalho. Isto ocorre justamente porque esse olhar cria uma distorção no acordo de imediação, na medida em que ao mesmo tempo intensifica a transparência ao situar o observador dentro da cena, e a contradiz, ao delegar a ele uma posição impossível, na qual ele é ao mesmo tempo voyeur e cúmplice. Em outros termos, o olhar paralelo ao (olhar do) sujeito posto na cena constitui uma estratégia de busca de transparência, mas cria uma ambiguidade (‘sou ou não o personagem?’) que acaba por tornar mais presente a própria superfície da tela, enquanto artefato material. Assim, não sendo nem externo, nem interno à cena representada, o observador é permanente-mente lembrado da situação de mediação pela visão constante do personagem ao seu lado e à sua frente.
Por outro lado, justamente por essa característica, esse ponto de vista é favorável para narrativas audiovisuais interativas, como os games, que o exploram amplamente. O olhar paralelo estabelece o mesmo tipo de ambiguidade que a “dupla consciência” que Salen e Zimmerman (2004) identificam no gameplay, quando o jogador está plenamente consciente da situação de jogo e, ao mesmo tempo, profundamente absorvido por ela. Do mesmo modo, diante das fotografias em olhar paralelo, olhamos para o personagem no cenário, o que nos alerta sobre nossa exterioridade em relação à cena e chama atenção para o caráter mediado da experiência, Por outro lado, sabemos que estamos vendo o mesmo (ou quase o mesmo) que o personagem vê, o que nos impulsiona para dentro da representação. Consideramos, por isso, que o olhar paralelo seja um exemplo particu-larmente apropriado da simultaneidade de estratégias de imediação e hipermediação em uma mesma representação.
3.4 Olhar sobreposto (e incrustação)
O olhar sobreposto corresponde ao que, no cinema, costuma-se chamar de ‘câmera subjetiva’, uma estratégia que busca a máxima identificação entre o olhar do observador e o de um personagem ou elemento interno à cena. O olhar sobreposto procura alinhar perfeitamente o ponto de vista o observador com o de um participante da representa-ção e é, portanto, uma estratégia que procura a máxima imersão visual. Colocar o ponto de vista do observador dentro da cena é uma tentativa de eliminar os resquícios de hi-permediação das outras modalidades de olhar, para ficar com a imediação mais pura. Este é um ponto de vista relativamente comum na fotografia, cuja utilização no cinema

120O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
é dificultada pelas diferenças entre os tempos da narrativa e do espectador, bem como pelas quebras de continuidade (Machado, 1997).
Sob outro prisma, o olhar sobreposto é muito utilizado nos games, correspon-dendo praticamente a um gênero em pleno direito dentro dessa categoria de produtos midiáticos. Isso porque a interatividade é especialmente convergente com o olhar sobreposto, na medida em que ambos procuram situar o observador dentro da repre-sentação, configurando uma forma de ‘corporificação’. Esse movimento intensifica o envolvimento entre o observador e aquilo que lhe surge na tela de tal modo que, em nosso entender, estabelece um regime especial de identificação, ao qual denominamos incrustação. A incrustação já não é um olhar, mas uma forma de presença na represen-tação, que resulta da formação de vínculos cognitivos e emocionais especialmente intensos, somados a atravessamentos frequentes do plano transparente metafórico. Em um certo sentido, a incrustação seria a forma por excelência da imersão nos sistemas dotados de interatividade, uma vez que, corporificados na cena, somos incluídos no produto audiovisual (fotografia, filme, games, etc.) de modo mais intenso e próximo (frequentemente como um personagem).
Apesar de ser possível entender a interatividade como um fator de intensifica-ção de imersão, ela está em permanente tensão com a ideia de transparência e o regime imersivo. Ao ampliar o compartilhamento espacial entre aquele que vê a cena e aquele que está na cena, o olhar sobreposto é também um atenuante das incompatibilidades entre a imediação e o exercício da interatividade. Para entendermos isso, é interessante retornar uma colocação anterior, quando chamamos a atenção para o fato de que o próprio plano transparente (metafórico) através do qual as representações são vistas demarca a separação entre o que está de um lado da tela e o que está de outro. O olhar sobreposto transfere o ponto de vista do jogador para dentro do jogo, mas o exercício da interatividade demanda ações que são exercidas por ele ‘do lado de cá’, fora do jogo. Entram aí as interfaces, mais evidentemente (mas não apenas) as de hardware, que tanto são instrumentos de entrada de dados (de imersão) quanto invasoras do espaço físico. Isso explica o contra-movimento de busca de realismo e imediação que guia o desen-volvimento das interfaces de hardware no sentido da ampliação de sua projeção sobre os corpos dos usuários. Luvas, capacetes, joysticks, sensores de movimento, também se revelam como esforços na tentativa de envolvimento do usuário com a tela através da hipermediação, procurando restabelecer o equilíbrio que viabiliza a experiência imersiva.
As interfaces de hardware são normalmente vistas como atravessamentos que vão do espaço físico para a representação. Entretanto, a troca de informações através

121R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
delas é de mão dupla: tanto no sentido mais evidente do feedback háptico quanto no nível simbólico em que as determinações do software condicionam as funções mesmo das interfaces mais tradicionais, como teclados, e portanto afetam e orientam também a corporalidade do jogador. Vistas como acréscimos que preenchem lacunas entre o observador e a representação, as interfaces de hardware se aproximam do conceito central que propomos neste trabalho.
Figura 1: Modalidades do olhar. No alto, à esquerda, olhar perpendicular e à direita, olhar oblíquo. Embaixo, à esquerda olhar paralelo e à direita olhar sobreposto.
4 Contra-perspectiva
Tendo tratado das modalidades do olhar que se direciona para a tela e percebido a importância do espaço que separa o observador da representação, passamos agora à proposta central deste texto, que é a ideia da imersão pela contra-perspectiva - ou, mais precisamente, da contra-imersão.
Muito sucintamente, é possível dizer que a contra-perspectiva se estabelece pelo olhar do sujeito que, estando na imagem, é olhado, mas que, ao mesmo tempo, de dentro da imagem, nos olha. Não é difícil perceber que o entrecruzamento desses dois olhares, do observador e do personagem, estilhaça o plano transparente metafórico que separa a representação do espaço físico. O resultado, entretanto, não é a quebra da imediação ou do realismo, mas a ocupação, por esse olhar que nos olha, do espaço que antes nos mantinha do ‘lado de cá’ da tela.

122O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
4.1 O olhar que nos vê
A noção de contra-perspectiva é muito próxima do olhar sobreposto (ou da câmera subjetiva) mas, ao mesmo tempo, muito diferente deles. Assim como eles, a con-tra-perspectiva envolve o alinhamento dos pontos de vista do observador e da câmera. Porém, ao contrário deles, a contra-perspectiva não diz respeito ao que o olho da câmera estaria vendo, mas ao olhar de quem estaria vendo o que a câmera vê. Ou seja, o observador não se identifica com a câmera pelo que ele mesmo vê, mas pelo olhar que se dirige a ele, pelo fato de que ele mesmo é (simbolicamente) visto. Entendemos por contra-perspectiva a atribuição (ou devolução), ao personagem que vemos ‘dentro’ da tela,do poder (imaginado) de olhar para fora, para o outro lado do plano transparente. O que interessa nesse movimento é que, através da instituição desse olhar, a contra--perspectiva registra a inclusão espacial e simbólica do observador na representa-ção: a contra-perspectiva é, portanto, uma estratégia de representação que promove a experiência imersiva. Sob outros termos, podemos dizer que é pelo olhar daquele que é visto que nos incluímos; é pela perspectiva que se projeta sobre nós que somos ainda mais engajados na relação espacial.
Figura 2: Contra-perspectiva.
A contra-perspectiva corresponde a uma segunda face da imersão das imagens em perspectiva, a primeira sendo aquela que engaja a sensibilidade do observador desde sua projeção no ponto de vista. Afinal, como bem nos lembra Arlindo Machado, o próprio ponto de vista sempre fez parte da representação:

123R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
o ponto de vista está inscrito na tela através do afunilamento dos planos em direção ao ponto de fuga. Em outras palavras, o sujeito, embora ausente da cena, encontra-se nela embutido pelo simples fato de que a topografia do espaço está determinada pela sua posição: as proporções relativas dos objetos variam conforme esses objetos se aproximam ou se afastam do ponto originário que organiza a disposição da cena. (MACHADO, 2007, p. 23)
Ou seja, o observador está inscrito na imagem, na posição daquele que a vê. Ocupa, portanto, o lugar que é indicado pelo ponto de vista em função do qual a pers-pectivação é construída. Nossa ideia da contra-perspectiva depende disso, já que o que propomos é que, ao ocupar esse lugar, o observador necessariamente se torna objeto do(s) olhar(es) que, na representação, dirijam-se ao ponto de vista. Estamos falando que o observador está interligado ao espaço representado na tela tanto porque a repre-sentação só se organiza e passa a fazer sentido quando ele concorda em emparelhar seu olhar com o ponto de vista, quanto porque é (ou pode ser) cooptado por olhares daqueles que estão na planura da imagem. A contra-perspectiva não é, portanto, uma contradição ao conhecimento já estabelecido sobre a perspectiva, mas uma percepção adicional de sua complexidade.
O que a noção de contra-perspectiva revela é o poder desse movimento que transforma o observador em observado. Isso poderia ser compreendido metaforica-mente como um movimento de ‘abraço’ proposto pelo sentimento do olhar do outro sobre nós. O sujeito que está vendo não pode realmente ‘entrar’ na tela, mas pode experimentar a imersão pela via da projeção de seu próprio olhar no ponto de vista. Assim também o que está na tela não pode realmente sair para abraçá-lo, mas o olhar de quem está na tela amplifica - e transforma - a experiência imersiva. Trata-se, portanto, de uma inversão do vetor de imersão, uma imersão ‘por sufocamento’, como a imensa garganta da baleia Moby Dick, que nos leva para dentro, nos prende, mas não nos mata. Ficamos vivos dentro dela, observados por seres que, por outras vias, são ‘nativos’ daquele ambiente.
A contra-perspectiva identificaria então um outro patamar de relação espacial com a representação, que complexifica ainda mais a relação com as múltiplas telas que povoam a paisagem contemporânea, em um turbilhão de pontos de vista muitas vezes concorrentes entre si (Fragoso, 2005). Não apenas nos projetamos simbolicamen-te em cada um desses lugares representados, somos também ‘engolidos’ por cada um deles. Na vigência dos dois sentidos desse vetor de observação, estabelece-se uma força imersiva cuja força se aplica a todas as tecnologias de representação visual que fazem uso de câmeras, ou baseadas na codificação perspectivada. No que concerne a contra-

124O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
-perspectiva, nenhuma delas fica a dever à experiência imersiva de nenhuma outra, mas a maior intensidade tende a se estabelecer nas imagens estáticas produzidas por câmeras: em uma palavra, na fotografia. Isso porque, somando-se a todos os outros fatores de apagamento da mediação próprios da fotografia (Machado, 1984), a ausência de movimento favorece a continuidade do engajamento simbólico com o ponto de vista e, portanto, do vínculo entre o olhar que observa a imagem e o olhar que observa a partir do interior da imagem.
4.2 Imersão por cooptação
A contra-perspectiva altera o entendimento das relações mediadas pela tela. Convocados pelo olhar de quem olhamos, somos envolvidos cognitivamente e atravessamos a superfície plana da tela. Seríamos – e estaríamos – nos dois lugares, dentro e fora da representação: como na dupla consciência de Salen e Zimmerman (2004), porém agora independente da interatividade. As situações cognitivas que a ideia de contra-perspectiva permite perceber estariam, desde já, afetando a noção de imersão: não estamos mais falando em imersão na tela mas, principalmente, de imersão pela tela. Embora a experiência imersiva se estabeleça mais propriamente na simultaneidade dos dois regimes do olhar, o que é próprio da contra-perspectiva permite considerá-la como uma inversão da imersão, uma contra-imersão, que se estabelece menos pela sedução da imagem do que por seu poder de cooptação.
A imersão promovida por esse movimento de cooptação ainda está relacionada ao entendimento cartesiano de sujeito e objeto, especialmente porque é ele que propicia a instituição do que se veio a chamar “observador de segunda ordem”. Em suas con-siderações sobre a proeminência do dualismo nas ciências humanas (e, acrescenta-mos, sociais), Hans U. Gumbrecht apresenta essa ideia de forma particularmente esclarecedora:
(...) the special nature of the sciences de l’homme (humanities) as the episteme of the nineteenth century lay in the double role assigned to humans as subjects and objects of observation. This historical configuration corresponds to the definition of second-order observer, who observes himself observing (as a first-order observer) and in whose field of vision blind spots of the first observer level therefore become apparent. One such blind spot of the previous episteme had been the human body as an instrument of world-perception and world--experience. (GUMBRECHT, 1998, pg. 356).
Percebe-se aí um outro aspecto de interesse da discussão sobre contra-perspec-tiva, que fica mais claro quando refletimos sobre dois aspectos nos quais as capacidades

125R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
promovidas pela cooptação da contra-perspectiva parecem concentrar-se: sua capacidade inclusiva e convocatória.
Ao tratar de vínculos que se originam na representação e avançam em direção ao espaço físico, a contra-perspectiva combina, agrega e complexifica a presença do sujeito (e seu corpo) ao mesmo tempo como experiência e como percepção. Por isso mesmo podemos falar em contra-perspectiva, não apenas em um contra-olhar paralelo. Trata-se da inversão dos princípios da perspectiva artificialis, que busca representar a relação entre nosso olhar e o espaço observado como um todo, não apenas a relação entre o ponto de vista e o ponto de fuga (tanto é que podem existir múltiplos pontos de fuga). Se há tempos nos acostumamos a aceitar que os recursos da perspectiva constituem um esforço de espelhamento do espaço físico, então devemos aceitar que o inverso também seria válido. Ou seja, quando somos vistos pelo personagem, o sistema através do qual ele nos vê é o reverso da perspectiva, ou uma perspectiva refletida. Desse modo, aquele que nos olha, mesmo que preso à tela, aplicaria sobre nós (e sobre o nosso espaço) as mesmas regras perceptivas e passaríamos, então, a compor o quadro da visão daquele que olhamos. É nesse sentido que a contra-perspectiva é inclusiva - porque a projeção do olhar que vem de dentro da tela para fora dela, agrega o espaço a partir do qual estamos olhando. Importante enfatizar que essa inclusão não se restringe a uma suposta consciência imaterial do sujeito, mas inclui seu corpo e todo o espaço que o circunda. Nós - nosso corpo e nosso entorno, mais que nossas imaterialidades - somos parte da ilusão de quem nos olha, justamente pela naturalização da perspectiva.
A contra-perspectiva também pode ser considerada convocatória, pois solicita ao usuário que faça parte, objetivamente, da narrativa representada na imagem. Enche-nos de responsabilidade na medida em que nos convoca a compartilhar tanto o espaço que pertence à narrativa quanto o espaço que nos pertence. Em outros termos, a contra-perspectiva reforça o sentido proposto pela câmera subjetiva, justamente porque parece devolver ao observador a sua existência (inclusive espacial) parcialmente perdida pela mediação do aparato fotográfico. Ela então convoca o observador a compreender os espaços simultâneos, mesclando consideravelmente as noções do eu, como sujeito que observa, e do outro que seria objeto de observação.
A intensidade do engajamento que parece ser promovida pela combinação dos poderes inclusivo e convocatório da contra-perspectiva revela possibilidades de significação e recepção relativas à força do olhar que se volta para a câmera (e, portanto, para o espectador), em diferentes produtos midiáticos, apontando para um objeto sobre o qual é preciso saber mais.
Por exemplo, tendo como base o que se explanou até aqui a partir das relações

126O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
projetadas pelo olhar sobre as telas e, propositivamente, sua posterior ampliação pela contra-perspectiva (o olhar que vem da tela) seria possível pensar,tentativamente, nas relações espaciais e cognitivas propostas por esses olhares, bem como suas possíveis ampliações, limitações ou alterações conforme os usos destas imagens.
Entendemos que esta ampliação do entendimento sobre o engajamento espacial e sensório que se institui com a contra-perspectiva amplia significativamente as noções de identificação e envolvimento não somente com as telas, mas principalmente, nas telas. Esta colagem ou, melhor, esta mesclagem (pois não apenas se obtém contato, mas se ultrapassa a superfície do contato) parece desafiar as ideias de imersão até hoje propostas, apontando para a necessidade de uma compreensão que dê conta da maior complexidade diagnosticada. Aquele que está sendo visto por nós, quando olha para a câmera, parece projetar uma perspectiva sobre quem olha para a imagem. Temos falado, até aqui, em termos do olhar de pessoas, mas o efeito pode ser causado por qualquer olhar frontal: é o calafrio causado pela imagem do tigre que parece ameaçar-nos ao voltar-se diretamente para o olho da câmera. Parece que este calafrio advém justamente do desvelamento do observador oculto, do voyeur frente ao seu olhado. Seguros e confortáveis, estávamos atrás de uma cortina translúcida que, quando cai, assusta-nos, mobiliza-nos e envolve-nos de uma maneira contundente . É então que a mediação parece realmente desaparecer, pois o produto midiático deixa de se interpor entre os dois mundos (o da tela e o do observador da tela), permitindo que se aproximem e, mais, se mesclem.
Perceba-se que consideramos que a contra-perspectiva não contradiz os princípios da perspectivação, nem muito menos exclui os seus efeitos. Mais do que isso: se todas as imagens em perspectiva nos convidam a mergulhar no espaço que elas representam, as imagens de pessoas que olham para o ponto de observação também o fazem e, ao mesmo tempo, convidam a si mesmas para participar do nosso espaço. Esta parece ser a motivação desta mesclagem. Se ao olhar, estou vivo e sou parte do mundo, aquele que me olha faz também parte deste meu mundo. Aquele que me olha me engloba pelo seu olhar e, ao compartilharmos dos mesmos espaços (perspectivados e cognitivos) somos um só, ao menos durante o nosso tempo de entrecruzamento de olhares.
Examinar como se ampliam os sentidos a partir desta contra projeção parece-nos rico sob muitos aspectos. Antes de mais nada, expandem-se as possibilidades de pensar a implicações das imagens dos retratos (antigos ou atuais) das pessoas. Complexificam--se as análises possíveis sobre a construção, apresentação e poder simbólico dos autor-retratos nos quais, segundo nossa noção de contra-perspectiva, não estamos apenas

127R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
diante da nossa própria presença, congelada no tempo e no espaço. Ao aceitar a ilusão
da perspectiva e do jogo de olhares da contra-perspectiva, concordamos em participar
do espaço e do tempo representados na imagem: somos nós mesmos que estamos do
lado de lá e do lado de cá da tela. Essa duplicidade, que não raras vezes é incômoda
em relação a terceiros, torna-se ainda mais perturbadora quando a nossa própria re-
presentação também nos observa - ou seja, quando o nosso próprio retrato institui a
contra-perspectiva.
Outras possibilidades de análises viriam complexificar as discussões sobre o
uso deste recurso de olhar para a câmera na publicidade, no fotojornalismo, na fotografia
documental ou antropológica, bem como nas decisões sobre postura dos personagens
nos materiais audiovisuais, como vídeo e cinema. Acreditamos, ainda, que a noção
de contra-perspectiva pode também servir de base para reflexões sobre o papel da re-
presentação do olhar em produtos interativos mais dinâmicos, como os games. Toda
a amplitude presumida das análises destes produtos midiáticos se fariam a partir da
complexidade de um fato que, em si mesmo, é muito simples: o fato de que, ao olhar
para a câmera, o personagem inaugura um novo espaço, que é justamente o espaço em
que estamos. É neste espaço que somos. Com essa interferência produzida pela contra-
-perspectiva podemos considerar que aquele que nos olha, reforça: ao existirmos do
lado de cá e do lado de lá, nós somos, estamos e fazemos desse espaço um espaço ao
mesmo tempo imersivo e invasivo, inclusivo e agregador. Nesse espaço, estamos todos
do mesmo lado.
Referências
AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas, SP: Papirus, 1993.
BOLTER, Jay. e GRUSIN, Richard. Remediation: understanding
new media. Cambridge: MIT Press, 1999
COLERIDGE, Samuel T. Biographia Literaria. EBook #6081, Project
Gutenberg, Release date: Julho de 2004, Última atualização: Janeiro de 2013.
Disponível em: http://www.gutenberg.org/ebooks/6081 [05/02/2013]
FRAGOSO, Suely. Lembranças dos mídias mortos. Conexão
Comunicação e Cultura (Caxias do Sul), v. 1, n. 1, 2002, p. 103-116.
__________. O Espaço em Perspectiva. Rio de Janeiro, E-Papers, 2005.

128O
Olh
ar e a c
On
tr
a-
pe
rs
pe
ct
iva • a
le
xa
nd
re d
av
i BO
rg
es - s
ue
ly Fr
ag
Os
O
__________. Imersão Em Games: Da Suspensão de descrença à encenação de Crença. In: Anais da Compós 2013 - XXII Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Brasília: Compós, 2013
FRAGOSO, Suely e ROSÁRIO, Nísia. M. Melhor Que Eu: um estudo das representações do corpo em ambientes gráficos multi-usuário online de caráter multicultural. Interin (Curitiba), v. 6, p. 3, 2008.Disponível em http://interin.utp.br/index.php/vol11/article/view/89 [15/03/2014]
GUMBRECHT, H. U. Perception versus Experience. In. LENOIR, T. (org.) Inscribing Science, Scientific Texts and the Materiality of Communication. Stanford: Stanford UniversityPress, 1998,pp. 351-364.
HEIDEGGER,Martin. Being and Time. Oxford: Blackwell Publishers Ltda, 2001.
LACAN, Jacques. “El Estadio del Espejo como Formadorde la Función del yo (je)”. Presented in XVI Congreso Internacional de Psicoanálisis, Zurich, 17/07/1949, 1949. Disponível em El Oriba, http://www.elortiba.org/lacan5.html[14/01/2008]
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas:Papirus Editora, 1997.
__________. A Ilusão Especular. São Paulo, Brasiliense, 1984.
__________. O sujeito na tela. Modos de enunciação no cinema e no ciberspaço. São Paulo: Ed Paulus, 2007
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
METZ, Christian. The Imaginary Signifier: psychoanalysis and the cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1982.
MURRAY, Janet. Hamlet on the Holodeck: the future of narrative in cyberspace. Cambridge: MIT Press, 1998.
SALEN, Katie e ZIMMERMAN Eric. Rules of Play: game design fundamentals. Cambridge: MIT Press, 2004.
SALINGAROS, Nikos. “Urban Space and its Information Field”, Journal of Urban Design, v.4, 1999, pp. 29-49. Disponível em: http://www.math.utsa.edu/ftp/salingar/UrbanSpace.html [31/11/1999]

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 129-145
GeRação DiGital: uMa Reflexão sobRe as Relações Da “juventuDe DiGital” e os caMpos Da coMunicação e Da cultuRa
juliano feRReiRa De sousa
MaRia cRistina Gobbi
Mestrando e Bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Comunicação Midiática da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC/UNESP Bauru). Jornalista pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC/UNESP Bauru) e Licenciado em História pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Orientado pela Profa. Dra. Maria Cristina Gobbi. E-mail: [email protected]; [email protected]
Pós-Doutorado pelo Prolam-USP (Universidade de São Paulo – Brasil), Doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). Vice-coordenadora e Professora do Programa Pós-Graduação Televisão Digital da Unesp de Bauru. Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática da mesma instituição. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Pensamento Comunicacional Latino-Americano do CNPq. Diretora Administrativa da Socicom. Diretora Secretária da Rede Folkcom. Orientadora da Dissertação. E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]

ResuMo
O presente artigo trata de um levantamento bibliográfico sobre o conceito de campo da comunicação e cultura, a partir dos conceitos de Bourdieu e sobre as características do Pós-modernismo no campo cultural da produção, difusão e crítica. Também será apresentada a definição de Geração Digital, para descrever a maneira como o jovem, que cresceu com o advento da tecnologia e da internet, enxerga o campo da cultura e como se dão as relações do campo com esse público. Utilizando como base de análise as teorias de Don Tapscott, traremos dados oficiais da difusão da digitalização no país e apresentaremos os resultados de um questionário de verificação aplicado para membros da chamada juventude digital.
Palavras-Chave: Geração Digital, comunicação, cultura, tecnologias, juventude
abstRact
This paper is about the concept of the field of communication and culture, based on Bourdieu’s concepts. It also aims the characteristics of postmodernism in the cultural field of production, diffusion and comment. This paper also is about Digital Generation definitions and describes how this youth see the culture field and how they interact with the culture, once they’re raised with the internet and new technologies of communication. Based on Don Tapscott’s theories this paper brings data about digital diffusion in Brazil and the results of a survey applied to Digital Generation.
Keywords: Digital Generation, communication, culture, technology, youth.

131R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
1 Introdução
O desenvolvimento tecnológico traz consigo alterações nos mais diversos campos da vida em sociedade. Nota-se, portanto, que antigos comporta-mentos e costumes de produtores e receptores de conteúdo midiático e/ou
cultural têm sofrido alterações, principalmente com o fortalecimento da internet como ferramenta cotidiana. Sabe-se que vem dos jovens a maior parte dessas mudanças re-ferenciadas, significando, assim, que são construtores de uma vanguarda que vem transformando as relações entre comunicação, organizações, produtores culturais e consumidores.
É importante frisar que existe uma parcela dos jovens1 brasileiros que cresceu acompanhando o desenvolvimento da informática e o fortalecimento da internet, que, com o passar dos anos, pôde ganhar espaço não só entre as elites financeiras, mas também na própria classe média.
O presente artigo se propõe a fazer uma breve reflexão sobre as mudanças comportamentais dos jovens, no que diz respeito à busca por informações, críticas ou comentários sobre os mais diversos produtos culturais. Em um debate inicial, utilizando o conceito de “campo” definido por Bourdieu e entendendo que o pós-modernismo trouxe alterações no chamado campo da cultura, buscaremos indícios de quais as plataformas, os críticos e os espaços que o jovem da Geração Digital (Tapscott, 2010) buscam e quais são as características desses jovens.
Serão aqui debatidos alguns autores, trazendo desde o conceito de campo até o comportamento do jovem da geração digital e as características das ferramentas disponíveis na internet (sejam as mídias sociais, o Youtube ou outros canais de com-partilhamento de conteúdos como os Blogs). Analisaremos, também, os dados obtidos por um questionário aplicado a um grupo de jovens pré-vestibulandos de 76 pessoas,
1 Consideramos jovem, nesse artigo, o indivíduo que Tapscott (2010) classifica como Geração Y ou Geração Digital, indivíduos que cresceram juntos das tecnologias digitais e aprenderam a conviver com elas, notadamente a internet.

132G
er
aç
ão D
iGit
al: U
ma r
ef
le
xã
o so
br
e as r
ela
çõ
es D
a “jU
ve
nt
UD
e DiG
ita
l” e os c
am
po
s Da c
om
Un
ica
çã
o e Da c
Ult
Ur
a • jU
lia
no f
. De s
oU
za - m
ar
ia c. G
ob
bi
para complementar e ampliar o que será discutido. É valido evidenciar, também, que o artigo vai tratar especificamente das camadas da população brasileira que tem acesso a internet e dos seus costumes, não tratando, assim, nesse momento, da exclusão social existente no país.
Sendo assim, dividiremos as reflexões aqui feitas em três partes. Iniciaremos com um debate teórico sobre o campo da cultura e das relações com o pós-modernismo, buscando entender quais eram as práticas de consumo e de produção tradicionais. Pos-teriormente, faremos uma reflexão sobre a juventude e a digitalização, para podermos analisar os dados coletados por meio do questionário proposto, confrontando os aspectos teóricos com os aspectos empíricos. A principal proposta, como já evidenciado anteriormente, é iniciar um debate sobre a juventude da era digital e sua relação com a produção e recepção de conteúdos.
2 Conceito de campo, cultura e o pós-modernismo
Para iniciar as discussões sobre as relações entre a juventude e o acesso, as tecnologias, a produção e a divulgação de informações, iremos aqui discutir o conceito de “campo” formulado por Bourdieu, pensando em estabelecer as relações entre os atores sociais envolvidos nesse processo. É necessário fazer uma reflexão sobre o que se alterou dentro das relações culturais com a chegada dos meios digitais e entender quem são os personagens que hoje têm destaque na produção e na difusão de produtos culturais. Ou seja, trataremos aqui das modificações ocorridas no campo cultural, prin-cipalmente do que é legítimo e de quem tem o poder de legitimar nesse espaço de interação.
Bourdieu considera o ‘campo’ um espaço social dotado de relativa autonomia, que é guiado por leis específicas e com hierarquia própria. O autor defende a teoria de que entre a produção e o contexto em que ela se insere, temos a realidade dos campos e que, na verdade, esses campos evidenciam qual é o universo no qual os agentes (atores do campo) e as instituições estão inseridos. É válido citar que essas relações são estabe-lecidas de modo contínuo, principalmente no que diz respeito à produção e difusão de arte, literatura e ciência (BOURDIEU, 2004, p.20). Existe uma luta para que os campos sejam autônomos, sem influências externas.
Nota-se que, para o autor, existe uma relação de legitimação e domínio das práticas estabelecidas dentro de um determinado campo. Ou seja, os dominantes exercem uma função de destaque no campo, tendo em si o poder de validação do que for ali estabelecido. Porém, nesse contexto também existe o grupo pretendente, que busca

133R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
chegar ao “centro” do campo, alterando, assim, as forças legitimadoras e os valores ali encontrados. A posição definida está diretamente relacionada com o momento e as ca-racterísticas daquele instante, podendo, como já foi induzido nesse parágrafo, se alterar a partir de modificações sociais e estruturais. Bourdieu (2008) evidencia de que forma acontece esse conflito, explicando a maneira que ele se estabelece:
O envelhecimento dos autores, obras e escolas não é, de modo algum, o produto de um deslize mecânico para o passado, mas a criação continuada do combate entre aqueles que fizeram época e lutam para que esta perdure, por um lado, e, por outro, aqueles que por sua vez, não podem fazer época sem remeter para o passado os que têm interesse em interromper o tempo, a eternizar o estado presente; entre os dominantes que estão comprometidos com a continuidade, a identidade, a reprodução, e os dominados , os recém-chegados, os que estão interessados na descontinuidade, ruptura, diferença, revolução. Fazer época é impor sua marca, fazer reconhecer (no duplo sentido) sua diferença em relação aos outros produtores e sobretudo, em relação aos produtores mais consagrados; é, inseparavelmente, fazer existir uma nova posição para além das posições ocupadas, à frente dessas posições, na vanguarda (BOURDIEU, 2008, p.88)
Essa busca por legitimação no campo, como evidenciado anteriormente, cria um embate entre o sistema tradicional de reconhecimento e um de vanguarda que tenta se legitimar. Sendo assim, tanto no campo científico, quanto no campo da produção ou no campo da difusão (campo comunicacional, midiático, no caso dos objetivos deste artigo) existem conflitos que são os responsáveis pela constante renovação. Vale frisar que um pretendente pode se tornar hegemônico ao longo do tempo e, por sua vez, mais adiante, tornar-se obsoleto e pode ser também substituído, em um ciclo de renovação.
Pode-se notar que a posição conservadora ou inovadora diante do campo pode ser explicada pela posição que um agente, um indivíduo, ocupa. Observa-se a existência de um capital científico dentro dessas relações descritas. De caráter simbólico, esses espaços permitem perceber que existe uma validação natural que configura quem tem autoridade naquele círculo, quem realmente tem posicionamento social de destaque para ser considerado dominante (BOURDIEU, 2004)
É preciso, nesse momento, aproximar os conceitos de Bourdieu com discussões importantes para o entendimento do jovem e das relações deste ator social com os mais diversos espaços de trocas e interações, chamados por Bourdieu de campo. Sabe-se que, historicamente, é da juventude que nascem movimentos de vanguarda, sejam esses politizados ou não. Porém, nota-se que, mesmo em momentos de renovação cultural, existe resistência acadêmica na aceitação dessas alterações, havendo, assim, dificuldade de pretendentes ascenderem e conseguirem acesso ao centro de decisões e

134G
er
aç
ão D
iGit
al: U
ma r
ef
le
xã
o so
br
e as r
ela
çõ
es D
a “jU
ve
nt
UD
e DiG
ita
l” e os c
am
po
s Da c
om
Un
ica
çã
o e Da c
Ult
Ur
a • jU
lia
no f
. De s
oU
za - m
ar
ia c. G
ob
bi
de legitimações de um campo específico.É válido frisar que no campo cultural, da comunicação e no científico, histori-
camente, as elites intelectuais e financeiras foram responsáveis por categorizar o que é “bom ou ruim”, “de boa qualidade ou não”, “publicável na mídia ou dispensável” (Featherstone, 1995). Isso, sem dúvida, está ligado à questão da “consagração nos campos”, em que Bourdieu defende que quanto maior o capital simbólico (científico) de um campo definido, mais importância tem em um sistema.
Sendo assim, percebe-se que essas discussões estão relacionadas à ideia de “cultura erudita” e de “cultura popular” ou “de massa”, que foram e ainda são reproduzidas pelas elites dominantes e que hoje, em uma era tecnológica de troca contínua de informações, são bastante discutidas2.
Embora não exista um consenso sobre a utilização da nomenclatura pós-mo-dernismo, nota-se que os comportamentos sociais ligados ao momento histórico que o termo descreve ajudam a entender como aconteceram várias mudanças dentro do campo de legitimação das relações culturais (Jameson, 2006). Indivíduos que, devido à estruturação do sistema, não teriam acesso e não seriam reconhecidos passam a ter chance de participar ativamente de variadas instâncias, pois as relações criadas entre os bens simbólicos acabam por se estabelecerem e se modificar.
Fazer uma reflexão sobre os valores pós-modernos é importante, neste artigo, pois trabalharemos o momento em que os jovens também passam a ser entendidos como produtores culturais e difusores de informações, alterando as estruturas de validação social e de consagração, citadas anteriormente. É evidente que isso é possível, também, devido aos meios digitais e as novas ferramentas de difusão, mas é graças ao modo diferente que o pós-modernismo encara a cultura que isso pode se tornar viável.
Desta forma, antes de pensarmos no atual momento, é importante buscarmos as origens do fenômeno acima descrito. Entende-se por pós-modernismo uma série de valores sociais difundidos na segunda metade do século XX, em um movimento de negação ao engajamento das ideais modernistas, que marcou o fim da ideia de que arte, política, literatura e outros campos são exclusivamente campos das classes dominantes (hegemônicas).
Featherstone (1995) evidencia algumas destas características, afirmando que houve uma mistura estilística generalizada, um estreitamento dos limites entre a vida das classes médias e a arte, e, principalmente, o enfraquecimento da ideia de existir
2 Reflexões iniciadas na disciplina de Jornalismo Cultural: conceitos, problemas e mediações; ministrada pelo Prof. Dr. Mauro de Souza Ventura. Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática – FAAC – UNESP/BAURU e, posteriormente, amadurecidas por revisão bibliográfica e leitura crítica.

135R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
uma alta-cultura e uma cultura de massa ou popular. Outro fator que é interessante ser citado é que a nova classe média, segundo o autor, passa a se inserir no contexto artístico, trabalhando tanto na produção quanto na mediação de conteúdo. Jameson (2006) também reflete que:
(...) característica dessa lista de pós-modernismos é a abolição de algumas fronteiras ou separações essenciais, notadamente a erosão da distinção anterior entre alta cultura e a chamada cultura popular. Esse talvez seja o desenvolvimento mais angustiante de um ponto de vista acadêmico, que tradicionalmente investe na preservação de um âmbito de alta cultura ou de cultura de elite, em contraposição ao ambiente ao seu redor – um ambiente de filisteus, quinquilharias e kitsch, de seriados de televisão e cultura de Reader’s Digest -, e na transmissão, aos seus iniciados, de difíceis e complexas habilidades de ler, ouvir e ver. Porém, boa parte dos recentes pós-modernistas ficou fascinada por aquela paisagem de anúncios e motéis das avenidas de Las Vegas, pelo Late Show e pelo Cinema B de Hollywood (...) (JAMESON, 2006, P.18-19)
Ligando as ideias trazidas nesse tópico e já preparando as reflexões sobre juventude e novos comportamentos, que serão feitas a seguir, é preciso falar que hoje temos uma nova configuração estrutural do campo da cultura e do próprio campo do jornalismo cultural. Se em outro momento, a academia, as escolas e a própria mídia era responsável por legitimar a alta-cultura, em um ambiente de consagração, hoje assistimos ao advento do que Jameson (2006) e Featherstone (1995) tratam como pós-modernismo. São quebradas barreiras conservadoras e as classes médias são aproximadas tanto da instância de produção quanto na de crítica e difusão (que até então eram função do jornalismo especializado tradicional). Prova disso é que o jovem digital pode produzir conteúdo e ser reconhecido por um determinado nicho, sem, necessariamente, passar pelas etapas antigas de consagração.
Estes debates vãos ao encontro das reflexões que serão feitas neste artigo. Com as tecnologias digitais, cada vez mais, a produção cultural e a difusão de notícias e comentários sobre o campo não são exclusividade dos grandes críticos e jornalistas, que em outrora legitimavam o campo, e sim de figuras/sites/blogs que foram consolidados pela própria audiência e pela classe consumidora de informação online. A juventude digital tem características peculiares, que fazem com que contestem, naturalmente, as estruturas pré-estabelecidas e que busquem, na velocidade da internet e por meio da construção de redes de influência, novas formas de se analisar o campo da cultura. Sendo assim, é importante agora uma reflexão acerca do que Tapscott (2010) chama de Geração Digital, buscando entender quais são os novos hábitos e quem são os novos personagens que ganham espaço no concorrido campo da cultura e comunicacional, que disponibilizamos a seguir.

136G
er
aç
ão D
iGit
al: U
ma r
ef
le
xã
o so
br
e as r
ela
çõ
es D
a “jU
ve
nt
UD
e DiG
ita
l” e os c
am
po
s Da c
om
Un
ica
çã
o e Da c
Ult
Ur
a • jU
lia
no f
. De s
oU
za - m
ar
ia c. G
ob
bi
3 Juventude e digitalização
Para iniciar de maneira eficaz as reflexões sobre a chamada Geração Digital, faremos uma retomada das características de outras gerações, partindo da classificação do pesquisador Don Tapscott (1999; 2010). Isso permite uma leitura analítica sobre as características geracionais que possibilitaram que parte considerável dos jovens com acesso a internet modificassem as relações com o campo da comunicação e da cultura por meio das novas mídias e das novas tecnologias.
Vale frisar que, por não ser o objeto de análise desse artigo, essa retomada conceitual das gerações será feita de maneira breve, apenas para contextualização dos debates que serão traçados a seguir. É valido evidenciar, também, que o artigo vai tratar especificamente das camadas da população brasileira que tem acesso a internet e dos seus costumes.
Para Tapscott (2010), levando em conta a sociedade norte-americana em sua definição, podemos definir os grupos em Geração Baby Boom (1946-1964), em que a televisão faz uma revolução nas práticas comunicacionais e de consumo, Geração X (1965-1976), quando as tecnologias digitais se fortalecem e se fixam como realidade e passam a se adaptar e buscar entender esse novo cenário. “São comunicadores agressivos e extremamente centrados na mídia” (Tapscott, 2010, p.25). Por fim, a chamada Geração Y ou Geração Millenium (1977-1997), que assimilam a tecnologia de maneira muito mais rápida, pois cresceram com ela, mudando os padrões de comportamento e criando culturas digitais. O autor ainda categoriza a existência de mais uma camada geracional, os denominados Geração Next ou Geração Z, que nasceram a partir de 1998. Esse grupo, completamente tecnológico, tem elevada capacidade de assimilação, interação e convivência digital.
Os adultos precisam adaptar-se a um processo de aprendizado diferente e bem mais difícil. Com assimilação, as crianças vêem a tecnologia como apenas mais uma parte de seu ambiente e a assimilam juntamente com as outras coisas. Para muitas crianças, usar a tecnologia é tão natural quanto respirar. [...] Assimilar a mídia digital é fácil em comparação com os outros desafios da vida (TAPSCOTT, 1999, p. 38-39).
Nota-se, desta forma, que a relação que o jovem3 estabelece com as mídias e com a própria recepção de bens culturais é diferente da forma que seus pais e avós assimilavam. Considerando que estamos entendendo como corpus de reflexão do
3 Consideramos jovem, nesse artigo o indivíduo que Tapscott (2010) classifica como Geração Y ou Geração Digital, indivíduos que cresceram juntos das tecnologias digitais e aprenderam a conviver com elas, notadamente a internet.

137R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
presente artigo os jovens com acesso a internet4 e que puderam fazer da tecnologia uma realidade em suas vidas, notamos que os costumes e a própria vivência em grupo evidencia características peculiares. Tapscott (2010) evidencia como, até no consumo de televisão, meio com maior apelo nas gerações anteriores, é consumido de maneira diferente pela juventude digital:
A Geração Internet assiste menos televisão do que seus pais, e o faz de uma maneira diferente. É mais provável que um jovem da Geração Internet ligue o computador e interaja simultaneamente com várias janelas diferentes, fale ao telefone, ouça música, faça o dever de casa, leia uma revista e assista à televisão. A tevê se tornou um a espécie de música de fundo para ele. (TAPSCOTT, 2010, p.32)
O autor também evidencia a maneira diferente que a nova juventude lida com as informações que recebem. Diferente das outras gerações, que observavam meios impressos, radiofônicos e televisivos em que o espectador era basicamente passivo, a nova geração tem uma cultura participativa, alterando, como já foi dito, o próprio campo da legitimação cultural, que deixa de estar apenas em alguns espaços legitimados e vai para as realidades virtuais. Nota-se, portanto, que os antigos dominantes da teoria de Bourdieu (2004) perdem espaço para novos pretendentes, que agora estão espalhados em nichos e que não são apenas receptores passivos e sim participantes do processo de consagração (mesmo que dentro de seus próprios segmentos de conhecimento e atenção). Kenski (2007) evidencia o discutido:
Os jovens da Geração Internet também não aceitam ser passivos diante de um processo comunicacional Os jovens não falam em novas tecnologias, falam do que fazem com elas, como criar um site, enviar um e-mail, teclar num chat ou no ICQ, jogar e brincar em rede com amigos virtuais localizados em partes diferentes do mundo, baixar músicas e clipes, enfim, utilizar naturalmente a capacidade máxima de seus computadores para interagir e juntos (KENSKI, 2007, p. 52).
Ampliando o que vem sendo debatido, esse jovem da Geração Y (ou Geração Digital) é engajado e não aceita simplesmente o que lhe é oferecido. Também evidencia que, em muitas vezes eles participam do próprio processo de produção cultural, como já adiantava Jameson (2006), questionando as relações tradicionais de dominantes e pretendentes. Tapscott (2010) defende a ideia de que o jovem atual é basicamente colaborativo:
4 Considerar-se-á nesse artigo, para análise do comportamento, os jovens com acesso aos meios digitais, ou seja, estão sendo considerados pelo autor como Geração Digital (Tapscott, 1999 e 2010), os membros das classes médias, que passam a ser produtores culturais em meior digitais, e as elites financeiras, que tem acesso em larga escala a essas novas tecnologias.

138G
er
aç
ão D
iGit
al: U
ma r
ef
le
xã
o so
br
e as r
ela
çõ
es D
a “jU
ve
nt
UD
e DiG
ita
l” e os c
am
po
s Da c
om
Un
ica
çã
o e Da c
Ult
Ur
a • jU
lia
no f
. De s
oU
za - m
ar
ia c. G
ob
bi
Eles são iniciadores, colaboradores, organizadores, leitores, escritores, autenticadores e até mesmo estrategistas ativos, no caso dos Videogames. Eles não apenas observam, mas também participam. Perguntam, discutem, argumentam, jogam, compram, criticam, investigam, ridi-cularizam, fantasiam, procuram e informam (TAPSCOTT, 2010, p.33).
Também é característica dessa geração a criação de redes online, por meio de mídias sociais e outras teias. Reforça-se a cultura de nichos, em que os jovens criam grupos de confiança e de consagração próprios. “Eles estão desenvolvendo o que eu chamo de redes de influência na internet, especificamente via mídias sociais. Essas redes de influência estão expandindo o círculo de amigos que você pode ter” (TAPSCOTT, 2010, p.225). É uma geração em que se torna difícil falar em culturas dominantes, de elite, popular, visto que a lógica digital torna as culturas pós-modernistas em híbridas, com influências das mais diversas realidades (Featherstone, 1995).
Essa geração de jovens e adolescentes, incluindo crianças em tenra idade, cria comunidades virtuais, desenvolvem softwares, fazem amigos virtuais, vivem novos relacionamentos, simulam novas experiências e identidades, encurtam as distâncias e os limites do tempo e do espaço e inventam novos sons, imagens e textos eletrônicos. Enfim, vivem a cibercultura. (FERREIRA; LIMA; PRETTO, 2005, p. 247)
Por fim, essa geração faz o uso da interatividade e valoriza tal recurso. Não está acostumada com processos unidirecionais de comunicação e tem considerável facilidade em assimilar novas tecnologias e de buscar/produzir conteúdos utilizando as novas plataformas. Gobbi (2010), em seu artigo “Nativos Digitais: autores na sociedade tecnológica”, discute o perfil desta geração:
Esses jovens fazem uso dos dois recursos utilizados pelas gerações anteriores. A televisão e a interatividade – propiciada inicialmente pela internet, muito antes do letramento (alfabetização). É a geração que associa o divertimento, a tecnologia; que aos três anos de idade tem aulas de computação e aos 5 procura vídeos no Youtube; brinca com Nintendo Wii, tem blogs e fotologs, diário digital e faz compras virtuais e redes de relacionamento, nos mais variados ambientes interativos. (...) Estes jovens estão acostumados com a interatividade, na acepção correta do termo. Também estão sendo criados para assumir o comando desde muito cedo. (GOBBI, 2010, p.31)
É nesse cenário de múltiplas possibilidades, onde o real e o virtual parecem não ter mais fronteiras, que se faz importante apresentar alguns dados estatísticos para que seja possível compreender a dimensão social e cultural em que esses aparentes embates geracionais vem ocorrendo.

139R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
4 Análises sobre a juventude digital
Para iniciar a última etapa de reflexões do presente artigo, faremos, primeira-mente, uma rápida retomada de dados estatísticos referentes ao acesso do brasileiro à internet e das características desse público. Posteriormente, serão descritos os resultados de um questionário aplicado a 76 pré-vestibulandos que declaram ter acesso a internet e conhecimento sobre as plataformas5. As idades variam de 16 a 25 anos, pois, para que as análises fossem válidas, era fundamental que o público entrevistado fizesse parte da já referenciada Geração Digital, definida por Don Tapscott (2010). A principal proposta de aplicação do questionário foi a de tentar observar, em caráter de verificação, se o jovem de fato tem mudado seus hábitos de consumo de informação.
Não se tratou de uma amostra representativa do universo estudado, mas permitiu que as primeiras reflexões pudessem ser feitas com base em dados empíricos, possibi-litando, a partir desses resultados, tecer alguns pontos que devem ser aprofundados para o entendimento sobre a cultura juvenil no universo tecnológico-midiático-digital.
4.1 Dados introdutórios
No Brasil, “o acesso6 à internet cresceu 143,8% entre a população com 10 anos ou mais de 2005 para 2011, enquanto o crescimento populacional foi de 9,7%. Apesar da disparada, 53,5% dos brasileiros dessa faixa etária ainda não utilizam a rede” (Folha de São Paulo, 15/05/2013, web7). Porém, quando pensamos na divisão por idade, nota-se que entre os jovens de 15 a 19 anos o índice é bem superior, chegando ao expressivo número de 74,1%, nos adolescentes de 15 a 17 anos, e de 71,8% na faixa etária de 18 a 19 anos. “O levantamento aponta ainda que quanto maior o número de anos de estudo, a inserção digital também é mais elevada” (Folha de São Paulo, 15/05/2013, web).
Além disso, dados divulgados8 no início de julho de 2013 pelo IBOPE Media, em conjunto com o CONECTA e youPix, também fazem uma reflexão sobre o jovem da Geração Digital, apresentando alguns dados estatísticos interessantes de serem citados. A pesquisa mostra que 60% dos jovens brasileiros tem o consumo de consumir mais de
5 É importante frisar que os questionários foram aplicados via Google Formulários e as resposta foram tabuladas pelo mesmo sistema. Além disso, foi feita uma conferência presencial das respostas, para garantir a fidelidade e a veracidade dos dados aqui analisados.6 O estudo, feito com dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), foi divulgado no mês de maio de 2013 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).7 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1279552-acesso-a-internet-no-brasil-cresce-mas-53-da-populacao-ainda-nao-usa-a-rede.shtml8 http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/IBOPE-Media-e-CONECTA-apresentam-perfil-do-jovem-brasileiro-no-youPix-Festival-2013.aspx

140G
er
aç
ão D
iGit
al: U
ma r
ef
le
xã
o so
br
e as r
ela
çõ
es D
a “jU
ve
nt
UD
e DiG
ita
l” e os c
am
po
s Da c
om
Un
ica
çã
o e Da c
Ult
Ur
a • jU
lia
no f
. De s
oU
za - m
ar
ia c. G
ob
bi
um meio de comunicação simultaneamente, comprovando o que já foi adiantado pelas reflexões teóricas aqui apresentadas. Além disso, mostra também que 92% dos jovens conectados acessam as redes sociais e 34% deles consideram essas novas mídias como uma espécie de companhia.
Observando-se os dados apresentados, pode-se perceber que existe uma parcela significativa da população que, devido a condições socioeconômicas, ainda não tem acesso às tecnologias digitais, em especial a internet. Porém, nota-se também que hoje a digitalização e o acesso à internet vêm ganhando destaque considerável entre parte dos jovens do país, crescendo a quantidade de pessoas que podem ser nomeadas como membros da Geração Digital ou Nativa Digital.
4.2 Resultados da Pesquisa Empírica
Para contar desses cenários, disponibilizaremos a seguir os dados da pesquisa empírica realizada pelos pesquisadores. Com o objetivo de evidenciar as características do público alvo do questionário, primeiramente, os entrevistados responderam sobre a sua faixa etária. Após a contabilização das respostas, 53% afirmaram ter entre 16 e 18 anos, 39% entre 19 e 21 anos e 8% mais que 21 anos. Todos se declararam internautas nativos, sendo assim, tipicamente enquadrados no que chamamos de Geração Y ou Geração Digital. Quando questionados “Qual meio de acesso à informação que você mais utiliza (o principal)?”, 93% citaram a Internet, 3% citaram os Jornais Impressos, o Rádio, a Televisão e Revistas Diversas foram citados por apenas 1%. Sobre a frequência de acesso desse público temos o seguinte:
Gráfico 01 – Frequência de acesso
Fonte: autoria própria – Google Formulários
Quando questionados sobre qual a principal forma de conexão utilizada, 70% afirma acessar, majoritariamente, de suas casas, por meio de notebooks ou desktops. Já

141R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
para 29% o principal meio de acesso são os dispositivos móveis (como celulares e tablets) e apenas 1% afirmou que acessam de outros lugares (ninguém selecionou as opções “Lan House” e “casa de amigos e parentes”).
É válido frisar, também, que 67% dizem já ter smartphones com acesso a internet, enquanto 23% ainda não tem acesso à rede de seus celulares. Sendo assim, refletindo à luz das discussões teóricas anteriormente construídas, podemos perceber que estamos falando de uma juventude consideravelmente conectada, que busca o acesso e a permanência em ambientes tecnológicos, seja de suas residências ou perma-nentemente de dispositivos móveis.
Quando os entrevistados foram questionados sobre qual o meio que eles procuram para se informar sobre filmes, músicas e outras atividades culturais, novamente pode ser percebido que essa geração tem na internet um canal decisivo de trocas de experiências, compartilhamento e busca por mediações culturais. Expressivos 89% dos entrevistados escolheu a opção Redes Sociais, Youtube, Blogs. Também foram selecionadas as opções Programas de rádio (4%), Suplementos Literários e Jornais (3%), Programas de televisão (2%) e Revistas Semanais (2%). Os gráficos a seguir, que tratam especificamente da relação entre essa juventude e o campo da cultura, complementam esse debate aqui proposto.
Gráfico 02 - Jornalismo Cultural
Fonte: autoria própria - Google Formulários
Gráfico 03 - Fatores de atração de atenção
Fonte: autoria própria - Google Formulários

142G
er
aç
ão D
iGit
al: U
ma r
ef
le
xã
o so
br
e as r
ela
çõ
es D
a “jU
ve
nt
UD
e DiG
ita
l” e os c
am
po
s Da c
om
Un
ica
çã
o e Da c
Ult
Ur
a • jU
lia
no f
. De s
oU
za - m
ar
ia c. G
ob
bi
As questões acima foram especialmente formuladas para testar as teses debatidas sobre os jovens internautas, típicos representantes da Era Digital. Quando consideramos os resultados do gráfico acima, nota-se que as tendências apresentadas pelos resultados vão ao encontro do que vinha sendo discutido sobre a mudança dos agentes dominantes.
Ou seja, se para as gerações anteriores, a cultura estava ligada a um jogo hegemônico, em que os especialistas tinham o papel de críticos e consagradores e a mídia tradicional de difusor da alta cultura e da cultura popular, como segmento separado, agora se pode perceber um panorama diferente. De acordo com dados apresentados no Gráfico 02, é a internet o principal canal de acesso ao campo da crítica de cultura, sendo majoritariamente em Blogs segmentados (comprovando a cultura de nichos, citada an-teriormente), Redes Sociais (e a criação de redes de influência) e por meio de vídeos de canais do Youtube que, em geral, trazem o humor em sua fórmula. O papel do grande crítico acadêmico, para a Geração Digital, certamente perdeu influência.
A análise detalhada permite afirmar que, para os entrevistados, o modelo (o modo de se fazer, formato) das matérias, vídeos e conteúdos produzidos é mais atrativo do que a existência de grandes jornalistas, críticos e produtores culturais. A preferência por interatividade, links, humor e textos objetivos confirma a tendência de que estamos diante de um jovem muito mais participativo, que não sabe ser passivo e que gosta de fazer parte do processo produtivo.
Sendo assim, esse jovem não só consome como interage com os blogs, produz vídeos no Youtube, compartilha críticas políticas e culturais e cria uma relação de micro campos, em que o espaço da cultura é dividido em várias redes, e vivem em constante mutação do que anteriormente era chamado de “pretendentes” e “dominantes”.
Para completar esse cenário de mudanças, os entrevistados responderam a seguinte questão: “Diga o nome de alguém, jornalista ou não, que você acompanha ou acompanhou em críticas (opiniões) de filmes, músicas e outras atividades”. Os dois nomes mais citados foram Cauê Moura e Felipe Neto9, ambos conhecidos por produzirem vídeos no Youtube, comentando práticas comportamentais e culturais. Foram citados também blogs diversos, o site Omelete, o vlogueiro PC Siqueira10.
9 Felipe Neto começou apenas produzindo vídeos para o canal Não Faz Sentido do Youtube, mas acabou adentrando o campo televisivo, sendo contratado pelo Canal pago Multishow, da Globosat.10 PC Siqueira começou apenas produzindo vídeos para o Youtube, mas acabou adentrando o campo televisivo, sendo contratado pelo MTV Brasil (que pertencia ao Grupo Abril), para comentar fatos e notícias.

143R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
5 Considerações Finais
É claro que as discussões iniciadas nesse artigo não finalizam o tema, porém, ao se fazer esse conjunto de reflexões teóricas, foi possível o estabelecimento de um raciocínio lógico sobre o jovem e o campo cultural. A conceituação de campo e a discussão sobre os costumes da Geração Digital foram fundamentais para que pudéssemos olhar os dados apresentados com posicionamento crítico, entendendo que temos um momento de alteração das práticas convencionais.
A juventude, da era digital, caracteriza-se por ter um comportamento diferente das gerações anteriores. A assimilação da tecnologia é muito mais rápida, o conhecimento de ferramentas que auxiliam o processo comunicativo e o próprio consumo de bens culturais online são padrões típicos. A interatividade é realidade; a necessidade de participar ativamente do processo de produção e de difusão ganha espaço. A preferência pelos meios online e a busca por outros tipos de produtores culturais renovam as práticas do campo.
O Youtube, as mídias sociais, as redes de compartilhamentos, os blogs e sites se fixam como canais importantes, criando uma relação inovadora, em que as instâncias de consagração se modificam. Hoje, são os inúmeros bloggers, produtores de vídeos in-dependentes, donos e participantes de canais do Youtube e memes11 da internet que vem ganhando destaque e se tornando dominantes nesse processo.
O advento da digitalização alterou a forma com que se estabelecem as relações interpessoais e o próprio consumo de informação jornalística e de entretenimento, tornando-se, assim, necessário que sejam feitos mais estudos para entender o quão essas mudanças são significativas e quais as características desse novo consumidor de produtos culturais. Torna-se desafio, destes autores, aprofundar as reflexões aqui apresentadas e tentar entender de que maneira o jovem digital se comporta como produtor, difusor e crítico não só do campo cultural, mas das mais diversas áreas.
Referências
BONAMINO, Alicia et al . Os efeitos das diferentes formas de capital no desempenho escolar: um estudo à luz de Bourdieu e de Coleman. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 45, dez. 2010 . Disponível em < http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782010000300007>. Acessado em 14 de agosto de 2013.
11 Trata-se de uma imagem, vídeo ou frase bem-humorada que se espalha na internet como um vírus. Disponível no site: http://super.abril.com.br/multimidia/memes-682294.shtml

144G
er
aç
ão D
iGit
al: U
ma r
ef
le
xã
o so
br
e as r
ela
çõ
es D
a “jU
ve
nt
UD
e DiG
ita
l” e os c
am
po
s Da c
om
Un
ica
çã
o e Da c
Ult
Ur
a • jU
lia
no f
. De s
oU
za - m
ar
ia c. G
ob
bi
BOURDIEU, Pierre. A produção da crença. Porto Alegre: Zouk, 2008.
BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia
clínica do campo científico. São Paulo: Unesp, 2004.
FEATHERSTONE, M. Cultura de Consumo e Pós-modernismo.
Trad. Júlio Simões. São Paulo: Studio Nobel, 1995.
FERRAZ, C. Análise e perspectivas da interatividade digital. In: Televisão digital:
desafios para a comunicação. Livro da Compós. Porto Alegre: Sulina, 2009.
FERREIRA, S.L.; LIMA, M.F.M.; PRETTO, N.L. Mídias digitais e educação:
tudo ao mesmo tempo agora o tempo todo. In: BARBOSA FILHO, André;
CASTRO, Cosette; TOME, Takashi. (Orgs.). Mídias digitais: convergência
tecnológica e inclusão social. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 225-255.
FOLHA ONLINE. Acesso à internet no Brasil cresce, mas 53% da população
ainda não usa a rede. 15 maio 2013. Disponível em: http://www1.folha.uol.
com.br/mercado/2013/05/1279552-acesso-a-internet-no-brasil-cresce-mas-53-
da-populacao-ainda-nao-usa-a-rede.shtml. Acesso em 15 de ago de 2013.
GOBBI, M.C. Nativos Digitais: autores na sociedade tecnológica. In:
GOBBI, Maria Cristina; KERBAUY, Maria Teresa Miceli (Orgs). TV Digital:
informação e conhecimento. São Paulo: Ed. Cultura Acadêmica, 2010.
IBOPE. IBOPE Media e CONECTA apresentam perfil do jovem brasileiro
no youPix Festival 2013. 05 jul 2013. Disponível em: http://www.ibope.com.
br/pt-br/noticias/Paginas/IBOPE-Media-e-CONECTA-apresentam-perfil-do-
jovem-brasileiro-no-youPix-Festival-2013.aspx. Acesso em: 15 de ago de 2013.
JAMESON, F. A modernidade e a sociedade do consumo. In: JAMESON, F. A
virada cultural. Reflexões sobre o pós-moderno. RJ: Civilização Brasileira, 2006.
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo
ritmo de informação. Campinas: Papirus, 2007.
MORAES, Dênis. Mídia e indústrias culturais na América Latina:
concentração e luta pela diversidade em Comunicação e Governabilidade
na América Latina. Orgs. Pedro Gilberto Gomes e Valério Cruz
Brittos. São Leopoldo (RS): Editora Unisinos, 2008. (p. 89-104).

145R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. Porto Alegre: Sulina, 2007.
SUPER INTERESSANTE MULTIMIDIA. Definição de Meme. Disponível em: http://super.abril.com.br/multimidia/memes-682294.shtml. Acesso em: 10 de ago 2013.
TAPSCOTT, Don. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos. Trad. Marcello Lino. Rio de Janeiro: Agir Negócios, 2010.
TAPSCOTT, Don. Geração Digital: a crescente e irreversível ascensão da Geração Net. Tradução de Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 1999.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 146-158
vídeo e texto na Web: da conveRGência de linGuaGens às novas Relações na naRRativa noticiosa
duílio FabbRi JúnioR
Fabiano oRManeze
Jornalista. Mestre em Comunicação e Mercado pela Cásper Líbero. Professor da Faculdade de Jornalismo da PUC-Campinas. Gerente de Jornalismo do G1.E-mail: [email protected]
Jornalista. Mestre em Divulgação Científica e Cultural pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP. Professor da PUC-Campinas.E-mail: [email protected]

ResuMo
Este artigo mostra como a televisão na era digital enfrenta o desafio da convergência de mídia. Na internet, a linguagem de TV não se resolve, tendo o texto e a edição de vídeos como suporte para uma nova linguagem. O vídeo, no mesmo tamanho e formato exibido na televisão, é praticamente desprezado pelo internauta e acaba acessado como consulta em trilhos próprios ao invés de ser um material informativo para o usuário. Para demonstrar como essa característica de leitura de informa-ções na internet cria uma nova relação entre texto e vídeos na internet serão analisadas três reportagens do site G1, da Rede Globo. A inclusão de vídeos sem edição, diferentes das matérias veiculadas nos tele-jornais, geraram mais acessos, indicando as características do internauta e do que se procura em termos de vídeos na internet, ou seja, uma narrativa e uma linguagem construídas não apenas pelo veículo de comunicação, mas também a partir da interação com os internautas e da quebra de antigos paradigmas sobre as formas de se noticiarem um fato.
Palavras-chave: webjornalismo, televisão, texto, linguagem, leitura.
abstRact
This paper shows how television in the digital era faces the challenge of media convergence. On the Internet, the language of TV is not resolved, and the text and editing videos as support for a new language. The video at the same size and shape shown on television, is virtually ignored by the internet and accessed just like query in themselves rather than being an informative material for the user rails. To demonstrate how this feature of reading information on the internet creates a new relationship between text and videos on the Internet will be reviewed three reports for the site G1, Globo. The inclusion of unedited videos, aired newscasts of different materials, generated more hits, indicating the characteristics of the Internet and what if you want in terms of internet videos, ie, a narrative and a constructed language not only for communication vehicle but also from the interaction with the Internet and breaking old paradigms about ways to noticiarem a fact.
Keywords: web journalism, television, text, language, reading.

148R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Introdução
O jornalismo na internet já passou por três grandes fases. Na primeira, que corresponde aos primeiros anos da produção para os websites, o que havia era uma simples reprodução dos conteúdos publicados em outras mídias. Assim,
por exemplo, os jornais impressos, simplesmente, publicaram em seus sites os mesmos textos, muitas vezes, sendo possível apenas a visualização das edições impressas, a partir do download de arquivos. Numa segunda fase, correspondente aproximadamente aos primeiros cinco anos do século 21, o jornalismo online vivia uma fase de produção de conteúdo específico para a internet, tornando possível ao usuário acessar parte das informações publicadas em outras mídias (como a televisão e o jornal impresso). A terceira fase, que se acompanha atualmente, corresponde ao período de interatividade, em que conteúdo é produzido em linguagem própria para a web e em que se observa a convergência de linguagens e a participação cada vez mais crescente dos internautas, por meio de comentários, divulgação do material publicado pelos sites em redes sociais e a possibilidade de o próprio internauta se tornar um produtor de conteúdo e fazer as escolhas do que, como e onde quer se informar.
A história do jornalismo na internet foi sendo, assim, construída a partir de tentativas e dos retornos recebidos pelos acessos dos usuários às páginas. A maior parte dos sites surgiu a partir de empresas de mídia já consolidadas em outros suportes, como o impresso, o rádio e a televisão. Nos primeiros tempos, cada um tentava levar para os sites a sua experiência: as emissoras de TV acreditavam que bastava inserir os vídeos de suas reportagens. Os jornais impressos apostavam na capacidade de produzir textos com a objetividade que o formato da pirâmide invertida construiu. Na verdade, esse caminho era uma incoerência, pois apresentava um formato de leitura e acesso analógico para um leitor digital. Mas as características do sujeito-leitor mostraram que o caminho era outro.
Neste artigo, tentaremos apresentar um pouco desse caminho e da necessidade da criação de uma nova linguagem para a internet, englobando, sim, os conhecimentos

149V
íde
o e Te
xT
o na W
eb: d
a co
nV
er
gê
nc
ia de l
ing
ua
ge
ns à
s no
Va
s re
la
çõ
es n
a na
rr
aT
iVa n
oT
icio
sa • d
uíl
io Fa
bb
ri J
ún
ior - F
ab
ian
o or
ma
ne
ze
e conteúdos anteriores, vindos do impresso e da televisão, mas, também, criando novas formas de organizar as informações, inclusive, descontruído modelos tradicionais de transmissão da informação. Tudo isso ocorre porque, na internet, em razão da grande disputa de atenção entre os sites, cada inserção, seja visual, sonora ou textual, não se presta apenas a acrescentar uma nova informação, mas, principalmente, a atrair a atenção do leitor para que ele continue na página em questão e não se renda ao fascínio de um clique, que o levaria a outro site e a novas descobertas. Cada informação deve propiciar ao leitor um novo mecanismo de atração, diferente leituras, novas experiências no ambiente multimidiático. Esse mecanismo de atração é necessário não só para que a informação possa chegar ao público, mas também garantir que os acessos possam se transformar em rendimento, em anunciantes em busca de visibilidade e credibili-dade, afinal, um dos grandes desafios colocados ao jornalismo online ainda é a sua sustentabilidade. “Poucos são os jornais online que geram lucros. Na realidade, já foram várias as iniciativas jornalísticas online malsucedidas ou cuja rentabilidade se revelou reduzida” (CARDOSO, 2007, p. 204). Importante lembrar ainda que, enquanto no formato tradicional (aqui entendido como o modelo de rádio, TV e jornal conhecido até o surgimento da internet), a concorrência por meios de informação se dava apenas entre as empresas de comunicação, na internet, essa concorrência tem novos atores: agora não apenas as empresas jornalísticas têm o poder de informar, mas também qualquer internauta pode, a partir de sua casa ou de qualquer lugar, criar seu próprio site e também se tornar um produtor de informação, inclusive enviando materiais para os grupos de mídia que mantém portais noticiosos.
Que tipo de leitor tem a internet e como isso impacta a linguagem?
Desde Marshall McLuhan, na década de 1960, discute-se a relação entre mensagem e as características da linguagem em cada suporte. Em cada meio de comunicação, a partir das especificidades da transmissão, haveria uma forma de fazer uma informação chegar ao seu enunciatário. Foi assim, por exemplo, que se chegou à conclusão de que a linguagem da televisão deve priorizar a ordem direta, evitar gerúndios e ser construída a partir do diálogo entre o que se exibe com imagens e o que se diz com texto. Isso está em qualquer manual de telejornalismo. O que ainda não se fez detalhadamente foi uma análise das características do internauta e como elas impactam a forma como a informação deve ser transmitida na internet. Isso explica porque tantas tentativas de produção online simplesmente levaram para os sites o que já se fazia em outras mídias.

150R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Santaella (2004) classifica a evolução do leitor – do papel à internet – em três
grandes estágios. O primeiro deles, chamado pela autora de leitor contemplativo, é próprio do período em que a principal forma de informação e leitura eram os livros e os primeiros periódicos após o surgimento da imprensa, com Gutenberg, em 1554. Nesse período, com poucos concorrentes para a informação, o leitor estabelecia uma relação íntima com o livro ou jornal em suas mãos. A leitura era, praticamente, uma ação solitária, contemplativa, sem que a atenção fosse disputa por quaisquer outros meios. “A leitura do livro é, por fim, essencialmente contemplação e ruminação, leitura que pode voltar às páginas, repetidas vezes, que pode ser suspensa imaginativamente para a meditação de um leitor solitário e concentrado” (SANTAELLA, 2004, p. 24).
Num segundo momento da evolução da competência leitora, está o leitor do tipo movente ou fragmentado. Esse período é inaugurado a partir do século 19, principalmente com o desenvolvimento de cidades como Londres e Paris, motivadas pela Revolução Industrial, que, entre outras inovações, trouxe o telégrafo, o telefone e a consolidação das redes de opinião, os jornais, com métodos mais industriais de produção, com opiniões rápidas e imediatas. Esse segundo estágio na história da leitura vai terminar somente com o surgimento da internet, um século mais tarde. O leitor movente ou fragmentado, como sugere Santaella, é aquele que
foi se ajustando a novos ritmos da atenção, ritmos que passam com igual velocidade de um estado fixo para um móvel. É o leitor treinado nas distrações fugazes e sensações evanescentes cuja percepção se tornou uma atividade instável, de intensidades desiguais. (...) É um leitor de fragmentos, leitor de tiras de jornal e fatias de realidade. Com a sofisticação dos meios de reprodução, tanto na escrita como na imagem, com a reprodução fotográfica, a cidade começou a se povoar de signos, numa profusão de sinais e mensagens. (...). O leitor do livro, meditativo, observador ancorado, leitor sem urgências, provido de férteis faculdades imaginativas, aprende assim a conviver com o leitor movente; leitor das formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos; leitor de direções, traços, cores. (...) Leitor cujo organismo mudou de marcha, sincronizando-se à aceleração do mundo (SANTAELLA, 2004, p. 29-30).
Todas as transformações no mundo da comunicação no século 20 vieram atribuir novas características a esse panorama do leitor movente. Cada novo surgimento de mídia, como o rádio, na década de 1920, ou a televisão a partir dos anos 1940, trouxe novos estímulos, novos signos nesse processo de aceleramento da leitura de mundo. Todos esses estímulos serviram, na verdade, como um processo de preparação para o surgimento do terceiro estágio de tipos de leitor: o imersivo ou virtual.
A internet foi a responsável, principalmente a partir da transição para o século

151V
íde
o e Te
xT
o na W
eb: d
a co
nV
er
gê
nc
ia de l
ing
ua
ge
ns à
s no
Va
s re
la
çõ
es n
a na
rr
aT
iVa n
oT
icio
sa • d
uíl
io Fa
bb
ri J
ún
ior - F
ab
ian
o or
ma
ne
ze
21, por criar esse terceiro tipo de relação entre o leitor e os signos com os quais ele entra em contato a partir da leitura. A possibilidade de se informar por diversos meios, todos eles disponíveis na tela de seu computador, celular ou demais dispositivos móveis, criou não só uma liberdade maior de tempo e espaço para receber informações, mas também uma nova relação sensória, perceptiva e cognitiva, a exemplo do que já acontecera no surgimento do leitor movente no século 19, embora, agora, as transforma-ções sejam maiores, mais impactantes e mais rápidas, haja vista a rapidez das evoluções tecnológicas e a facilidade criada para a publicação de conteúdo na rede. Santaella, ao definir esse terceiro tipo de leitor, que mais nos interessa neste artigo, afirma que
trata-se, na verdade, de um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na hipersubjetividade de infinitos textos num grande caleidoscópio tri-dimensional onde cada novo nó e nexo pode conter uma outra grande rede numa outra dimensão. Enfim, o que se tem aí é um universo novo que parece realizar o sonho ou a alucinação borgiana da biblioteca de Babel1, uma biblioteca virtual, mas que funciona como promessa eterna de se tornar real a cada clique do mouse. (SANTAELLA, 2004, p. 33).
Do ponto de vista sensório, a internet alterou a forma como nos relaciona-mentos com o mundo. Carr (2011) lembra que, com a era digital, o sujeito-leitor, nem mesmo se quisesse, conseguiria manter-se alheio às transformações provocadas pela comunicação via rede. Isso significa que, ainda que não seja um usuário da internet, o leitor será impactado por ela, afinal, jornais e revistas, por exemplo, também alteraram seus jeitos de fazer, diante dessa nova realidade. Mesmo na televisão, é comum que, durante os telejornais ou outros programas, o telespectador seja motivado a procurar mais informações nos sites ligados à emissora ou à empresa jornalística em questão. Muitas vezes, como mostraremos no estudo de caso, a possibilidade de convergência resolve, inclusive, questões que se apresentariam como problemas para a linguagem e a estética de cada um dos meios. Além disso, do ponto de vista perceptivo, a forma como a internet se desenvolveu tornou-a mais distrativa, exigindo que as pessoas retenham constantemente pequenas partes de informação (CARR, 2011).
Por fim, como alteração cognitiva, é possível dizer que a nova situação comu-nicacional provocou até mesmo alterações fisiológicas e anatômicas no ser humano, o que impacta a forma como se recebe a informação. Carr, finalista do prêmio Pullitzer, um dos principais a reconhecer contribuições científicas nos Estados Unidos, expõe que aquilo “que aprendemos enquanto vivemos é incrustrado nas conexões celulares em perpétua mudança dentro de nossas cabeças” (CARR, 2011, p. 46).
1 No conto “A Biblioteca de Babel”, Jorge Luís Borges narra a história de um bibliotecário que pretende organizar uma biblioteca onde estariam todas as obras do mundo.

152R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Todas essas características do novo estado da leitura impactam a forma como
a linguagem é concebida e utilizada pelos meios de comunicação, principalmente, quando se trata de convergência. Hernandes (2006) trata o assunto classificando o leitor na internet como “um enunciatário impaciente”, ou seja,
um sujeito nervoso. Se não encontra o que quer com rapidez, tem sua autoimagem afetada, julga-se incompetente, assim como também passa a julgar o site ‘ruim’. Ele imagina que há um grande número de pos-sibilidades para atingir determinados objetivos. Por isso, irrita-se com qualquer demora ou obstáculo (HERNANDES, 2006, p. 247).
Alguns questionamentos se colocam a editores de sites noticiosos diante de citações como essa: o que incomoda esse leitor? Como a utilização de um vídeo, ao lado de um texto e de um infográfico, numa tela de um site, ao tentar informar o leitor, está relacionado a essa autoimagem do leitor, a essa irritação? Como tudo isso se relaciona às alterações sensórias, perceptivas e cognitivas de que fala Carr? Essas são algumas respostas perseguidas no estudo de caso apresentado neste artigo. Antes, no entanto, serão feitas algumas considerações acerca da narrativa jornalística e suas configurações no ciberespaço.
Narrativa e desconstrução no mundo digital
O jornalismo se apresenta ao sujeito-leitor como uma narrativa. Por meio daquilo que é mostrado numa reportagem, tem-se acesso à parte do que acontece no mundo e que, a partir dos critérios de noticiabilidade (novidade, atualidade, universali-dade e proximidade) e determinações ideológicas, merece ser narrado. Entre as caracte-rísticas da narrativa online estão, principalmente, a hipertextualidade, a interatividade, a multimidialidade e a personalização (RIBAS, 2004).
A fragmentação do discurso, por meio do hipertexto, é uma das marcas da narrativa na internet. O leitor tem acesso a informações fragmentadas, que vão se completando, por meio de um caminho que ele vai construindo por vários sites ou por vários textos, imagens e vídeos numa mesma página. Não há começo ou fim, onde começar ou terminar. A personalização do discurso, ou seja, a construção de um caminho a partir de seus interesses, permite ao leitor que ele vá construindo uma forma de ler/receber informações e, inclusive, de desconfiar delas. O grande desafio que se coloca aos editores de páginas jornalísticas é que as informações sejam organizadas de modo a manter o leitor por mais tempo, ou seja, fazer que, com a multimidialidade e a interatividade, por meio da possibilidade de comentários ou compartilhamentos, ele

153V
íde
o e Te
xT
o na W
eb: d
a co
nV
er
gê
nc
ia de l
ing
ua
ge
ns à
s no
Va
s re
la
çõ
es n
a na
rr
aT
iVa n
oT
icio
sa • d
uíl
io Fa
bb
ri J
ún
ior - F
ab
ian
o or
ma
ne
ze
permaneça ali e não seja seduzido pela possibilidade de buscar informações em outro lugar. Cada nova inserção, visual, sonora ou textual, não deve apenas acrescentar uma nova informação, mas ser um mecanismo de atração a novas leituras. Com isso, o que se tem observado, como mostraremos no estudo de caso a seguir, é uma desconstrução de velhos modelos e paradigmas do jornalismo.
Desde a adoção do paradigma positivista como princípio para o jornalismo (o que lhe garantiria isenção, objetividade e estatuto de atingir a verdade), o lead e a pirâmide invertida vêm sendo apresentadas como a forma mais usual de transmitir a notícia. Esse modelo vigorou por praticamente toda a segunda metade do século 20. Alguns autores chegavam a defender que, no jornalismo impresso, essa fosse a única forma adequada para a informação chegar ao enunciatário. No primeiro parágrafo da narrativa jornalística, deveriam estar as respostas aos seis elementos básicos que constituem o objeto da narração: o quê, quem, onde, como, quando e por quê. A arquitetura da informação no paradigma positivista prevê que, nos parágrafos seguintes, o autor vá esmiuçando o fato, por ordem de importância (modelo da pirâmide invertida). Esse processo, durante muito tempo, fazia totalmente sentido, uma vez que, no momento da edição, seria mais fácil cortar as informações que não caberiam na página: aquilo que estivesse nos parágrafos finais poderia ser suprimido sem prejuízo. A esse texto, juntam-se um título que, segundo todos os manuais, deve ser retirado do lead, e uma linha-fina, que, logo abaixo do título, serve como mais um chamariz para a leitura. Embora parte das informações essenciais passem a estar, então, no título e na linha-fina, elas serão repetidas durante o texto, um modelo que exige um leitor do tipo contemplativo ou, no máximo, movente, na classificação de Santaella (2004).
Mas, diante de sujeitos-leitores que, no processo de leitura, se mostram como “enunciatários impacientes” (HERNANDES, 2006), essa proposta não consegue garantir a leitura. Os dados sobre o tempo de permanência de um leitor numa página de internet tira qualquer dúvida, indicando que dificilmente uma page view ultrapasse alguns segundos. Ou seja, é fácil supor que o leitor facilmente se sentiria incomodado ao ler a mesma informação duas vezes ou ainda se sentiria prejudicado, pois estaria perdendo tempo, ao ter de assistir a um vídeo colocado num site sem que ele saiba antes, por meio de um texto, o que verá nas imagens. Conclusão: o leitor imersivo exige dos modos produtivos do jornalismo online uma desconstrução nos modelos narrativos propostos pelo jornalismo emergente nas últimas cinco décadas do século 20.
A principal alteração se dá na forma como as informações são apresentadas. O “enunciatário impaciente” precisa ter a certeza de que continuar em determinada página acrescentará a ele algo novo a cada linha ou clique num vídeo ou em um infográfico.

154R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Cada vez mais, a ideia de uma narrativa que vá se construindo por meio dos chamados “tópicos frasais” faz sentido.
A expressão “tópico frasal” designa, para a linguística textual, uma introdução, realizada por meio de períodos curtos, que contenham a ideia-núcleo de um parágrafo (GARCIA, 2010). Esse tipo de construção é eficiente e prática, pois já de início expõe a ideia que se quer passar e que, depois, será reforçada pelos períodos subsequentes. Nos textos produzidos pela internet, as informações que estariam no lead, no modelo mais tradicional de texto jornalístico, aparecem, assim, em vários blocos, em tópicos. Portanto, nada estranho em pressupor que, numa notícia de internet, o título traga uma informação que não será repetida depois no texto, o que seria um verdadeiro equívoco na redação de um jornal impresso ou mesmo de uma reportagem de televisão, em que a cabeça da matéria serve para introduzir o telespectador no assunto a ser tratado na reportagem.
Estudo de caso: a relação entre texto, vídeo, TV e internet em três reportagens do G1 Campinas
Para ilustrar o que foi exposto até aqui, selecionamos três reportagens publicadas no G1 Campinas (www.g1.com.br/campinas), portal noticioso ligado à EPTV, afiliada da Rede Globo. O primeiro caso foi ao ar no dia 6 de dezembro. Em Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), uma criança de 3 anos foi resgatada de dentro de uma vala, em um canteiro de obras. Com apoio dos bombeiros, um adolescente de 16 anos foi o responsável pelo resgate, ficando preso pelas pernas para que pudesse alcançar o menor no buraco2. A estratégia foi necessária, pois o porte físico do adolescente permitia que ele alcançasse o garoto, sendo a maneira mais rápida para o resgate.
O G1 Campinas exibiu as imagens na íntegra, sem edição, do resgate do garoto. Enquanto isso, a equipe de televisão, no mesmo dia, fez uma reportagem. A experiência de apresentar a informação nos dois suportes, na TV e na internet, respeitando as linguagens e as possibilidades de cada veículo, possibilitaram algumas conclusões, entre as quais que, mais do que a narrativa do repórter, os internautas queriam ver o resgate, tal qual se deu, sem a intervenção da edição. O vídeo publicado no G1, como mostram os créditos, veio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar.
2 Notícia e vídeo disponível em: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2012/12/video-mostra-garoto-resgatando-crianca-de-3-anos-dentro-de-buraco.html. Acesso em: 18 abr. 2013. A reportagem que foi ao ar na TV pode ser acessada no link: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/jornal-regional/videos/t/edicoes/v/resgate-de-menino-de-3-anos-mostra-situacoes-comuns-enfrentadas-por-bombeiros/2282873/. Acesso em 18 abr. 2013.

155V
íde
o e Te
xT
o na W
eb: d
a co
nV
er
gê
nc
ia de l
ing
ua
ge
ns à
s no
Va
s re
la
çõ
es n
a na
rr
aT
iVa n
oT
icio
sa • d
uíl
io Fa
bb
ri J
ún
ior - F
ab
ian
o or
ma
ne
ze
Após o primeiro vídeo, o G1 continuou a exibir as reportagens da TV, mas com matérias que ampliavam o ponto de vista, trazendo novas informações a esse leitor, “sujeito nervoso”, de que fala Hernandes (2006). Nos três dias que se seguiram, as vi-sualizações, segundo o Google Analytic’s, que mede audiência na internet, equivalente ao Ibope para a TV, mostrou que houve 47.736 page views para matéria de vídeo bruto e texto e 34.079 para as reportagens do G1 que traziam o vídeo da matéria apresentada no telejornal.
Esses dados mostram que a convergência entre TV e internet não pode, simplesmente, tratar-se de uma transposição do que se assistiria na sala de casa para a tela do computador, até porque, atualmente, a televisão convive com a internet e é grande o número de pessoas que assistem aos telejornais e também se informam pelos portais noticiosos, durante todo o dia. Além disso, no campo das novas percepções de que fala Carr (2011), a internet criou a impressão de que é possível acessar todo o conhecimento, tê-lo ali a sua frente, sem restrições, e com o próprio internauta criando seu caminho, ele mesmo em busca “da verdade”. Mesmo com a divulgação nas três edições do jornal, com novas matérias sobre o desdobramento do mesmo caso, a primeira imagem bruta, com o auxílio do texto (pelo qual o internauta era levado até a página na qual se podia assistir ao vídeo), teve mais acesso do que as reportagens que passaram pelo processo de edição. Ao ver as imagens brutas, é possível pensar também na sensação de autonomia, de leitura e acompanhamento isentos de que o internauta se reveste, sem que se necessite de um direcionamento, dado pelo repórter na matéria de TV.
Um segundo caso é expressivo da interatividade, já que o vídeo chegou ao G1 por meio da ferramenta Vc no G1, em que o internauta pode enviar vídeos e fotos para a redação. No dia 11 de abril de 2013, o G1 Campinas e também o G1 Piracicaba publicaram um vídeo com uma briga de duas adolescentes numa rua de Piracicaba. Pela relevância do acontecimento, que poderia até ser julgado como corriqueiro, a TV, na sua limitação de tempo, veiculou apenas uma nota coberta. No portal, foram colocadas as imagens brutas da briga, conforme chegaram à redação, apenas com o disfarce dos rostos das envolvidas, acompanhados de um texto, explicando o motivo da briga e com falas, no formato de texto, obtidas por meio de entrevistas com amigas das meninas e a mãe de uma delas3. A matéria, com chamada nos dois portais, atingiu 314.233 page views em dois dias. Isso porque, no dia seguinte à postagem, foram feitas atualizações no texto,
3 Notícia e vídeo disponíveis em: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2013/04/briga-de-garotas-acaba-com-cabelo-cortado-em-piracicaba-veja-o-video.html. Acesso em 18 abr. 2013. http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/jornal-da-eptv/videos/t/edicoes/v/numero-de-contratacoes-na-industria-cresce-65-no-primeiro-trimestre-deste-ano/2526245/

156R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
colocando desdobramentos como a versão da polícia, o que fazia com que os internautas voltassem à matéria. Os títulos e as linhas finas, grandes formas de seduzir o internauta sem tempo e o tempo todo levado pela fluidez da mídia digital, eram alterados de modo a transmitirem a ele a sensação de novidade. Possivelmente, as atualizações chamaram também a atenção de outros leitores que, nas primeiras postagens, não estavam conectados.
O interesse por essa matéria também é perceptível pelo número de comparti-lhamentos em redes sociais digitais, como o Facebook (980) e o Twitter (51), além dos quase 450 comentários que os leitores fizeram à reportagem no espaço para isso reservado no próprio G1. São estratégias e possibilidades que, como se disse na revisão de literatura deste trabalho, apresentam-se como opções ao desafio de manter o leitor, movente, interativo e facilmente distraído, na página por mais tempo. As novas inserções em formato de texto servem como um mecanismo de atração para uma nova leitura. Sem querer (ou ao menos sem pensar nisso), o internauta, ao compartilhar tal matéria numa rede social digital está usando a sua possibilidade de interatividade para levar novos leitores ao portal. Poderiam se discutir os critérios de noticiabilidade da divulgação deste vídeo e dessa notícia, no entanto, hão também de ser considerados três aspectos: o caráter também comercial de um portal de notícias, a ilimitada capacidade de colocar tantas informações quantas forem necessárias (o que significa que publicar essa informação não tirou espaço de outra, mais importante e de interesse público, como aconteceria na televisão ou no jornal impresso) e o fato de que, se deixasse de publicar tal vídeo, outro veículo, ainda que um blog ou mesmo uma postagem em uma rede social o faria.
O terceiro caso que completa este estudo diz respeito a um processo inverso, ou seja, a origem da reportagem não estava no portal, mas na televisão. Em 19 de abril de 2013, os telejornais da EPTV exibiram uma matéria dizendo que o número de contratações na indústria crescera 65% no primeiro trimestre do ano. Ao final da matéria, como um serviço, decidiu-se que seria necessário dar ao telespectador mais dados, como os locais em que era possível obter informações sobre as vagas disponíveis, bem como os salários e dicas para quem precisava de emprego. Mas como transmitir essa informação em uma matéria de televisão, com tempo limitado e se tratando de informações difíceis de serem cobertas com imagens? Ao final da reportagem produzida pela TV, o apresentador do telejornal indicava o portal G1 como o destino para quem precisava de mais informações. No entanto, ao contrário de apenas indicar o portal, o telespectador teve, na tela da TV, um vídeo com a imagem mostrando a página da matéria online, onde se podia ver, por exemplo, os endereços dos postos para se cadastrar em vagas

157V
íde
o e Te
xT
o na W
eb: d
a co
nV
er
gê
nc
ia de l
ing
ua
ge
ns à
s no
Va
s re
la
çõ
es n
a na
rr
aT
iVa n
oT
icio
sa • d
uíl
io Fa
bb
ri J
ún
ior - F
ab
ian
o or
ma
ne
ze
de emprego4. Ou seja: a televisão pautava o internauta a buscar novas informações, que ela não conseguiria, pelas suas características de veículo e linguagem transmitir. No entanto, como uma forma de chamar atenção, um vídeo com a matéria do G1 foi mostrado, na tentativa de seduzir o telespectador, atraído, entre outros elementos, pelo texto da manchete da matéria, que indicava os salários dos cargos a serem preenchidos.
Como se percebe, texto e vídeo não são mais exclusividade de um veículo. Em época de interatividade, eles precisam convergir garantindo mais informação e a manutenção de dois produtos, em suportes diferentes.
Considerações Finais
O desenvolvimento de uma nova cultura midiática, em que o que se privilegia é a estrutura da narrativa a partir das respostas às ações do usuário, é um caminho que garante a permanência dos veículos de comunicação. Os sentidos se elaboram na construção de uma narrativa personalizada, em que o leitor imersivo, de que fala Santaella (2004), é elemento participativo.
Hoje, se ainda conservamos o hábito de assistir à nossa TV, de uma maneira quase que similar a um ritual, podemos perceber também que desenvolvemos um consumo audiovisual de modo individual, por meio do acesso aos vídeos aos quais assistimos nas telas dos nossos computadores, com suporte de textos e imagens dife-renciadas do visto e assistido na televisão.
O padrão de televisão digital do Brasil privilegia uma série de elementos técnicos como a mobilidade, a portabilidade e a alta definição. Mas, do ponto de visto ideológico, permite que o usuário reconstrua uma nova grade, diferente a cada recriação, mas que contenha a informação desejada e armazenada. Esse fator está, aos poucos, fazendo com que passemos a ver TVs em celulares (TVs portáteis) e nos laptops ou automóveis, ônibus, trens (TVs móveis). Essa tendência, como vimos no terceiro exemplo demonstrado neste artigo, mostra que a tendência é a de que os próprios consumidores se tornem responsáveis pelo acesso, produção e gerenciamento às suas fontes de produção de informação. Isso também representa um avanço em termos de democratização e de compromisso informativo: hoje, é muito mais difícil deixar de dar uma notícia simplesmente porque ela não cabe nos interesses de tal empresa. Se não a fizer de modo algum, alguém a fará e o internauta saberá.
4 Notícia e vídeo disponíveis em: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/jornal-da-eptv/videos/t/edicoes/v/numero-de-contratacoes-na-industria-cresce-65-no-primeiro-trimestre-deste-ano/2526245/. Acesso em 19 abr. 2013.

158R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Esses consumidores, cidadãos com suas conexões já existentes reforçadas nos
últimos tempos por meio das redes sociais e o seu apelo afetivo-emocional, cada vez mais farão como demonstrado no segundo e primeiro exemplo deste trabalho, ou seja, terão também grande poder decisório sobre a geração de conteúdo. Isso, de outro lado, exigirá uma formação educacional focada também na busca por informações de qualidade e na criação de critérios. Como agora o leitor é produtor, ao menos da narrativa que ele construirá, é importante que ele tenha consciência do tipo de informação que está consumindo e suas consequências.
O reforço da ideia do desenvolvimento sustentável surge não apenas como uma meta desejável, mas como uma consequência natural das ações de cidadãos inseridos – imaginando-se uma condição de inclusão digital mínima adequada, naturalmente – dentro dessa ágora contem-porânea, desses mundos que se cruzam cotidianamente, diluindo as fronteiras espaços-temporais. (RODRIGUES, 2011, p. 8).
Nesse sentido, podemos observar que essa convergência não significa um rompimento radical das formas tradicionais de narrativa, de plataformas com linguagens específicas e refratárias, mas sim como um período efervescência, com possibilidades de novos caminhos para o usuário recriar seu mundo na era digital.
Referências Bibliográficas
CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
CARR, Nicholas. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros? Rio de Janeiro: Agir, 2011.
GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 27 ed. São Paulo: FGV, 2010.
HERNANDES, Nilton. O portal: jornalismo na internet. In: ______. A mídia e seus truques. São Paulo: Contexto, 2006, p. 233-264.
RIBAS, Beatriz. Características da notícia na web-considerações sobre modelos narrativos. II Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), 2004. Disponível em: www.facom.ufba.br/jol. Acesso em: 21 mar. 2013.
RODRIGUES, Paola. Telejornalismo 2.0: o telespectador como novo produtor de conteúdos digitais noticiosos. Congresso Panamericano de Comunicação (Panam), 2010. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/panam/pdf/GT3_Art2_Paola.pdf. Acesso em: 10 abr. 2013. ı
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço. São Paulo: Paulus, 2004.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 159-169
a inveRsão de papéis na publicidade diGital: o inteRlocutoR coMo pRincipal eMissoR de conteúdos
aRiela FeRnandes sales
Universidade Federal da Paraíba, mestranda do Programa de Pós-graduação em Letras. E-mail: [email protected]

ResuMo
O presente trabalho intenta analisar o papel do público-alvo na emissão de conteúdos publicitários a partir do programa Colírios Capricho, veiculado, ao mesmo tempo, no canal do Youtube e na MTV, rea-lizado por meio da convergência entre Internet e televisão. Assim, observaremos como a Publicidade se apropria do conteúdo veiculado pelos usuários das mídias digitais e como tais mídias mudaram a lógica da publicidade televisiva. Análises preliminares nos permitem afirmar que a participação do público é imprescindível por disseminar grande parte dos conteúdos do programa nas diversificadas mídias sociais, ainda que sem fins lucrativos.
Palavras-chave: Publicidade, público-alvo, Colírios Capricho.
abstRact
This paper aims to analyze the role of target on emission of advertising contents from the show Colí-rios Capricho, aired, at the same time, on Youtube’s channel and on MTV, accomplished by through the convergence of Internet and television. Thus, we look at how the Advertising appropriates the content posted by users of digital media and how such media have changed the logic of television advertising. Preliminary analyzes allow us to affirm that public participation is essential for disseminating much of the content of the program in diverse social media, albeit nonprofit
Key-words: Advertising, target, Colírios Capricho.

161R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
1 Introdução
O presente trabalho tem a intenção de analisar o papel do público-alvo na emissão de conteúdos publicitários a partir da análise do concurso Colírios Capricho, veiculado, ao mesmo tempo, no canal do Youtube e na MTV, realizado
por meio desta convergência midiática. Sabe-se que a Publicidade tem constante interesse de persuasão de um público
que se comporte de forma a consumir o produto ou a ideia “A” ou “B”, mas que, de acordo com as possibilidades contemporâneas de distribuição desses conteúdos, é preciso pensar que o público não mais ocupa o lugar passivo da comunicação publicitária, mas que ele também está adepto à chamada cultura participativa.
Assim, observaremos como a Publicidade se apropria das ferramentas digitais para a divulgação no caso Colírios Capricho, um programa do tipo reality TV, a partir da imprescindível participação do público, responsável por grande parte da transmissão de conteúdos do programa nas diversificadas mídias sociais.
2 A Mudança de Paradigmas da Comunicação Televisiva Pós-Internet
Desde o seu surgimento, em meados do século XVII, quando a Revolução Industrial fez emergir um processo de escoamento de produtos excedentes, a propaganda constitui uma ferramenta bastante eficaz no processo de construção de marcas e vendas de produtos e serviços. A partir do surgimento dos personal computers na década de 80 – a priori criados para fins militares nos EUA - vários softwares que lidam com o trato da imagem e do texto serviram como ferramentas de aperfeiçoamento para a arte de atrair e encantar consumidores em potencial.
No entanto, com a convergência midiática ocorrida desde a década de 90 – processo em que as linguagens de diversas mídias se condensam em uma só a partir da compressão e descompressão de dados digitais (SANTAELLA, 2003) – e a criação do ciberespaço – espaço virtual de comunicação, sociabilidade, informação e conhecimento

162A
Inv
er
sã
o de P
AP
éIs n
A Pu
blIc
IdA
de d
IgIt
Al: o In
te
rlo
cu
to
r co
mo P
rIn
cIP
Al e
mIs
so
r de c
on
te
úd
os • A
rIe
lA F
er
nA
nd
es s
Ale
s
- o feixe de exposição de textos e imagens ganhou novos formatos por meio do conceito de interatividade que pressupõem os avanços tecnológicos descritos acima; a participação ativa de um indivíduo quando em contato com um meio de comunicação.
É exatamente neste panorama de novos adventos tecnológicos e, consequente-mente, da criação de novas linguagens midiáticas no ciberespaço, em especial na world wide web, que se pretende observar, especificamente, como se comporta a Publicidade no meio digital, a partir da utilização de usuários da própria Internet como principais propagadores dos conteúdos publicitários.
O consumo de bens satisfaz as necessidades materiais e sociais de uma população, sendo a Publicidade, então, responsável por suprir as lacunas que o mundo real possui em termos da concretização dos desejos individuais dos seres sociais, ofe-recendo-os tais possibilidades, segundo Vestergaard & Schroder (2000). Esta assertiva recai sobre a questão da Publicidade enquanto ferramenta de construção de um mundo ilusório, repleto de possibilidades e de potenciais realizações de desejos e sonhos antes impossíveis, se mediados unicamente pela lógica do real.
Enquanto um instrumento responsável por despertar o desejo nas massas por determinado produto, serviço ou ideia, nada mais natural do que perceber na História da publicidade um constante uso de meios de comunicação de massa para difundir uma campanha. Desde os jornais que indicavam venda de imóveis, escravos, obtivemos, com a evolução dos meios de comunicação, propagandas disseminadas também pelo rádio e sempre com maior ênfase no meio televisivo.
Sendo um meio de comunicação de massa por excelência - em que há o envio unilateral de informações para um público heterogêneo, sem a possibilidade de haver feedback por parte dos receptores – a televisão desencadeou um processo de crescimento no número de usuários, que segundo Manuel Castells, em Sociedade em rede (1999), que fez com que a tivéssemos como “o tecido das nossas vidas” (CASTELLS, 1999. p.97). Como dito, a publicidade se aproveitou do “status” da televisão na sociedade, tomando-a como um dos meios essenciais para divulgações em geral.
Ocorre que, com a ascensão das mídias digitais e o crescente público que diariamente as utiliza, fez-se necessário que as estratégias publicitárias mudassem suas preferências de meios para anunciar: o lugar tradicional da televisão como mídia principal gradativamente passa a ser ocupado por plataformas que possuem mais usuários ativos, com o menor custo possível.
Sendo uma propriedade da cultura digital, de se promover acesso democrati-zado à informação, surge uma mudança de paradigmas no que diz respeito ao modo de emissão da mesma; em oposição às mídias estáticas (1.0) – TV, rádio, jornal, etc. –

163R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
que lançam a mensagem unilateralmente, a mídia digital permite que conteúdos sejam tanto consumidos quanto criados por parte do indivíduo, podendo ser chamada mídia dinâmica ou 2.0.
Segundo Saad (2003, p. 150) a web 2.0 apresenta ferramentas que transformam os modelos de comunicação das mídias tradicionais e elenca os pontos principais daquela:
Ruptura do predomínio do pólo de emissão;Criação de canais de informação e conversação independentes das fontes formais;Alto grau de envolvimento e personalização por parte dos usuários;Alto grau de articulação coletiva;Facilidade de comunicação e expressão pela concentração, no mesmo ambiente digital, de ferramentas de produção de conteúdo e de participação e diálogo.
Com estes pontos, é nítida a idéia de que o processo midiático de comunicação ganhou novas possibilidades de ocorrência por meio da web 2.0. Este tipo de mídia possibilita que o ato da comunicação se prolongue, através do acréscimo das perspectivas de seus participantes que nesse contexto possuem a vez para utilizar a palavra.
O que, então, as mídias tradicionais podem fazer para não perderem seu lugar de comunicação? Como fazer para que os próprios anunciantes não percam a credibili-dade na eficácia desses meios? Bem, em primeiro lugar, nenhuma mídia perde espaço para outra. Geralmente quando surge uma novidade, cria-se uma espécie de tendência que atrai tanto o público como os anunciantes, como um dia ocorreu com o rádio e a televisão. No entanto uma não anula a outra; elas coexistem. Nas campanhas publici-tárias, dependendo do objetivo, o anúncio passa por várias mídias a fim de atingir em ampla escala o público-alvo, o que prova mais a conciliação entre as mídias do que uma suposta competição.
A credibilidade dos anunciantes em relação às mídias tradicionais, entretanto, depende mais do bom uso das mídias por parte da dos profissionais de publicidade, assim como do seu planejamento, do que da natureza das próprias mídias. Trata-se de acompanhar as tendências atuais e estudar o melhor meio para cada situação. No caso da web 2.0, além de conhecer bem suas ferramentas e pô-las em prática, deve-se antes entender de que lugar o anunciante fala e para quem fala: é necessário saber da posição crítica que o público assumiu desde a criação da web 2.0; da quebra do pólo de emissão das mídias.
Através do Youtube, aliás, todos estes caminhos em busca da palavra livre e da participação atingem considerável solidez. Sendo uma plataforma que traz consigo a

164A
Inv
er
sã
o de P
AP
éIs n
A Pu
blIc
IdA
de d
IgIt
Al: o In
te
rlo
cu
to
r co
mo P
rIn
cIP
Al e
mIs
so
r de c
on
te
úd
os • A
rIe
lA F
er
nA
nd
es s
Ale
s
inovação tecnológica de possibilitar que seus próprios usuários façam uploads de vídeos de qualquer natureza, sem limites de número, o Youtube ampliou as condições de os internautas potencializarem sua participação no Ciberespaço, por meio do fácil envio de vídeos para a rede (Burgess, 2009). Esta é, então, uma plataforma que altera um dos pressupostos do audiovisual, postos em prática pela televisão tradicional, bem como pelo cinema: um pequeno grupo que produz para uma grande massa.
O autor supracitado destaca no mínimo quatro razões para o sucesso do Youtube, sendo eles de natureza técnica e social, mas tendo como ponto-chave a questão do livre compartilhamento de conteúdo em áudio e vídeo na Internet, através do trabalho colaborativo dos próprios usuários, ou como o próprio slogan da plataforma diz, uma forma de transmitir-se, a partir da frase Broadcast yourself (BURGESS, 2009, p. 20).
Essa questão da retirada de todas as barreiras para o compartilhamento de vídeos na rede se caracteriza, então, como o principal foco do Youtube, baseada no que se chama de “cultura participativa, que é um termo geralmente usado para descrever a aparente ligação entre tecnologias digitais mais acessíveis, conteúdo gerado por usuários e algum tipo de alteração nas relações de poder entre os segmentos de mercado da mídia e seus consumidores” (Ibdem.: p. 28).
Este conceito é o mais adequado, portanto, para caracterizar a ação do Youtube em toda a mídia digital, fazendo com que as relações humanas passem a adquirir um caráter mais fluido, sem regras de comercialização das informações, com o comparti-lhamento de vídeos que permitem grande exposição da vida dos seus usuários para todo o ciberespaço, além de estremecer os antigos modos de veiculação de mensagens publicitárias na Internet.
Nota-se, no caso do programa Colírios Capricho, uma espécie de fusão entre o trabalho com a mídia digital e com televisão. Da naturalidade com que as informações são dissipadas, os usuários da Internet conhecem bem e passam a ser colaborativos com os conteúdos –– de forma a ajudar na divulgação do programa.
O referido programa, que foi veiculado durante os domingos, às 22:00 horas, com drops diários em outro programa o Acesso MTV às 13:00 horas, fazia com que ao fim da semana os garotos passassem pela avaliação de um júri sobre as competências que lhe foram requisitadas durante a semana, seja em questão de representação artística, fotográfica, etc., de modo a lhes testar as capacidades e escolher o melhor, o mais indicado para o prêmio, o que poderia ser considerado como um príncipe pelas leitoras da Capricho.
A televisão, a partir das primeiras impressões desta análise, parece ser a parte estática da realização do programa. Contudo, não pode ser considerada desta maneira.

165R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Ela, enquanto símbolo pertencente à cultura de massas, tem a capacidade de atrair a atenção de um grande público que se interessa pela vida alheia. Pode se dizer que, em relação ao Colírios Capricho, é a TV a responsável pelos primeiros contatos do público com o programa, podendo ser aprofundados à medida em que este mesmo público tiver acesso às informações presentes na mídia digital.
3 Considerações Finais: A participação do público-alvo na publicidade digital: uma mudança no itinerário da informação
O modelo tradicional de comunicação, como postula Vanoye (1999), afirma que o público (receptor), funciona como um “alvo” bombardeado por da(r)dos informativos. Este modelo foi posto em xeque pela lógica das mídias digitais, já que a partir delas se tem a possibilidade contínua de resposta na web por meio de ferramentas persona-lizadas, inteligência coletiva e pelo poder de se expressar. A isto se acrescenta a ideia de que “a Web 2.0 parte de duas idéias principais. A primeira é que a Internet pode funcionar como uma plataforma, não como um amontoado de documentos digitais, e a outra é que o que vale não é o conteúdo em si, mas o que os usuários fazem com eles” (PATRIOTA & PIMENTA, 2008, p. 03).
Em meio a isto se deve destacar o posicionamento das empresas que anseiam fazer sua publicidade neste novo espaço comentado. O início deste tipo de trabalho se deu com o envio de mensagens através de e-mails, mas que logo foi perdendo sua função devido ao montante excessivo de informações que estava sendo enviado para os indivíduos. Agora, a publicidade feita na mídia digital gira em torno dos agregadores sociais (LEMOS & LÉVY, 2010, p. 106) que não exclui o e-mail, mas se utiliza principalmente de blogs e das redes sociais mais conhecidas e usadas pelo público, a fim de manter proximidade da vida pessoal dos indivíduos, como complementa o trecho abaixo:
Há, assim, um grande uso de ferramentas da Web 2.0 criando efetivamente essa “computação social” que começou com as primeiras comunidades virtuais em listas e newgroups, que, por sua vez, evoluíram para as redes sociais contemporâneas (...) As ferramentas são acessíveis, fáceis de usar e gratuitas. Todos os novos sistemas, como Blogger, Flickr, YahooMaps, GoogleMaps, GoogleEarth, Facebook, Orkut, Myspace etc., oferecem esses espaços para criação de páginas, blogs e comunidades sem nenhum custo ao usuário. (LEMOS & LÉVY,
2010, p. 106-107)
O termo “computação social” refere-se, então, aos processos de criação e distribuição de mensagens dos quais fazem parte todas as pessoas que acessam o

166A
Inv
er
sã
o de P
AP
éIs n
A Pu
blIc
IdA
de d
IgIt
Al: o In
te
rlo
cu
to
r co
mo P
rIn
cIP
Al e
mIs
so
r de c
on
te
úd
os • A
rIe
lA F
er
nA
nd
es s
Ale
s
ciberespaço, configurando-se como uma zona de interação social tanto de aspecto pessoal quanto profissional, da qual os anunciantes tentam se apropriar para realizar seus trabalhos de divulgação com maior eficácia.
Desse contato emerge uma questão interessante; o hábito corriqueiro de adentrar em espaços antes interditos. Percorrer as estradas virtuais tornou-se parte da agenda diária das pessoas, devido à eficácia de ferramentas inerentes a este espaço, como e-mail, sites de consulta ou entretenimento e inclusive com o advento de redes sociais e do Youtube.
A Publicidade, enquanto via de envio de mensagens que buscam uma mudança de comportamento do consumidor favorável ao produto anunciado, precisa acompanhar esta tendência da cultura participativa. É neste sentido que a plataforma do Youtube tem servido para a veiculação de vídeos que tanto apelam para o particular - o desconhecido desvendado - quanto para o compartilhamento livre de vídeos que acabam por se disseminar a partir do próprio público/usuário do Youtube, dependendo da criatividade por parte da mensagem e da aceitação por parte do público.
A permissividade da rede da Internet consiste em uma interação maior entre as pessoas, uma abordagem aos aspectos mais pessoais de cada um por meio de exposição de fotos – como ocorre nas redes do Facebook, Orkut e Twitter - pensamentos avulsos - a exemplo dos Blogs - ou mesmo do que se está fazendo no momento – como permitem os recados de 140 caracteres do Twitter.
Revelar a própria vida, pôr a imagem à prova de um público desconhecido e se auto-exibir são características específicas dos usuários que põem à mostra seus rostos em posts na rede social. Disso, indubitavelmente, a Publicidade se utiliza a fim de gradativamente estar mais próximo do seu consumidor. A fim de fazer com que o consumidor sinta-se íntimo da personagem que aparece cotidianamente em vídeos da mídia digital.
Todas essas estratégias ligadas às redes sociais são observadas no reality show Colírios Capricho, promovido pela marca Capricho, que financiou um concurso entre dez meninos que permaneceram confinados em uma casa por 42 dias, passando por provas de talentos como canto e dança, com o intuito de que ao final do programa, veiculado no canal da MTV, um dos meninos pudesse ser eleito pelo júri como campeão do concurso, tendo como prêmio a participação no blog da Capricho de nome Vida de garoto.
Apesar de as decisões finais serem tomadas pelo júri sobre quem permanece e quem sai do programa, o direito a voto para as telespectadoras era cedido pelo voto no Colírio da Semana, em que o garoto mais votado ficaria livre, ou seja, imune, à possível indicação do júri. Um ponto interessante de destaque desta estratégia de eliminação é

167R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
a diferença com outros realities show que contam indispensavelmente com a “voz” do público para tomar a decisão mais importante do programa, a exemplo do Big Brother Brasil, A fazenda e mesmo do programa Ídolos, acreditando que a participação dos teles-pectadores torna-se mais interativa.
A discussão sobre interatividade pode ser tomada aqui para que haja uma reflexão maior sobre a estratégia adotada pelo programa aqui analisado. Em uma breve explanação sobre este assunto, Lévy (1999, p. 79) afirma que o termo é por muitas vezes mal-empregado, uma vez que tal termo indica a “participação ativa do beneficiário de uma transação de informação”, ou seja, que por mais que um indivíduo esteja estatica-mente se relacionando com um meio de comunicação, ele tem sua participação quando decodifica e entende o assunto.
Assim, a maneira que o Colírios Capricho encontrou para interagir com seu público-alvo não pode ser considerada falha por não entregar o poder total de voto para o público. Mesmo que o público não tivesse o direito ao veredicto final – só tiveram este direito no último dia de votação, o que escolheria o campeão da competição - sua participação era feita através de outros canais; as ferramentas próprias da Internet. No próprio site do programa diversas informações dos garotos participantes são expostas a fim de que o público possa ter um acesso muito mais próximo com a vida real dos meninos.
Do perfil psicológico até características físicas demonstradas em uma galeria de fotos, as telespectadoras do programa, por meio dessa nova forma de estratégia de aproximação com o público-alvo, que se feita apenas pela televisão não apresenta condições de ocorrência, têm a oportunidade de olhar cada vez mais de perto para a intimidade dos rapazes deste concurso, além de poderem elas mesmas se comunicar com eles através do Twitter, em tempo real.
Pode se perceber então que há dois tipos de propaganda que englobam o programa Colírios Capricho: o primeiro ligado mesmo à construção do reality show, que conta com aparições da televisão e no Youtube, e o segundo relacionado às ferramentas que promovem o programa, como o site e o blog da marca Capricho e principalmen-te as telespectadoras, as quais a partir do contato direto com os colírios divulgam o programa nas redes sociais.
O aumento das montagens de realities shows tem interessado muitos anunciantes que pretendem manter sua marca permanentemente no imaginário coletivo. Muitas emissoras como TV Globo, Record e SBT têm recorrido a esses formatos televisivos como forma de obter extremo lucro por parte dos anunciantes, uma vez que há grande aceitação por parte do público em relação a estes formatos. Mesmo nos canais

168A
Inv
er
sã
o de P
AP
éIs n
A Pu
blIc
IdA
de d
IgIt
Al: o In
te
rlo
cu
to
r co
mo P
rIn
cIP
Al e
mIs
so
r de c
on
te
úd
os • A
rIe
lA F
er
nA
nd
es s
Ale
s
fechados observa-se também este aumento. São programas que colocam participantes
para competirem entre si em espaços gastronômicos, de moda e até para conseguirem
pretendentes para um possível namoro.
No caso do reality Colírios Capricho nota-se uma diferença no percurso de sua
construção: não é uma emissora que promove o programa, mas sim a marca de uma
revista. A marca que quer divulgar a si própria, em uma situação de escolha de um
candidato que fará parte de suas organizações. Apesar de ter sido veiculado pela
MTV, não se pode considerar que foi esta emissora que forjou o programa. Ela agiu
apenas como um canal – no sentido de ser um dos seis elementos da comunicação –
que transmitiu a mensagem a determinado interlocutor, ainda que claramente tenha
conseguido lucro pelo aumento da audiência que o tal programa proporcionou.
Entender que a Publicidade vende não apenas produtos, mas também ideias –
e em alguns casos, principalmente – é perceber que, o objetivo de uma revista que tem
garotas adolescentes como público-alvo, é ora vender determinado padrão de beleza,
ora o sonho do príncipe encantado, sendo este último o foco de concursos como o
Colírios Capricho.
A estratégia de divulgação de um concurso realizada a partir da convergência
midiática entre meio impresso – a própria revista – meio televisivo e Internet, claramente
intenta mais do que apenas divulgar o dito concurso. A intenção nitidamente é de, além
de divulgar o dito concurso, divulgar a marca da revista através da voz d elemento de
maior credibilidade em uma propaganda: o público em si, pois os próprios receptores
são também produtores dos conteúdos relativos as programa.
É, pois, o que ocorre com a divulgação do programa Colírios Capricho, pois além
de promover o Colírios Capricho, a revista terminou por também divulgar sua marca para
o grande público. Através da manifestação das fãs do programa, que exprimiam suas
preferências por este ou aquele colírio em blogs, Orkut, twitter e facebook, a Capricho
se “alimenta” e é também “alimentada” pela cooperação do seu próprio público-alvo,
algo que permite o trocadilho; o sonho de “ser consumido” de toda e qualquer marca.
Referências
BURGESS, Jean. Youtube e a Revolução Digital: como o maior fenômeno da
cultura participativa transformou a mídia e a sociedade. São Paulo: Aleph, 2009.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

169R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, 2010.
PATRIOTA, Karla R. M. P.; PIMENTA, Rodrigo Duguay da Hora. Da mída 2.0 para a mídia 3.0: perspectivas da próxima onda na web. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1902-1.pdf Acesso em: 15 abr. 2013.
SAAD, Beth. Estratégias 2.0 para a mídia digital: internet e informação e comunicação. São Paulo: Editora Senac, 2003.
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.
SCHRODER, Kim; VESTERGAARD, Torben. A linguagem da propaganda. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
VANOYE, Francis. Uso da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 170-184
política pública cultuRal: eMbRafilMe coMo desenvolviMento da cineMatoGRafia bRasileiRa
cRistóvão doMinGos de alMeida
clebeR MoRelli-Mendes
Doutor em Comunicação pela UFRGS, mestre em Educação e professor do curso de Relações Públicas - ênfase em Produção Cultural da Universidade Federal do Pampa.E-mail: [email protected]
Estudante de Graduação do Curso de Relações Públicas - ênfase em Produção Cultural da Universidade Federal do Pampa.E-mail: [email protected]

ResuMo
O artigo tem por objetivo compreender a EMBRAFILME como referência para o fortalecimento da indústria cinematográfica brasileira, através da política pública cultural aplicada no governo militar. Parte-se do pressuposto no qual o cinema brasileiro não existia enquanto indústria e que encontrou no Estado a força necessária para se estabelecer. O governo militar percebeu no cinema a possibilida-de de estabelecer o diálogo com parte dos intelectuais e também canais para consolidar a identidade nacionalista. Fundamentamos a análise em estudos bibliográficos e em dados estatísticos gerados pela própria EMBRAFILME. Evidenciamos, que a atuação estatal no cinema brasileiro e sua participação no processo de industrialização, foi decisiva para a contínua manutenção de uma cinematografia mais brasileira e menos estrangeira.
Palavras-Chave: audiovisual; cinema brasileiro; EMBRAFILME; indústria cinemtográfica; políticas públicas.
abstRact
This article seeks to understand the EMBRAFILME as a reference to the strengthening of the Brazilian film industry, through cultural policy applied by the military government. It starts from the assumption on which the Brazilian cinema did not exist as an industry and found in the state the power needed to establish. The military government realized in the cinema the possibility of establishing a dialogue with a portion of the brazilian intellectuals and also a channel to consolidate nationalist identity. To develop this analysis, the present work verifies the available literature on the object and statistical data generated by EMBRAFILME. We show, that state action in brazilian cinema and their participation in the process of industrialization, decisive for the continued maintenance of a cinematographic most brazilian and less foreign.
Keywords: audio-visual; Brazilian cinema; EMBRAFILME; film industry; Public political.

172R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Introdução
Este trabalho é fruto de uma pesquisa que almeja compreender a intervenção do Estado para o desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira. Buscou-se analisar a EMBRAFILME – Empresa Brasileira de Filmes Sociedade
Anônima – como a sua atuação foi relevante para o desenvolvimento e fortalecimento da cinematografia brasileira e seu comportamento como recurso estratégico da política pública cultural praticada pelo Estado, no período da ditadura militar, na administra-ção de Ernesto Geisel (1974-1979).
Para compreender o papel que a EMBRAFILME desempenhou é preciso retornar até o governo Getúlio Vargas (1930-1945), precisamente em 1937, quando entre algumas ações do que seria o embrião das políticas culturais no Brasil, está a fundação do Instituto Nacional de Cinema Educativo – o INCE. Além do INCE, também foram estabelecidos o Instituto Nacional do Livro (INL); Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); e o Serviço Nacional de Teatro (SNT). Hoje, percebe-se que essas ações foram relevantes para a construção do patrimônio cultural (material e imaterial), todavia se faz necessário recordar que Getúlio Vargas era uma pessoa de relações estreitas com outros governantes nacionalistas, que anos antes criaram institui-ções semelhantes como as fundadas em 1937, pelo então Presidente do Brasil. O Estado cria condições de acesso a livros, peças teatrais e filmes que naquele momento era uma atitude nobre e de consciência, mas acima de tudo era ação estratégica, pois assim, ele se infiltraria e conseguiria determinar quais livros, peças e filmes a população teria acesso, no mesmo sentido em que poderia boicotar ou de fato exercer a censura sobre aquelas obras que não eram de seu interesse. Por fim, no que diz respeito ao INCE, em sintonia com o governo alemão e italiano, identifica-se que o governo percebeu o cinema como um recurso para solidificar a ideologia e a identidade nacionalista, mas inicialmente não como entretenimento disfarçado de propaganda política – ao exemplo da Alemanha Nazista - e sim como ferramenta pedagógica utilizada com vídeos docu-mentários e institucionais, por isso a nomenclatura “Cinema Educativo”.

173P
olít
ica P
úb
lic
a cu
ltu
ra
l: em
br
af
ilm
e co
mo d
es
en
vo
lvim
en
to d
a cin
em
at
og
ra
fia b
ra
sil
eir
a • cr
ist
óv
ão d
om
ing
os d
e alm
eid
a - cle
be
r mo
re
lli-m
en
de
s
Posteriormente, em 1966 é fundado o Instituto Nacional de Cinema – INC, que por sua vez absorveu o INCE. Essa nova instituição deveria se responsabilizar pela fomentação, produção, distribuição, exportação e todas as fases que envolvem a cadeia produtiva do cinema brasileiro, agora encarado como indústria - diferente da antecessora INCE, em que o cinema tinha como proposta única a de ser educativo e passa a ser encarado como mercado e estratégia política. Contemporâneo a isso, SIMIS (1996) registra que: a ditadura transforma o então Departamento de Propaganda e Difusão Cultural - DPDC - em Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Com a influência do Ministério da Propaganda Alemão, é dessa forma que o cinema brasileiro deixou de ser tratado como pedagógico pelo Estado, para então ser utilizado como mercado e propaganda.
Na prática, isso faz com que um decreto determine a execução de curtas-me-tragens antes da exibição de longas, ao paralelo que são criados os cinejornais do DIP - realizados por grandes produtoras da época, como a Cinédia. De forma curiosa, pos-teriormente o DIP passa a produzir por si o conteúdo que interessa ao governo, então o decreto que determinava a exibição de curtas é revogado.
Os Primeiros Anos da Embrafilme: Uma Política Pública Cultural
No ano de 1969, o INC recebe um apêndice através do Decreto-lei nº 862, que estabelecia a criação da EMBRAFILME, uma autarquia formalmente vinculada ao INC e consequentemente ao Ministério da Educação e Cultura. Este é o primeiro grande passo, de fato, do envolvimento do Estado em alguma etapa da cadeia produtiva ci-nematográfica nacional, até então o INC atuava como órgão regulador legislador e no financiamento de filmes. Vejamos o artigo do decreto-lei que determinava o papel da empresa estatal de cinema:
Art 2º. A EMBRAFILME tem por objetivo a distribuição de filmes no exterior, sua promoção, realização de mostras e apresentações em festivais, visando à difusão do filme brasileiro em seus aspectos culturais artísticos e científicos, como órgão de cooperação com o INC, podendo exercer atividades comerciais ou industriais relacionadas com o objeto principal de sua atividade (BRASIL, 1969).1
Percebe-se que o Estado compreendeu, ao menos em parte, que o escoamento da produção cinematográfica nacional é tão fundamental quanto o próprio processo
1 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0862.htm > Acesso em: 04 de abril de 2013.

174R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
de produção. Outro ponto observado no Art 2º do decreto-lei que estabeleceu a EMBRAFILME, é a atenção particular que é dada à “difusão do filme brasileiro em seus aspectos culturais artísticos e científicos”. Ora, o Estado não estava apenas preocupado em escoar a produção nacional, também focava suas atenções no fortalecimento da imagem do Brasil perante o mundo através de sua própria cinematografia, assim como a inserção no “circuito científico”, algo como garantir que alguma possível corrente ci-nematográfica tupiniquim também fosse objeto de pesquisa em outros países, tal como acontecia com a Nouvelle Vague (França) – e mais ainda, o governo militar decidir os filmes brasileiros que seriam promovidos no exterior, se certificando que nenhuma obra expusesse ou questionasse a então administração federal, já que os filmes brasileiros que corriam o circuito internacional possuíam uma abordagem mais política. Essa postura do Estado pode ser interpretada como uma autêntica política pública cultural2.
A EMBRAFILME foi se legitimando como a primogênita política cultural no Brasil – isso porque o então Ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, além de apoiar a criação da empresa estatal, articulou o Plano de Ação Cultural, o PAC, que previa um aporte financeiro e um reconhecimento da importância do setor cultural e de seus atores. Esse plano teve suma importância no desenvolvimento da EMBRAFILME, já que meses após sua criação, acumularia mais uma função: administrar o financia-mento dos filmes nacionais. No teor prático, essa nova responsabilidade insere de vez a empresa estatal na cadeia produtiva cinematográfica, podendo influenciar de forma determinante na maioria das produções nacionais. Vale ressaltar que seu corpo gestor era indicado pelo governo, ou seja, nesse momento o Estado passa a moldar, em baixa ou larga escala, o cinema brasileiro, pois além de ser a fonte do capital financeiro, também é quem o administra. Ainda nesse fortalecimento do Estado, em 1973 o INC é absorvido pela EMBRAFILME, assim como é criado o Conselho Nacional de Cinema, o CONCINE. Com a criação desse conselho e a troca de direção da EMBRAFILME, houve mais uma articulação que acabaria por fortalecer uma vez mais a empresa estatal: através de assembleia, a empresa passaria a acumular a responsabilidade de distribuição dos filmes nacionais em território brasileiro. Segundo Coelho Neto (2003), as políticas culturais não precisam, fundamentalmente, serem apenas dever do Estado. A promoção da cultura e acesso aos bens culturais também passam pela iniciativa privada e terceiro setor. Compreende-se que a cultura deve exercer algum tipo de lucro financeiro, ao menos se sustentar.
Toda essa movimentação atesta que o Estado percebeu o cinema nacional muito além de uma simples política pública cultural, mas também um bom e lucrativo
2 Consideramos o conceito a partir de Calabre (2005, p. 9). Para ele política pública cultural é um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de ações públicas mais imediatas no campo da cultura.

175P
olít
ica P
úb
lic
a cu
ltu
ra
l: em
br
af
ilm
e co
mo d
es
en
vo
lvim
en
to d
a cin
em
at
og
ra
fia b
ra
sil
eir
a • cr
ist
óv
ão d
om
ing
os d
e alm
eid
a - cle
be
r mo
re
lli-m
en
de
s
produto de mercado, se manuseado de forma correta - passando assim a ocupar lacunas e espaços que a iniciativa privada ou os cineastas e produtores independentes não conseguiam preencher, seja por limitação profissional e de atuação ou mesmo por imposições do Estado.
Para elucidar esse período de criação da EMBRAFILME e sua atuação pré-governo Geisel, segundo Gatti (2007), se faz necessário citar alguns pontos, como a proximidade dos ministros Jarbas Passarinho e Ney Braga com a classe cinematográfi-ca, estreitamento que fez da EMBRAFILME uma realizadora de desejos – confirmada por números: a empresa estatal financiou 80 filmes, através de duas produtoras com quatro filmes cada, quatro produtoras com três filmes, 11 com dois filmes e mais 38 produtoras com apenas um filme – isso no período contemplado de 1970 até 1973.
Fundada em 1969, a EMBRAFILME se legitimou como uma eficiente política pública cultural, ao ponto que além de prover o acesso de filmes retratando a nossa realidade à população em nível nacional, também contemplou o desejo dos diretores e produtores brasileiros. Filmes com amplo sucesso de bilheteria como Dona Flor e seus dois maridos (Bruno Barreto, 1976), cinenovistas como O amuleto de Ogum (Nelson Pereira dos Santos, 1973) e a pulverização de capital com filmes divididos entre mais de 55 produtoras, além de financiamentos, distribuição, decretos com determinação de exibição e todos os desejos e delírios, trouxeram para o governo militar a simpatia de toda uma classe cinematográfica, possivelmente não de acordo com a ditadura, mas compartilhando um mesmo vilão, o cinema estrangeiro. Podemos afirmar que, pelo menos por esse período, a utilização da política pública cultural como recurso estratégico político se confirmou como uma sábia decisão, ou ainda, se foi uma feliz coincidência da vontade militar em atender as necessidades culturais da população e da cadeia produtiva, calhou de ser um ótimo caminho para estabelecer boas relações com parte dos intelectuais e autores brasileiros.
Governo Ernesto Geisel: O Auge da EMBRAFILME
O ano de 1974 demarca um passo importante na história do cinema brasileiro e consequentemente da EMBRAFILME. A indicação de Roberto Farias como diretor-ge-ral da empresa estatal, que até então era produtor e cineasta. Esse primeiro movimento do governo Geisel, no que diz respeito a EMBRAFILME, em indicar um profissional da classe ao invés de algum militar (como ocorria até então), demonstra muito além de um exercício de boa vontade e agrado para com os profissionais do cinema brasileiro, se revela por parte dos militares, o entendimento que para o Brasil ter uma indústria

176R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
cinematográfica de fato, necessita-se de um profissional da área em seu mais importante cargo.
Segundo Gatti (2007), a gestão Roberto Farias colabora para a profissionaliza-ção da gestão da EMBRAFILME. Os novos moldes para coprodução, menos objetivos que os adotados pela INC, mas com um teto estipulado em 30% do orçamento total – sem poder exceder 2.200 salários mínimos vigentes. Além dessa normativa, houve a concessão de avanços da bilheteria sobre filmes nacionais distribuídos aqui e no exterior. A opção por um marketing mais agressivo também fez parte das mudanças estruturais dessa nova administração. Entretanto, o autor levanta que a ação mais relevante foi a aprovação da lei que daria mais responsabilidades para a EMBRAFILME, no mesmo sentido que o INC seria extinto.
Quando a empresa estatal surgiu em 1969, sua função por natureza era a exportação de filmes brasileiros, em 1974 ela passava a ter responsabilidades anterior-mente alinhadas para o INC, e mais remotamente com o INCE. Dentre as novas e velhas atribuições da EMBRAFILME estavam: coprodução; aquisição e importação de filmes; distribuição e exibição de filmes no Brasil e exterior; financiamento; promoção de filmes em circuitos nacionais e no exterior; criação de subsidiárias; pesquisa; recuperação e conservação de filmes; produção, coprodução e difusão de filmes científicos, técnicos, educativos e culturais; formação profissional; documentação e publicação; e manifesta-ções culturais.
A leitura que se faz sobre as políticas de coprodução e avanço sobre bilheteria nesse período, concomitante o estatuto da EMBRAFILME, os recursos invariavelmen-te acabam sendo destinados para diretores que já possuíam algum prestígio. A pos-sibilidade de avanço sobre bilheteria e até mesmo do financiamento total de filmes, abria brechas para superfaturamentos ou ainda pela falta de compromisso do diretor em produzir algo rentável, deixando para a empresa estatal toda responsabilidade e risco de fazer aquele filme de autor ser um investimento com retornos mercadológicos. Todavia, do ponto de vista governamental, se essa política administrativa era de fundo perdido ou amadorismo burocrático, no entendimento político em sua essência, era mais uma forma inteligente de manter o alicerce de “boa vizinhança” com a classe ci-nematográfica brasileira, contemporânea ao Cinema Novo - composta por intelectuais respeitados dentro e fora do país.
Após o período conturbado de mudanças, escoamento de dinheiro público e debates internos sobre o poder das subdivisões da empresa estatal, os anos de 1975 e 1976 se demonstraram como os grandes anos comerciais da EMBRAFILME, quiçá da história do cinema brasileiro. Dona Flor e seus dois maridos (Bruno Barreto, 1976)

177P
olít
ica P
úb
lic
a cu
ltu
ra
l: em
br
af
ilm
e co
mo d
es
en
vo
lvim
en
to d
a cin
em
at
og
ra
fia b
ra
sil
eir
a • cr
ist
óv
ão d
om
ing
os d
e alm
eid
a - cle
be
r mo
re
lli-m
en
de
s
atingiu 11 milhões de espectadores, número superado apenas por Tropa de Elite 2 (José Padilha, 2010). Xica da Silva (Carlos Diegues, 1976) também foi outro arrasa-quarteirão dessa época, alcançando mais de 3 de milhões de espectadores – outra contribuição importante desse período que se estabelece é a Lei da Dobra, artifício que garantia mais uma semana de exibição se o filme superasse a média de frequência semanal da sala em relação ao semestre anterior. Esse conjunto de ações e sucessos fez com que a EMBRAFILME batesse todos os recordes de arrecadação e espectadores, números que antes pertenciam a empresas de cunho privado, como Cinedistri, Ipanema e UCB. A boa atuação da (subdivisão/departamento) distribuidora, garantiu que os filmes rendessem ao ponto de pagarem toda divulgação, as cópias, investimentos e ainda gerassem lucros para a EMBRAFILME – o que colaborou para o cinema brasileiro ocupar 30% do mercado cinematográfico no Brasil. Matta (2010, p.38) afirma que, “no Brasil, acredita-se que as políticas públicas federais de apoio ao cinema aplicadas ao longo da história têm se mostrado ineficazes por serem estruturalmente equivocadas para a indústria.”
A ditadura também mostrou seu lado opressor nesse período dourado do cinema nacional. Apesar da EMBRAFILME ser uma empresa estatal, seus grandes res-ponsáveis eram civis da classe cinematográfica, o que em sua essência autorizavam o financiamento e coprodução de bons filmes, independente da abordagem política ali presente. Tal atitude fazia com que os filmes fossem produzidos e gerassem dividendos, mas quando chegava a hora de distribuir, precisavam se submeter à censura federal, como qualquer outra manifestação artística. Muitos desses filmes acabavam sendo censurados, dentre eles Morte e vida Severina (Zelito Viana, 1977), que foi impedido de correr os circuitos internacionais.
Mesmo com essas ações desreguladas com um planejamento estratégico, ou ainda pensadas como apostas de ganha-ganha, a EMBRAFILME teve um crescimento programado, o que fez abrir escritórios em New York e Paris para negociar os filmes brasileiros e garanti-los em festivais. Com o produto brasileiro sendo mais visto e se tornando um produto atrativo com boas plataformas de promoção e divulgação, os prêmios e o reconhecimento internacional vieram naturalmente. Não bastasse o salto comercial do mercado interno, o governo Geisel também vai ser o responsável pelo maior período de premiações e valorização do cinema brasileiro em níveis internacio-nais, sejam em circuitos centrais e até mesmo nos mais periféricos.
Infelizmente, esse sucesso conseguiu, de certa forma, implodir a EMBRAFILME. Não que ela fosse se encerrar em 1979 pelo sucesso alcançado, mas porque os filmes distribuídos no exterior eram selecionados pelo departamento de distribuição – ou seja, nem todos os filmes produzidos pela empresa estatal eram distribuídos por ela no

178R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
exterior. Essa independência prática que a distribuidora exercia causou uma série de conflitos internos, principalmente na sucessão da diretoria-geral, que era ocupada por Roberto Farias. A desarticulação momentânea da classe cinematográfica brasileira teria um custo brutal, pois o mais alto cargo da EMBRAFILME seria passado para Celso Amorim em 1979, diplomata de carreira e sem nenhum trabalho no âmbito cinemato-gráfico. A escolha foi visivelmente política, em amplo sentido, do lado governamental se existia uma necessidade de manter a classe cinematográfica unida e principalmen-te alinhada com a administração pública, indicar o cineasta errado nesse momento poderia custar a parceria de sucesso. A classe ligada ao cinema perdia a oportunidade de manter alguém do meio cinematográfico no mais importante cargo da indústria ci-nematográfica brasileira, mas se permanecia fortalecida de certa forma, pois com a não indicação de cineasta A ou produtor B, cessou e/ou garantiu que as rixas internas não obtivessem proporções ainda maiores e mais expostas.
Números da Embrafilme no Governo Geisel
O livro Artes e Manhas da EMBRAFILME: cinema estatal brasileiro em sua época de ouro (1977-1981) de Tunico Amancio (2000) é uma rica fonte de informação e história acerca do cinema brasileiro e de sua grande empresa estatal. O autor compila entrevistas, documentos, relatórios e revisões bibliográficas sobre o assunto, além claro, de suas ótimas e oportunas reflexões, o que culmina em uma organizada percepção do que foi o trabalho desenvolvido pela EMBRAFILME. As tabelas que serão apresentadas na sequência foram retiradas, quase que totalmente, desse livro. Apesar da fonte primária não ser o Amancio, é preciso registrar que a coleta e organização é de sua inteira res-ponsabilidade e principalmente mérito.
Como visto, a administração do governo Geisel deu uma atenção especial ao cinema brasileiro, seja motivado por razões políticas, de amizade com envolvidos do setor ou apenas simpatia por filmes. A direção de Roberto Farias elevou o cinema nacional a patamares jamais alcançados por outros governos. A construção de relações entre os cineastas por ofício ou os mais subversivos garantiram um alicerce tão sólido quanto a relação conturbada entre estado e cinema permitem.
Motivados pela consolidação de um forte cinema brasileiro, de preferência na-cionalista (na preposição dos militares), a primeira grande influência para o crescimento do cinema nacional no período abordado passa pela obrigatoriedade de exibição:

179P
olít
ica P
úb
lic
a cu
ltu
ra
l: em
br
af
ilm
e co
mo d
es
en
vo
lvim
en
to d
a cin
em
at
og
ra
fia b
ra
sil
eir
a • cr
ist
óv
ão d
om
ing
os d
e alm
eid
a - cle
be
r mo
re
lli-m
en
de
s
Reserva de Mercado para Longa-Metragem Nacional
Ano Obrigatoriedade
1939 1 filme por ano
1946 3 filmes por ano
1951 1 filme nacional para cada 8 estrangeiros
1959 42 dias por ano
1963 56 dias por ano
1970 84 dias por ano
1971-1 98 dias por ano
1971-2 84 dias por ano
1974 84 dias
1975 98 dias (até 1/7)
1976 112 dias
1977 112 dias
1978 133 dias
1979 140 dias
Fonte: ALTBERG (1983).
Observando a reserva de mercado para exibição de longas-metragens brasileiros no mercado nacional ao longo do tempo, percebe-se o salto e como ele contribuiu para o sucesso da EMBRAFILME. No período pré-EMBRAFILME, a obrigatoriedade era de apenas 56 dias/ano, enquanto meses depois de sua fundação acontece a ampliação para 84 dias, aumento de 50%. No período Geisel, esse número cresce ano após ano, se analisado do começo de seu governo (84 dias/ano em 1974) até seu último ano (140 dias/ano em 1979), é nítida a força que o Estado deu para o fortalecimento do cinema nacional, afinal aplicou um aumento de 66,6% desde o início de seu governo. Atitude um tanto óbvia, pois se o Estado passou a atuar na produção e distribuição do cinema nacional, fez valer sua força e determinou um aumento arbitrário, naturalmente um dos fatores de sucesso do cinema brasileiro nesse período. Todavia, é preciso esclarecer que esse favorecimento foi em prol do cinema brasileiro como indústria e identidade, do ponto de vista do mercado exibidor há um estresse com a intervenção do Estado, já

180R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
que o filme estrangeiro é muito mais flexível no que diz respeito ao comércio e aceitação geral do público, dada sua forte influência cultural.
A obrigatoriedade de exibição, por si só, não garante o bom desempenho de filmes. Garante-se apenas que o filme nacional ficará em cartaz por aquele prazo mínimo determinado. O sucesso do filme brasileiro no período da EMBRAFILME, principalmente no período Geisel, se dará pelo conjunto de ações desenvolvidas pela empresa estatal e pelo CONCINE, que foram abordados anteriormente neste trabalho. Para uma melhor visualização e entendimento dessa atuação, vejamos alguns números:
Espectadores nas Salas de Exibição
Ano Nacional % Estrangeiro % Total %
1974 30.665.515 - 170.625.487 - 201.291.002 -
1975 48.859.308 59 226.521.138 32 275.380.446 36
1976 52.046.653 6 198.484.198 -12 250.530.851 -9
1977 50.937.987 -2 157.398.105 -20 208.336.002 -16
1978 61.854.842 21 149.802.182 -4 211.657.024 1
1979 55.836.885 -9 136.071.432 -9 191.908.317 -9
Fonte: EMBRAFILME (1980) apud AMANCIO (2000).
No primeiro ano do governo Geisel, o circuito cinematográfico registrou 201.291.002 espectadores, desses somente 30.665.515 em filmes nacionais. O ano seguinte, já com a nova perspectiva estabelecida garante um crescimento de 59% do público em filmes brasileiros, sendo que o crescimento do público total foi de apenas 36%. O ano de 1976 registra o contínuo crescimento do filme brasileiro, dessa vez de 6%, do outro lado da ponta o cinema estrangeiro registra uma queda de 12% e o total de espectadores 9%, ou seja, nesse ano, o único número que elevou foi o de espectadores de filmes nacionais. O ano de 1977 registra uma pequena queda para o cinema brasileiro, 2%, entretanto o estrangeiro sofre com 20% de queda em seus espectadores, enquanto o total sinaliza com a baixa de 16%. A redenção vem no ano seguinte, o melhor do governo Geisel, em que o cinema brasileiro atinge incríveis 61.854.842 espectadores, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior, sendo que o público total registrou aumento de apenas 1%, completado pela queda de 4% do cinema estrangeiro.
No último ano desse período, o cinema nacional sofre uma queda de 9% em

181P
olít
ica P
úb
lic
a cu
ltu
ra
l: em
br
af
ilm
e co
mo d
es
en
vo
lvim
en
to d
a cin
em
at
og
ra
fia b
ra
sil
eir
a • cr
ist
óv
ão d
om
ing
os d
e alm
eid
a - cle
be
r mo
re
lli-m
en
de
s
relação ao ano anterior – entretanto, observa-se que ainda assim foi seu segundo melhor ano – já o cinema estrangeiro vai registrar seu pior público nesse período, consolidando quatro anos de queda de espectadores. Em suma, apesar de uma pequena queda em 1977 e a relativa queda de 1979, o cinema nacional se mostrou em amplo crescimento e de forma regular, não há, por exemplo, um grande ano que se cerque de anos ruins e acabe por mascarar uma média, pelo contrário, o crescimento é sustentável, mesmo que nesse período tenha ocorrido uma queda de público total nas salas de cinemas do Brasil.
Se com outra administração ou forma de gestão a cinematografia brasileira alcançaria números melhores é uma incógnita, mas o crescimento registrado na gestão Geisel é louvável, do ponto de vista político, mais brasileiros assistiram filmes brasileiros e com o aval de seu governo, fora a questão do financiamento e do discurso de como o governo militar dá atenção para a cultura brasileira e colabora para a afirmação de uma identidade nacionalista. Mercadologicamente falando, também foi uma época feliz, já que o cinema brasileiro ampliou sua arrecadação, se em 1974 o cinema nacional arrecadou 13.223.446 de dólares, em 1979 o valor chegou em 23.903.071 de dólares, uma variação de 80% - do outro lado, o cinema estrangeiro registrou uma queda na variação de 8%, tendo arrecadado 67.530.200 de dólares em 1974 e 61.904.288 de dólares em 1979; isso segundo a EMBRAFILME/DIP (1980).
Outra forma de compreender melhor o papel da EMBRAFILME nesse desempenho é analisar a sua participação efetiva no período, para isso é preciso isolar o público total de filmes brasileiros e então o público que consumiu filmes pelas mãos da EMBRAFILME:
Participação de Público da EMBRAFILME
Ano Público Total Público Embrafilme %
1974 30.665.515 6.803.153 27,80
1975 48.859.308 6.324.268 14,69
1976 52.046.653 13.944.515 29,71
1977 50.937.897 14.778.952 33,03
1978 61.854.842 21.790.564 37,99
1979 55.836.885 13.375.724 25,02
Fonte: AMANCIO (1989) apud GATTI (2007).

182R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Percebe-se que assim como o cinema brasileiro como um todo cresceu, a
EMBRAFILME teve participação direta nesse desempenho. Se desconsiderarmos o desempenho ruim da empresa estatal em 1975, a EMBRAFILME respondeu sempre por mais de 25% dos espectadores de filmes nacionais no período Geisel. Esse avanço deve-se muito pelo esforço de promover os filmes, assim como de aliar a produção com a distribuição, garantindo o escoamento dos projetos em que a empresa investiu. Não menos importante é a ação protecionista do Estado em aumentar gradativamente a obrigatoriedade da exibição do filme nacional. A participação da EMBRAFILME sob a administração de Geisel, na cinematografia nacional:
Filmes Brasileiros Lançados
Ano Lançados no Brasil Lançados pela EMBRAFILME
1974 80 38
1975 89 25
1976 84 29
1977 73 12
1978 100 22
1979 93 19
Fonte: EMBRAFILME (1980) apud GATTI (2007).
Os filmes lançados pela EMBRAFILME seguem uma regularidade no quesito de números, a única discrepância é no ano de 1974, o ano com o pior desempenho do cinema nacional é o mesmo em que a empresa mais escoou projetos no período abordado. Ainda assim, ela respondeu por mais de 27% do público de filmes brasileiros nesse ano. Outro dado interessante é a quantidade de filmes lançados com a não par-ticipação da EMBRAFILME, demonstrando o crescimento conjunto da cinematografia brasileira, motivada principalmente pela lei de obrigatoriedade.
Considerações Finais
Conforme a análise do histórico e atividades dos primeiros órgãos estatais ligados ao cinema e os primeiros anos da EMBRAFILME, de sua criação até o fim do governo militar de Ernesto Geisel é possível compreender a atuação direta do Estado e sua influência acerca do desempenho e da construção da cinematografia brasileira.

183P
olít
ica P
úb
lic
a cu
ltu
ra
l: em
br
af
ilm
e co
mo d
es
en
vo
lvim
en
to d
a cin
em
at
og
ra
fia b
ra
sil
eir
a • cr
ist
óv
ão d
om
ing
os d
e alm
eid
a - cle
be
r mo
re
lli-m
en
de
s
Pode-se dizer que o governo militar buscou uma estatização dos bens culturais, e que isso não passa necessariamente por algo sucateado, no caso da EMBRAFILME, se viu um sistema planejado e organizado, com forte influência de seus principais atores (a classe cinematográfica), ao ponto de um deles ocupar a mais importante função de uma empresa estatal em plena ditadura. Esse diálogo entre Estado e cinema, que his-toricamente seria realizado em um ambiente conturbado, encontrou calmaria suficiente para o crescimento em conjunto, seja das políticas públicas culturais ou da própria cinematografia e de seu mercado. A intenção de criar uma identidade nacionalista e encontrar no cinema a extensão para se propagar, coincidiu com a luta dos cineastas brasileiros contra a invasão brutal do cinema estrangeiro.
Se a EMBRAFILME não foi uma corrente do cinema brasileiro, certamente se marca como um período. Nitidamente é o momento em que o nosso cinema deixa de ser artesanal e adota um ritmo industrial, preocupado na qualidade estética e comercial de seu produto final. Evidente que não há independência, e nem sempre a vontade do cineasta prevaleceu, ainda estamos falando de uma ditadura militar. Entretanto, se precisa valorizar a propulsão que o Estado deu para os nossos mais notáveis cineastas, como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, assim como para os primeiros arrasa-quarteirões brasileiros, caso de Dona Flor e seus dois maridos (Bruno Barreto, 1976) e A Dama do Lotação (Neville de Almeida, 1978).
Nesta perspectiva, seja um recurso estratégico ou uma política pública cultural, quiçá os dois, a ditadura militar e principalmente o governo de Ernesto Geisel des-empenharam um papel atuante e importante para a construção de uma cinematogra-fia brasileira, o acesso da população ao próprio filme, um entendimento de indústria e mercado, assim como a valorização do cinema brasileiro no exterior. O fortaleci-mento da indústria cinematográfica brasileira ou até mesmo a sua colocação como indústria passou pela ditadura, sem entrar em juízo de valor sobre a atuação militar enquanto administrador federal, o reconhecimento deve ser feito no que diz respeito a EMBRAFILME e as proteções geradas e administradas pelos órgãos reguladores que foram os grandes responsáveis pela melhor época do cinema brasileiro.
Referências
ALTBERG, Celso. Por uma questão de liberdade: ensaios sobre cinema e política. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.
AMANCIO, Tunico. Artes e manhas da Embrafilme: cinema estatal brasileiro em sua época de ouro (1977-1981). Niterói: EdUFF, 2000.

184R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
BRASIL. Decreto-lei nº 862, de 12 de setembro de 1969. Autoriza a criação da Empresa Brasileira de Filmes Sociedade Anônima (EMBRAFILME), e dá outras providências. Diário Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF, n. 175, p. 7731, 12 set., 1969.
CALABRE, Lia (org). Políticas Culturais: diálogo indispensável. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2005.
COELHO NETO, José Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. In: BRANT, Leonardo (Org.). Políticas Culturais: vol. I. Barueri, SP: Manole, 2003.
GATTI, André Piero. Embrafilme e o cinema brasileiro. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 2007.
MATTA, João Paulo Rodrigues. Políticas públicas federais de apoio à indústria cinematográfica brasileira: um histórico de ineficácia na distribuição. In: MELEIRO, Alessandra (Org.) Cinema e mercado. São Paulo: Escrituras Editora, 2010.
SILVA, Antônio Carlos Amâncio. Produção Cinematográfica na Vertente Estatal: Embrafilme – gestão Roberto Farias. Dissertação de Mestrado, ECAUSP, 1989.
SIMIS, Anita. Estado e cinema no Brasil. São Paulo: Annablume/Fapesp, 1996.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 185-203
RecuRsos coMposicionais aplicados à tRilha Musical de videoGaMes coMo eleMentos naRRativos e de GaMeplay: o exeMplo de yasunoRi Mitsuda e sua coMposição paRa chRono cRoss
luiz FeRnando valente RoveRan
yaRa BoRGes caznok
Licenciado em Educação Musical pelo Instituto de Artes da Unesp (2013). E-mail: [email protected]
Doutorado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (2001). Responsável pela criação e Coordenação do Projeto de Extensão Da Capo Curso Preparatório para o Vestibular de Música. Atualmente, é Coordenadora do Conselho de Cursos de Bacharelado em Música e de Licenciatura em Educação Musical do Instituto de Artes da UNESP, campus São Paulo. E-mail: [email protected]

ResuMo
Este artigo visa evidenciar o uso de técnicas e recursos de composição musical como elementos de auxílio construtivo às outras partes constituintes de um jogo eletrônico - especialmente a narrativa e seu gameplay. Isto foi feito através da análise da trilha musical de um consagrado RPG japonês - Chrono Cross (1999) - e considerando sua ligação com o game como um todo. Os resultados apontam para uma relação intrínseca entre música e a mídia à qual se associa, além de uma clara preocupação do compositor Yasunori Mitsuda em buscar uma unidade estética e funcional.
Palavras-chave: Videogame; Trilha musical; RPG; Chrono Cross; Yasunori Mitsuda.
aBstRact
This paper aims to evince the use of musical composition techniques and resources as helping construc-tive elements to the other parts that constitute an electronic game - especially its narrative and gameplay. This was made through the analysis of a musical score from a renowned Japanese RPG - Chrono Cross (1999) - and considering its link with the game as a whole. The results point to a close relation between the music and the media associated with it. Also, a concern to achieve a functional aesthetic unity by composer Yasunori Mitsuda is clearly noticeable.
Keywords: Videogame; Soundtrack; RPG; Chrono Cross; Yasunori Mitsuda.

187R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
1 Introdução
O fenômeno do crescimento da indústria dos videogames é dos mais claros a ser constatado do século XXI. O impacto socioeconômico e cultural deste fato pode ser visto sob diversas ópticas e, sobretudo, exemplificado. A Steam,
principal plataforma online de venda de games para PC e interação entre jogadores apresentou um pico de usuários conectados simultaneamente de 7 milhões de pessoas durante o fim do mês de abril deste ano1. O jogo eletrônico Grand Theft Auto V (Rockstar Games, 2013) tornou-se à data de seu lançamento, simultaneamente, a obra de entreteni-mento mais rentável de todos os tempos e o game com produção mais cara da História2.
Além do mercado constituído pelas grandes desenvolvedoras de videogames, emerge também uma nova e forte indústria independente de títulos desta linguagem artística. Obras deste tipo que receberam grande visibilidade incluem Cave Story (Pixel Studio, 2004), Papers, Please (Lucas Pope, 2013) e os brasileiros Out There Somewhere (MiniBoss Studio, 2012) e Oniken (JoyMasher, 2012). Entre outras formas, esta indústria indie organiza o desenvolvimento e venda de suas obras através de sites e plataformas como o Desura (www.desura.com), sítio este que ainda mantém o IndieDB (www.indiedb.com) e o ModDB (www.moddb.com), espaços virtuais que visam agregar profissionais inde-pendentes da área. A supracitada Steam possui um sistema chamado Greenlight (http://steamcommunity.com/greenlight) no qual seus usuários podem votar, para que deter-minados projetos de jogos eletrônicos independentes sejam incluídos em sua prateleira virtual.
A trilha musical para videogames, assim como em associações mais antigas da música com dramaturgia, desempenha papel de auxílio construtivo à narrativa realizada ao longo da obra. Sua importância neste meio é notável, visto que gerou um repertório e seu respectivo público que aprecia o trabalho de compositores como Nobuo Uematsu (Final Fantasy), Koji Kondo (Super Mario Bros., The Legend of Zelda), David Wise
1 Disponível em <http://store.steampowered.com/stats/?snr=1_steam_4__110>. Acessado em 29/04/2014.2 Disponível em <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/gta-quebra-7-recordes-mundiais-confirma-guinness-10306977>. Acessado em 29/04/2014.

188
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
(Donkey Kong Country) e o próprio Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenogears), cuja composição em Chrono Cross é foco deste texto. Em seu prefácio para Game Sound, Karen Collins fala sobre a atenção que o som para videogames tem ganhado mundialmente:
A atenção para o áudio de games entre a população geral também está crescendo. Os esforços de grupos industriais como o Interactive Audio Special Interest Group (IAsig), Project Bar-B-Q e o Game Audio Network Guild (GANG) têm mostrado avanços em tecnologias e ferramentas nos últimos anos, assim como em direitos e reconhe-cimento de compositores, designers de som, dubladores e progra-madores de áudio. Junto do reconhecimento do público, a academia acompanha lentamente: novos cursos sobre áudio para games estão começando a aparecer em universidades (como os da University of Southern California e da Vancouver Film School), e novas revistas – como a Music and the Moving Image, publicada pela University of Illinois Press e a Music, Sound and the Moving Image publicada pela University of Liverpool – estão expandindo seu foco para além do cinema e da televisão. (2008, p.IX. Tradução nossa, assim como todas as outras.)
Este artigo visa apontar recursos composicionais utilizados por um compositor consagrado como Mitsuda em uma de suas obras mais notáveis como forma de enaltecer determinadas passagens importantes da narrativa do game, assim como auxiliar o próprio ato de se jogar o jogo em questão. A partir disso, tenta mostrar como o emprego destas técnicas pode ser reutilizado de maneira prática em trabalhos de cunho semelhante na contemporaneidade.
Se comparado a outras formas de expressão artística mais antigas, o videogame ainda possui pouca bibliografia e pesquisa acadêmica. Considerando o crescente número de desenvolvedores de jogos e, consequentemente, de compositores para a trilha musical destes, a formalização deste conhecimento se mostra como um instrumento de consulta a fim de elucidar questões práticas e facilitar o trabalho do profissional na área.
2 A música como elemento narrativo
Segundo Carrasco, “a associação entre música e fala remonta a tempos imemoriais. A música vocal é encontrada em praticamente todas as culturas e com frequência ainda maior que na música instrumental” (2003, p.20). Esta união de música e texto não se restringe ao referido canto, mas também ao elo entre a dramaturgia e a música. Na comédia madrigal e na pantomima às óperas românticas de Verdi ou os dramas musicais de Wagner, a música desempenhou papel maior ou menor no ato de contar uma história. Todavia, é necessário frisar que a música não é constituin-te fundamental para que o drama se concretize, mas sim um elemento de auxílio à

189R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
narrativa. Podemos até ser guiados por compositores a imaginarmos histórias para suas composições, como é o caso dos poemas sinfônicos e de obras como a Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz, cujo título ou de seus movimentos evoca um mínimo traço narrativo - mas a música em si, desacompanhada de texto, não possui caráter de narração. Quando associada a uma cena teatral ou ao cinema, por exemplo, a peça musical pode assumir caráteres diversos. Carrasco ainda afirma o seguinte:
Quando a música se associa a outra linguagem, ocorre uma interação significativa. (...) Tratando-se de uma obra de arte, a significação continua a possuir um grau de abertura, seu significado nunca será única e inquestionável. (2003, p.21)
Esta multiplicidade de significações que a música pode assumir quando unida a outras mídias foi explorada de diversas maneiras por compositores, e motivo de trabalhos acadêmicos e análises. Em The Art of Film Music, George Burt enaltece as diversas nuanças presentes nas trilhas musicais de filmes de Hollywood através de minuciosa observação e estudo das relações que estas composições estabelecem com suas respectivas películas.
Quando estão escrevendo uma trilha para filme, os compositores se tornam dramaturgos musicais; seus pensamentos estão na história e como ela é contada (...). Os mais distintos compositores possuem um genuíno talento teatral e imaginação, assim como a habilidade de traduzir seus pensamentos em sons e gestos musicais. (BURT, 1994, p.3)
Indo além, Burt (p.17) comenta sobre a função caracterizadora que a música possui quando aliada ao cinema, e os desafios que seu uso impõe ao compositor.
Música para filmes pode se conectar tanto a indivíduos quanto a grupos de pessoas. Ao fazer isto, a música responde aos diversos significados por trás de várias ações e interações. Nestes casos, é importante que a música se conecte a sentidos cuja natureza simbólica transcenda a acepção superficial do diálogo e da ação. Geralmente, significados em geral se tornam aparentes através de mudanças emocionais ao longo de um extenso espaço de tempo. Música que corrobora estas mudanças estabelece elos com a apresentação dramática geral da história.
Nos jogos eletrônicos, a trilha musical também assume o papel de caracteri-zação de lugares, indivíduos, grupos de personagens, entre outros. Esta função talvez se torne mais atenuada devido à interação entre jogador e obra, parte constituinte de um jogo no qual a arte sonora, também, intervém. O apreciador de um videogame acaba tomando um contato maior, imerge no universo apresentado pelo título escolhido e a

190
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
música integra parte importante desta experiência. Acerca da interatividade, Salen e Zimmerman (2004, p.46) comentam:
Jogar implica em interatividade: brincar com um jogo, um brinquedo, uma pessoa, uma ideia é interagir com estas coisas. Mais especifica-mente, jogar um game significa fazer escolhas dentro de um sistema de jogo desenvolvido para possibilitar ações e reações de maneiras signi-ficativas. Cada ação resulta em uma mudança que afeta todo o sistema. Este processo de ação e reação surge porque jogadores interagem com o sistema desenvolvido para o game. A interação acontece ao longo de todos os níveis, desde a interação formal com os objetos e peças da obra à interação social entre jogadores, à interação cultural do título com os contextos além do espaço de jogo.
Especificando-nos, Collins (2008, p.3) fala sobre o papel do áudio em um game enquanto mídia interativa:
Embora a meta de muitos desenvolvedores de jogos seja criar uma experiência imersiva, o corpo não pode ser removido durante a experiência do jogar, o que traz implicações interessantes para o som. Ao contrário do consumo de muitas outras formas de mídia em que a plateia é muito mais um “receptor” passivo de um sinal sonoro, jogadores de videogame assumem um papel ativo ao acionar eventos sonoros em uma obra (incluindo diálogos, sons ambientes, efeitos sonoros e até eventos musicais). Enquanto ainda sejam, em um sentido, os receptores do sinal sonoro, eles também são parte do transmissor deste ao participar ativamente do estopim e do momento temporal destes sons.
Desta forma, fica claro como o ato de interagir não somente proporciona um mergulho em um novo ambiente ao jogador, como também o leva a uma tomada de consciência de suas ações durante a experiência de jogar. Ele é emissor e receptor das supracitadas ações e reações pré-estabelecidas no game, incluindo os múltiplos aspectos sonoros que um título pode conter: de música e efeito sonoro a diálogos e cenas não--interativas (cutscenes) repletas de som.
3 Chrono Cross
Desenvolvido e lançado em novembro de 1999 pela antiga Squaresoft (atual SquareEnix) para o console Sony PlayStation, Chrono Cross é um RPG eletrônico japonês (JRPG), gênero que consagrou sua desenvolvedora. Sua trama gira em torno do prota-gonista Serge, um jovem natural de um pequeno vilarejo praiano chamado Arni, que acaba caindo em uma dimensão paralela. Neste outro plano, Serge estava morto, o que

191R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
tornava sua presença ali um paradoxo. No entanto, com o desenrolar da narrativa, o jogador descobre aos poucos que a viagem dimensional de Serge não foi por acaso, e que seu papel é grande no restabelecimento do equilíbrio entre dimensões. A história se desenvolve sob o gameplay3 que consagrou os clássicos de seu gênero: personagens que crescem ao longo do tempo ao passar de níveis; possibilidade de múltiplas custo-mizações de seus protagonistas (diferentes armaduras, armas, magias, entre outros); existência de um universo fantástico, herança dos antigos RPGs de mesa como Dungeons & Dragons, e a necessidade de explorar caminhos desconhecidos (ou dungeons) repletos de inimigos para avançar no jogo.
É de suma importância lembrar que Chrono Cross é a sequência de um clássico do JRPG: Chrono Trigger (Squaresoft, 1995), lançado originalmente para Super Nintendo. Pautado no tema da viagem temporal, Chrono Trigger conta a história de Crono e seus amigos, personagens que, através de fendas no tempo, descobrem um pavoroso destino para seu mundo. A partir deste momento, as protagonistas da obra buscam alterar este final ao viajar para diferentes épocas e impedir a destruição de seu lar. É a partir das consequências desta história que emerge Chrono Cross. Vale ressaltar que os dois jogos possuem muitas diferenças, embora sejam títulos da mesma franquia. Chrono Trigger é um jogo com gráficos bidimensionais, enquanto seu sucessor foi lançado na era dos consoles em 3D. O sistema de batalhas de ambos difere em vários aspectos, como o uso diferente das magias e a organização dos ataques de combate corpo-a-corpo. A narrativa também se altera, pois enquanto Chrono Trigger prefere ter um pequeno número de personagens, porém dando maior detalhe e carisma a estas, Chrono Cross opta por utilizar um maior número de heróis, conferindo-lhes menor caracterização. Por esta série de diferenças, Chrono Cross causa divisão entre jogadores, pois esperava-se à época um game semelhante a seu antecessor. Um dos pontos em comum entre as obras, no entanto, é seu compositor: Mitsuda também escreveu a trilha musical de Chrono Trigger, inclusive esta sendo seu primeiro trabalho deste gênero. Antes, Mitsuda (2005) trabalhava como programador de efeitos sonoros:
(...) Tenho certeza de que a maioria de vocês já conhece a história, mas quando eu entrei na Square, eu fui empregado sob a alcunha de “compositor”. Embora eu tivesse este título de “compositor”, eu trabalhei como manipulador e programador de efeitos sonoros em games como Romancing SaGa 2, Hanjuku Hero, Final Fantasy V e Seikei Densetsu.Após um tempo, eu me cansei disso e escrevi uma reclamação direta
3 Prado e Vannucchi (2009, p.138) dão uma definição bastante válida deste termo em Discutindo o conceito de gameplay ao afirmar que o gameplay “emerge das interações do jogador com o ambiente (do jogo), a partir da manipulação de regras e mecânicas do jogo, pela criação de estratégias e táticas que tornam interessante e divertida a experiência de jogar”.

192
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
para Sakaguchi-san (Hirnonobu Sakaguchi, criador da famosa série Final Fantasy) que era o vice presidente da companhia até então. No fim, ele me deu a chance com esse novo título, Chrono Trigger.
Embora seja seu primeiro trabalho como compositor para videogames, a trilha musical de Mitsuda para Chrono Trigger foi muito bem recebida e até hoje é rearranjada e executada por diversos artistas e orquestras como a Video Games Live4. Um dos motivos para este fato poderia ser, talvez, o pensamento pouco usual em games, mas bastante efetivo que o compositor empregou para desenvolver a obra. Conforme explica Mitsuda (2008):
Quando eu compus a trilha original de Chrono Trigger, os principais jogos (de RPG japonês) eram Final Fantasy e Dragon Quest, e ambas as séries eram repletas de diferentes músicas para cada fase. Como um jogador, eu sempre achei que não havia consistência na música, e eu quis usar o tema principal de Chrono Trigger o quanto fosse possível, como o fazem nos filmes. Como resultado disso, eu comecei a trabalhar com diferentes andamentos e arranjos.
A composição para Chrono Cross apresenta também aspectos desta influência dos filmes que surge em Chrono Trigger, porém, estabelecendo uma ligação mais forte com o enredo do game, como veremos adiante.
4 A música em Chrono Cross
A composição de Yasunori Mitsuda para Chrono Cross é claramente influen-ciada pela música tradicional de diversos lugares do mundo. Ao escutar-se cada faixa desta trilha musical, é interessante notar como um autor oriental mescla diferentes sonoridades de países ao redor do globo para criar sua própria música. No encarte do disco da trilha original5 lançado pela DigiCube em 1999, o próprio compositor descreve brevemente seu trabalho no referido game:
Eu tentei aplicar sonoridades do Mediterrâneo em toda esta música, experimentando com sons típicos da guitarra do fado.Eu tenho uma grande impressão do estilo do fado como sendo representado por letras profundamente expressivas e músicas em tom menor. Mas, como um desafio, eu tentei trabalhar como temática principal de meu processo de escrita, música que pudesse penetrar nas profundezas do coração de uma pessoa com um som brilhante e em tom maior.Ademais, eu estive recentemente estudando percussão africana, eu fiz uso de ritmos da África, assim como sons de música antiga de
4 Sítio oficial da orquestra disponível em <http://www.videogameslive.com/index.php?s=home>.5 Disponível em http://www.chronocompendium.com/Term/Music_(Chrono_Cross).html. Acessado em 01/05/2014.

193R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
várias terras como Finlândia, China, Mongólia e Grécia. Claro, minha sonoridade irlandesa também está presente. (Mitsuda é conhecido por apreciar e utilizar muitos elementos de música folclórica da Irlanda).Quando escuto esta coleção de música, a coisa que eu admiro é que sou capaz de atingir uma forma bem organizada com sons, aparentemente, díspares (...) (MITSUDA, 1999)
Esta influência da música de tradição é audível logo no tema de abertura do game, a peça Time’s Scar. Nesta música, Mitsuda opta por utilizar alguns instru-mentos tradicionais do Japão, como as flautas shinobue e shakuhachi e o buzouki, típico instrumento grego de cordas palhetadas.
Na trilha musical do predecessor de Chrono Cross, Mitsuda faz uso de dois recursos composicionais muito empregados no cinema e que o autor traz para os games: o Leitmotiv e o tema e variações. O primeiro consiste em uma ideia rítmico-melódica associada a personagens, lugares, grupos de indivíduos, objetos ou ideias, e fundamenta os dramas musicais de Richard Wagner (1813-1883). Este motivo e/ou melodia permeia toda a obra musical, surgindo sob diferentes formas para remeter ao que está ligado a ela.
Figura 1: Melodia principal (Leitmotiv) de Chrono Trigger.
Figura 2: Melodia de Memories of Green, peça integrante da trilha de Chrono Trigger.

194
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
É importante notar no exemplo acima como o Leitmotiv de Chrono Trigger surge de forma variada na Figura 2. Além do acompanhamento diferente, a instrumentação e o andamento mudam – o tema original é tocado em um andamento mais rápido e acompanhado por um ritmo marcial, dando-lhe um caráter heroico, enquanto Memories of Green é acompanhada por arpejos suaves do piano e em andamento mais lento.
O tema e variações surge como uma forma estritamente musical na qual o compositor apresenta determinado material melódico – o tema – e, a partir disso, transforma esta melodia de diversas maneiras ao empregar alterações de andamento, ritmo, harmonia, e forma sobre ela.
Figura 3: Primeira parte do tema das Variações Diabelli, Op.120, de Beethoven.
Figura 4: Início da primeira variação das Variações Diabelli, Op.120, de Beethoven.
Um exemplo de fácil compreensão do conceito de tema e variações é a peça Variações Diabelli, de Ludwig van Beethoven. Neste trabalho, o compositor alemão utiliza um tema de outro autor, Anton Diabelli, e a partir deste material desenvolve as outras formas de executá-lo. Entre o tema e a primeira variação, é perceptível a clara alteração

195R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
no ritmo entre as duas. Enquanto o tema possui um caráter de valsa em compasso ternário, a primeira variação apresenta-se como uma “marcha majestosa” em compasso quaternário, conforme pede Beethoven.
Falamos tanto do tema e variações quanto do Leitmotiv, pois estes conceitos musicais são fundamentais na obra de Mitsuda para Chrono Cross. Tratando-se de um game no qual o jogador transita entre duas dimensões com características geográficas iguais, surgem duas competências muito importantes à música:
1. Auxiliar na diferenciação entre os dois mundos apresentados no título;2. Situar e caracterizar cada lugar destes mundos de acordo com seu momento na história contada pelo game.A maneira mais empregada por Mitsuda para preencher estes espaços é o
uso do que chamaremos de “peça original” e “peça-variação”. Na dimensão natal de Serge, protagonista do jogo, as localidades possuem um tema musical próprio. Na outra dimensão, a melodia destes temas originais é apresentada sob forma variada, com ins-trumentações diferentes, novos andamentos e escolhas harmônicas. Exemplo disto é a música para o vilarejo de Serge – Home Arni Village – e a peça-variação tocada no mesmo local, mas em outra dimensão – Another Arni Village. Em sua forma original, este tema evoca sensações de tranquilidade e paz, sentimentos geralmente buscados por compo-sitores de trilha musical para videogame quando estes escrevem música para o lar da personagem principal. Mitsuda (1999) comenta esta composição no encarte do disco da trilha original de Chrono Cross:
Todos os temas de ‘primeira cidade’ que eu havia escrito até então remetiam a uma sonoridade brilhante e ensolarada, então desta vez eu tentei fazer algo com uma atmosfera mais calma. Eu pensei que a música para guitarra de fado seria muito legal para esta cidade, mas a sonoridade do fado geralmente gera uma imagem escura e repleta de tristeza. Então eu me perguntei ‘se eu tentasse escrever uma música pacífica e brilhante com uma guitarra de fado, que tipo de música seria?’. Bem, talvez neste caso não seja exatamente fado...(risos)
Acerca da instrumentação escolhida para Home Arni Village, apresentamos a seguir um esquema em cores para melhor compreensão do uso de cada instrumento musical:

196
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
Figura 5: Primeira parte de Home Arni Village com sua respectiva instrumentação denotada.
Os trechos emoldurados em vermelho apontam partes executadas pelo violão. Em amarelo, encontra-se o contrabaixo, e em azul, a flauta, embora esta surja como forma de anunciar o início da próxima parte da peça. Conforme já é explicitado na imagem, os acordes cifrados são executados pelas cordas (a partir do compasso 9). Desta forma, podemos notar algumas características básicas desta parte da música. Em primeiro lugar, ela possui um andamento movido, executado a aproximadamen-

197R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
te 123 bpm. A melodia fica a encargo do violão de aço, enquanto o acompanhamen-to é executado pelo contrabaixo e pelas cordas. A fórmula de compasso ternário e o padrão de acompanhamento ditado pelo contrabaixo dão a esta peça um caráter de valsa. Sebesky afirma que o violão de aço é um “instrumento muito efetivo para música folclórica” (1979, p.170). O autor se refere, no caso, ao folk americano, mas de qualquer forma, isto condiz com o que Mitsuda afirma quando diz que sua música para este jogo remete à música tradicional de diversos lugares do mundo.
A fim de comparação, voltaremos nosso olhar agora para a peça-variação deste tema. Segundo Yasunori Mitsuda no encarte do disco da trilha original, “Another Arni Village lhe dá a sensação de inexistência que vem do puro vazio. Então eu arranjei Home Arni Village com um sentimento de vazio para se tornar o tema desta peça. O desolador som do piano dobrando o violão se encaixa bem nesta vila” (1999). Esta sensação de vazio descrita se relaciona diretamente com o enredo do jogo - Another Arni Village é tocada no mesmo vilarejo, só que na dimensão onde Serge está supostamente morto. As características físicas e visuais da vila permanecem intactas. Desta forma, a música se alia ao enredo e causa uma sensação de estranheza e despertencimento ao se contrapôr à alegria visual apresentada sob a forma do pacato vilarejo. Uma sensação semelhante à de Serge ao se encontrar em um lugar tão familiar e, ao mesmo tempo, tão externo a ele, considerando que, de certa forma, ele é algo como um fantasma naquela dimensão. Além disso, frisamos que esta diferença serve para lembrar o jogador de em qual dos mundos ele está situado.

198
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
Figura 6: Primeira parte de Another Arni Village com sua instrumentação denotada.

199R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
A moldura em rosa corresponde ao piano, e as outras cores correspondem a ins-
trumentos anteriormente apontados na análise de instrumentação de Home Arni Village.Dois grandes fatores devem ser apontados logo de início como cruciais para esta
peça-variação: em primeiro lugar, seu andamento é mais lento, e o acompanhamento tem subdivisão em colcheias que enfatizam a suavidade do movimento; o outro fator é a instrumentação escolhida. As cordas sintetizadas utilizadas nesta peça apresentam um timbre mais suave, com um ataque menos audível. De forma geral, embora a partitura não aponte intensidades, esta música é tocada em dinâmicas mais próximas do piano, enquanto Home Arni Village é toda executada em intensidades mais fortes. O uso do piano como instrumento melódico deve ser apontado nesta peça-variação. Mitsuda faz uso dele de uma forma mais tradicional ao lhe arranjar de forma mais lírica, em con-traposição ao que Casella e Mortari afirmam acerca do instrumento na orquestração do século XX, ao dizerem que “o piano hoje assume na orquestra uma função primaria-mente timbrística, rítmica e percussiva.” (2004, p.151). O violão de aço tem dupla função: acompanhamento e contracanto, fundindo-se com o piano e formando uma entidade timbrística notável, como o próprio Mitsuda denota.
Não é só graças às diferenças de dinâmica, andamento e, sobretudo, instrumen-tos que Mitsuda obtém os resultados desejados com estas duas peças. Formalmente, Home Arni Village organiza-se em três partes - ou como costumamos chamar de forma ternária - dividindo-se em seções que chamaremos de “A”, “B” e “C”. O ponto culminante da melodia desta música encontra-se no final da parte B, anunciando o início de C. Isto ocorre por uma série de fatores: primeiramente, este trecho da melodia é executado pela flauta em um registro agudo. Sebesky afirma que o timbre da flauta é “brilhante e penetrante no registro agudo” (1979, p.56), e é graças a este timbre que a seção de maior intensidade e energia da peça se encontra, justamente, no momento em que a flauta sobe para esta região de notas. Além disso, Home Arni Village possui, em grande parte, um desenho melódico com notas que se encontram num registro médio. A melodia levada à região aguda pela flauta destoa de tudo o que é apresentado ante-riormente durante a música, chamando até mesmo o ouvido desatento a prestar atenção àquela seção musical.

200
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
Figura 7: Em destaque, ponto culminante da melodia de Home Arni Village.
Another Arni Village, por sua vez, possui uma melodia que abrange um registro de notas semelhante, D3 a F5 - o perfil melódico da peça original vai do E3 ao G5. No entanto, o papel de execução da melodia é desempenhado pelo piano, instrumento de som homogêneo em todo o seu registro. Por isso, o ponto culminante desta música não destoa tanto do resto da peça quanto em Home Arni Village, na qual o registro agudo da flauta dá uma clara sensação de crescimento de intensidade em toda a peça. A intensidade de Another Arni Village em toda a sua extensão não sofre grandes mudanças, sendo tocada sempre de forma delicada e constante.
Figura 8: Em destaque, ponto culminante de Another Arni Village.
Além do trecho de intensidade máxima de Another Arni Village não ser tão discrepante do resto da peça como o que ocorre em Home Arni Village, é importante citarmos que Mitsuda omite a seção B de Home Arni Village na peça-variação. Acreditamos

201R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
que variar sobre este trecho da música não seria interessante ao compositor devido às intenções que ele tinha com Another Arni Village, ou seja, arranjar o tema original de forma a criar uma sensação de vazio. A homogeneidade entre as partes A e B da peça--variação, correspondentes às seções A e C da peça original, mostra-se mais efetiva para atingir o objetivo proposto.
Desta forma, apontamos como principais recursos expressivos de variação empregados por Mitsuda nestas duas peças os seguintes:
1. Andamentos diferentes;2. Instrumentações diferentes;3. Alterações formais - no caso, omissão de uma parte inteira na peça-variação
em relação à peça original;4. Abordagens distintas do registro de notas como forma de elaboração
melódica.Além disso, ao voltarmos nosso olhar com mais afinco às duas peças, será
possível notar sutis diferenças rítmicas e harmônicas entre elas.Este tipo de processo é empregado em vários outros momentos da trilha de
Chrono Cross, evidenciando uma preocupação com uniformidade e estética, além da funcionalidade que Yasunori Mitsuda busca obter.
5 Conclusões
Os recursos composicionais que emergiram de nosso trabalho analítico demons-tram-se úteis na prática de desenvolvimento de trilha musical para jogos eletrônicos, podendo ser aplicados por compositores que se dediquem a este tipo de música dramática. É necessário frisar a destreza que Mitsuda possui ao aplicar as ferramentas encontradas nesta pesquisa, colocando este compositor como um modelo e inspiração para aspirantes e profissionais do ramo.
Ainda sobre o trabalho de Yasunori Mitsuda, percebe-se que o emprego de um pensamento que permeia toda sua obra em Chrono Cross traz consigo uma unidade coerente que se associa à obra, unindo a composição musical ao drama apresentado e ao gameplay em que se desenvolve.
Sobre a trilha musical para games, percebemos através desta análise que esta difere em vários aspectos de outros tipos de música dramática que surgiram anterior-mente. Ao contrário, por exemplo, da música de cinema, que tem função de reforço e auxílio à dramaticidade, a música para videogame interfere também na relação jogador--jogo, ajudando o apreciador a não somente compreender a trama do título, como em

202
Re
cu
Rs
os c
om
po
sic
ion
ais a
plic
ad
os à t
Ril
ha m
us
ica
l de v
ide
og
am
es c
om
o ele
me
nt
os n
aR
Ra
tiv
os e
de g
am
ep
la
y: o e
xe
mp
lo d
e ya
su
no
Ri m
its
ud
a e su
a co
mp
os
içã
o pa
Ra c
hR
on
o cR
os
s • l
uiz F
eR
na
nd
o va
le
nt
e Ro
ve
Ra
n - y
aR
a Bo
Rg
es c
az
no
k
avançar na história, propriamente. Por estas diferenças faz-se necessária maior pesquisa
acerca deste tipo de repertório – muitas vezes, o pesquisador precisa recorrer à teoria
e análise fílmicas para lidar com um videogame, sendo que, em termos de história,
conceitos e práxis, o universo do videogame já tem existência plena e autônoma.
6 Referências
BURT, George. The Art of Film Music. New York:
Northeastern University Press, 1996.
CARRASCO, Ney. Sygkhronos: A Formação da Poética
Musical no Cinema. São Paulo: Via Lettera, 2003.
CASELLA, Alfredo & MORTARI, Virgílio. The Technique of
Contemporary Orchestration. Milano: Ricordi, 2004.
COLLINS, Karen. Game Sound: An Introduction to the History,
Theory and Practice of Video Game Music and Sound
Design. Cambridge: The MIT Press, 2008.
MITSUDA, Yasunori. Interview with Yasunori Mitsuda. Entrevista para o
site www.squareenixmusic.com, 2005. Em: <http://www.squareenixmusic.
com/features/interviews/yasunorimitsuda.shtml>. Acessado em 05/05/2014.
____________. Yasunori Mitsuda Talks Chrono Trigger: Mysteries Solved,
Clarifications Made. Entrevista para o site www.originalsoundversion.com, 2008.
Em: <http://www.originalsoundversion.com/yasunori-mitsuda-talks-chrono-
triggermysteries-solved-clarifications-made/>. Acessado em 05/05/2014.
PRADO, Gilbertto & VANNUCHI, Hélia. Discutindo o conceito de
Gameplay. In: Texto Digital, Florianópolis: UFSC, v.5, n.2, p.138, 2009.
Disponível em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/
view/1807-9288.2009v5n2p130/13190>. Acessado em 01/05/2014.
SALEN, Katie & ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game
Design Fundamentals. Cambridge: The MIT Press, 2004.
SEBESKY, Don. The Contemporary Arranger. Sherman Oaks:
Alfred Publishing. 1979.

203R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
CDs
MITSUDA, Yasunori. Chrono Cross Original Soundtrack. Tóquio: DigiCube, 1999. 3 CDs (173 min): digital, estéreo. SSCX-10040.
Partituras
BEETHOVEN, Ludwig van. 33 Veränderungen über einen Walzer von A. Diabelli für das Pianoforte, Op. 120. Stuttgart: Cotta, 1891.
MITSUDA, Yasunori. Chrono Cross Original Soundtrack. Tóquio: Doremi Music Publishing, 2000.
_________________. Chrono Trigger Original Sound Version Piano Sheet Music. Tóquio: Doremi Music Publishing, 2008.
Jogos Eletrônicos
CHRONO Cross. KATO, Masato. Tóquio: Squaresoft, 1999. 2 CD-ROM, NTSC.

Revista GeMinis | ano 5 - n. 1 - v. 2 | p. 204-209
ConveRsas sobRe tRansMedia stoRytellinG: alteRnativas pRodutivas
entRevista CoM Rafael nunes
feRnanda Castilho
Doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade de Coimbra (2010-2014) com bolsa integral da CAPES. Mestre pela mesma instituição e pesquisadora do CIMJ (Centro de Investigação Media e Jornalismo). E-mail: [email protected].

205R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
Entrevista com Rafael Antunes1
Rafael Antunes realizou recentemente em Portugal projetos de ficção orientados pela lógica transmedia aplicada ao storytelling. Tanto Lápis Azul como Mutter conseguiram ter impacto na mídia portuguesa, mas o produtor admite que
ainda existe um grande abismo entre os projetos transmídia e a lógica de produção tradicional do cinema e da televisão. Rafael Antunes integra o projeto CIAKL, European course in entrepreneurship for the creative industries, que envolve várias Universida-des Europeias e empresas do ramo na procura de novos modelos de negócio para as indústrias criativas. Para além disso, desenvolve o seu doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, instituição que tem apoiado o desenvolvimento dos seus projetos em conjunto com a emissora SIC (Sociedade Independente de Comunicação), na qual trabalha desde 2001. O seu currículo ainda conta com a realização de curtas-metragens premiados por festivais portugueses.
FC: Como costuma definir o conceito de transmedia storytelling?
RA: Costumo definir o transmedia como meios autônomos que trabalham em conjunto num universo, mas podem ser consumidos separadamente, ou seja, eu posso ver o filme sem nunca ter visto o documentário, fico satisfeito e percebo a história. Isso é muito importante: que todas as plataformas sejam independentes, mas que cada peça vá acrescentando ao puzzle. No projeto Lápis Azul, temos o ponto de vista do censor no filme, depois, no documentário, temos os pontos de vista das pessoas que foram vítimas da censura. O transmedia também quer dizer “para além” do meio, e o que tenho pena de nunca ter feito, no caso do projeto Lápis Azul, é levar as pessoas à um passeio pelos edifícios da censura.
1 Entrevista realizada em Lisboa no dia 3 de fevereiro de 2014.

206C
on
ve
rs
as s
ob
re t
ra
ns
me
dia s
to
ry
te
llin
g: a
lte
rn
at
iva
s pr
od
ut
iva
s • Fe
rn
an
da C
as
til
ho
FC: A partir da sua experiência como realizador de Lápis Azul e produtor de outros projetos transmedia, como Mutter e Lápis Azul, como vê o desenvolvimento do transmedia storytelling em Portugal?
RA: Desde 2010 há mais pessoas interessadas no transmedia porque começaram a perceber que podem rentabilizar os investimentos. Quando se faz uma pesquisa para um filme, é possível trabalhar o mesmo universo sob outra perspetiva, pois há muito material que fica de fora e pode ser reutilizado noutra plataforma. Como colaborador da SIC e aluno de doutoramento na Universidade Lusófona, a minha ideia foi fazer os meus trabalhos de maneira que pudesse aplicar o que aprendi teoricamente na univer-sidade ao nível prático na SIC.
FC: Existe alguma especificidade nos projetos transmedia de ficção científica? Podemos dizer que é mais fácil expandir a narrativa neste género e atrair os conteúdos gerados pelos usuários?
RA: Mutter e Lápis Azul têm universos diferentes exatamente porque eu quis experi-mentar estes dois modelos. No Mutter, eu sabia que os espetadores estão habituados a saltar de plataforma em plataforma e são multitaskers, por isso foi muito mais fácil obtermos maior nível de participação desta faixa etária mais jovem do que no Lápis Azul. Por outro lado, no Lápis Azul eu queria perceber se as pessoas também adeririam, ou seja, não só os nativos digitais, mas se o imigrantes digitais adeririam à produtos desta natureza. Consegui provar que é possível fazer produtos desta maneira e que as pessoas migram para outras plataformas à procura de novos produtos.
FC: Em termos de interatividade e participação, quais foram as principais diferenças entre estes dois projetos?
RA: Para os miúdos nativos digitais que fazem filmes para o YouTube, participar e fazer um filme para o Mutter não lhes custa nada, mas para os imigrantes digitais, isso é mais difícil. No site do Lápis Azul solicitava-se que as pessoas escrevessem um texto sobre a censura ou sobre a liberdade de imprensa, e aquele espaço obedecia um algoritmo que selecionava as palavras proibidas. Assim as pessoas ficavam com uma ideia de como os jornalistas da época conviviam com a censura. É verdade que não teve o mesmo nível de participação que o Mutter, as pessoas são diferentes, o grau de exigência é outro. O público já não tem tanta vontade de participar, ou tem vontade de participar, mas não fica à vontade com as ferramentas tecnológicas.

207R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
FC: Em Portugal, a filosofia de produção transmedia já está consolidada entre as empresas mediáticas, como as emissoras de TV?
RA: Em Portugal nós não temos dinheiro nem para o cinema, que dirá para investir em transmedia. Temos a empresa do Nuno Bernardo, a beActive, que já fez o Diário de Sofia e recentemente o Collider, mas ele teve que produzir para fora porque cá não conseguia rentabilizar os projetos. Em Portugal, as emissoras têm medo de arriscar e há um grande problema de autoria dos projetos transmedia porque há várias colabora-ções. As pessoas ainda estão muito fechadas nas suas “quintinhas” e, para fazer um projeto transmedia, é preciso ter uma mente muito aberta e entender que são trabalhos de coautoria. Estamos num país pequeno e as pessoas não querem investir, e acaba por ser um trabalho das universidades tentar impor o ritmo do que é que poderá ser o mercado no futuro. O que existem são projetos crossmedia, que consistem em passar a mesma informação para outras plataformas. É preciso saber produzir transmedia e, sobretudo, é preciso haver investimento e integração dos quadros das empresas. E se não formos por aí, vamos continuar a perder terreno. O transmedia é uma das grandes possibilidades de podermos encontrar uma solução para a televisão generalista e para outras plataformas que têm vindo a perder terreno.
FC: Qual a importância do transmedia storytelling para as grandes emissoras como a SIC?
RA: Em geral o transmedia hoje é muito importante, porque as empresas têm todos os meios disponíveis, e descartar tanto material que produzem e que podiam ser utilizados noutras plataformas é um desperdício de tempo e meios. Ao utilizar estas plataformas, criamos novas portas de entrada, ou seja, uma pessoa pode ter o contato com o projeto Lápis Azul através do site, dali descobrir o documentário e depois o filme ou o jogo. Isso cria a oportunidade de algo a mais, para as pessoas não ficarem presas só ao filme. Para quem quer saber mais, isso é importante.
Como sou consumidor de produtos, sei que assistir a um filme por vezes não é suficiente, porque quero saber mais sobre o assunto. As pessoas veem um filme e depois pesquisam na internet sobre o tema. Se as empresas tiverem a capacidade de pensar desta maneira para oferecer ao espectador esta experiência, vão conseguir criar novos produtos e atrair parceiros. Uma das vantagens do transmedia é trazer novos parceiros para dividir os custos de produção.

208C
on
ve
rs
as s
ob
re t
ra
ns
me
dia s
to
ry
te
llin
g: a
lte
rn
at
iva
s pr
od
ut
iva
s • Fe
rn
an
da C
as
til
ho
FC: Autores e produtores como Jeff Gomez e Nuno Bernardo mencionam a necessidade de elaborar o que chamam de bíblia transmedia para produzir conteúdos nesta lógica. Qual foi a sua experiência na produção e distribuição de Lápis Azul?
RA: Um produto transmedia bem feito, como definem Henry Jenkins e Jeff Gomez, obriga que tudo seja planeado com antecedência, ou seja, cada lançamento, cada ponto de narrativa esteja pensado naquilo que chama-se a bíblia transmediática. A bíblia é um livro que define qual é o caminho de cada personagem e ação em cada plataforma. O grande problema do transmedia é a possibilidade do público não migrar para outra plataforma, ou seja, gastarmos dinheiro e ninguém utilizar um dos pontos de entrada. É o problema que estou a ter com o jogo de Lápis Azul: o filme e o documentário correram muito bem, mas no jogo não tive a participação que esperava.
FC: Nuno Bernardo também menciona em seu livro/guia que é possível produzir conteúdos transmedia de forma lowcost, com auxilio da internet no início dos projetos, verificou isso nos seus trabalhos?
RA: O transmedia não tem que ser caro. Pode-se fazer um produto lowcost muito bem feito, mas isso nos obriga a ter uma cabeça muito aberta. No caso do Mutter, que é ficção científica, tive que fazer várias pesquisas, sobre genética por exemplo, que geraram material que não iria ser utilizado se não fosse um projeto transmedia. O mesmo aconteceu durante a investigação para o projeto Lápis Azul.
FC: Qual foi o papel do YouTube nos projetos transmedia como Lápis Azul e Mutter? Acredita que esta plataforma colabora para o desenvolvimento deste tipo de produtos?
RA: O YouTube pode criar outra porta de entrada para a ficção de forma muito mais barata. Se eu conseguir produzir conteúdos inicialmente para o YouTube, posso criar pontes e eventos que vão crescendo em meios menos dispendiosos e que atraem as pessoas para meios mais caros, como o cinema. O transmedia baseia-se nisso, em portas de entrada atrativas e autonomia dos produtos em cada plataforma.
FC: Acredita que existe espaço para produzir conteúdos transmedia em Portugal mesmo com o atual contexto de crise económica? De alguma forma, acha que os seus projetos tiveram entrada privilegiada nos canais da SIC devido à sua ligação laboral com a emissora?

209R
ev
ist
a Ge
Min
is | a
no 5
- n. 1 - v. 2
RA: Afeta, mas nós em Portugal temos o problema do medo de arriscar. Por acaso tive sorte, porque a SIC achou o projeto (Lápis Azul) original, ligado à censura. Como estamos numa fase difícil de mudança, as empresas preferem não investir por não sabermos qual será o futuro da TV. No entanto, há boas ideias saídas da universidade que precisam ser experimentadas. Claro, se eu fosse apenas um aluno da Lusófona e não trabalhasse na SIC, muito dificilmente eu conseguiria produzir estes projetos.
FC: Atualmente o produtor transmedia é uma figura reconhecida em Portugal? Considera que esta função deveria fazer parte dos quadros das indústrias dos media?
RA: Não. Aliás, deveria haver um núcleo forte dentro de empresas como a SIC, que saiba o que é que os outros meios estão a fazer, como a Visão, o Expresso, para conseguir integrar os conteúdos.
FC: Em que ponto está a nossa produção comparativamente a outros países como Reino Unido, Espanha e Brasil?
RA: Nos EUA é mais fácil fazer um projeto transmedia, porque eles têm uma capacidade financeira de projetar em todos os meios e já há abertura para isso. Como somos um país muito conservador, não investimos, e como eu disse, há aquele problema da autoria. O Brasil é muito menos conservador na adoção deste tipo trabalho, inclusive há um grande núcleo transmediático. Esta é a ideia que tenho dos projetos desenvolvidos no Brasil, inclusive com apoio da lei do mecenato.