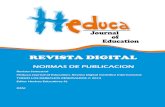Revista facientifica digital
description
Transcript of Revista facientifica digital

Dezembro
2013

CAIPO
JOGO PARA APRENDIZAGEM AMBIENTAL
Bruno Rafael da Costa Santos
Universidade Federal do Pará(UFPA)
Abstract. Forests store a vast wealth of its diversity. Unknown plants and
animals, timber, minerals and other resources are part of this treasure. In this
scenario, environmental protection has gained many adherents in recent years
among them we find doctors, psychologists and pedagogues. Thus, the area of
computing could not be left out, so this paper presents the Caipo (Game for
Environmental Learning), which was developed on the ruby with the primary
difference: The educational fun. This way the user learns while having fun in a
game with the same focus and style of traditional, differentiated by
Environmental Education that he promotes.
Resumo. As florestas guardam uma grande riqueza em sua diversidade: plantas
e animais desconhecidos, madeira, minérios e outros recursos fazem parte deste
tesouro. Neste cenário, a proteção ambiental é um tema bastante difundido e
necessário em nossa sociedade atual, tendo implicações nas práticas ,ensino e
conscientização da população. Como forma de apoiar de maneira lúdica os
conceitos relacionados à preservação ambiental, este artigo apresenta o
sistema Caipo (Jogo para aprendizado ambiental), que foi desenvolvido na
plataforma ruby tendo como principal diferencial: aprender brincando. Desta
forma, o usuário obtém conhecimento enquanto se diverte em um jogo com o
mesmo estilo dos tradicionais, diferenciado pela Educação Ambiental que ele
promove.

1. Introdução
Em pleno século 21, ainda percebe-se que o homem não encontra-se perfeitamente
educado sobre a importância da preservação ambiental. O direito ambiental é um direito
de todos e não de indivíduos, onde os princípios ambientais buscam efetivar as condutas
de preservação para a presente e futura geração, com ações concretas que visam
minimizar os impactos atuais ao meio ambiente, bem como, os atos futuros lesivos a este
(CANOTILHO, 1998, p.35).
Como podemos ver, mesmo com programas de incentivo a preservação, e até mesmo
com leis mais rígidas, a destruição e utilização de forma irregular dos recursos naturais
para obtenção de lucros individuais, continua cada vez mais forte e impactando
negativamente no meio ambiente. A Educação Mediada por Computador é uma
metodologia de ensino largamente empregada nos países cujos índices de crescimento
tecnológico e educacionais são vistos como de fundamental importância para a
capacitação continuada de profissionais das mais variadas áreas.
Muito se fala sobre a chamada “Revolução da Tecnologia da Informação”, no
entanto, poucos pesquisadores têm ido tão a fundo ao estudo da conceituação e descrição
histórica dessa mais recente revolução técnico-social. “Contudo, à medida que a
tecnologia informática se populariza, aumenta a necessidade de a comunidade científica
se ocupar dessa questão” Primo (2001).
Sem dúvida alguma, a evolução tecnológica nos trouxe - e continuará nos trazendo -
conforto, agilidade, precisão, comodidade, dentre inúmeros benefícios. Não tratemos aqui
dos possíveis efeitos colaterais que possa resultar, como a substituição do homem em
atividades até então executadas somente por ele, ainda que à exaustão, os reflexos sobre
o meio-ambiente ou o vício humano de se cercar de tecnologia em casa, no lazer, nos
estudos, nos cuidados com a vida.
O grande diferencial da revolução das Tecnologias de Comunicação está na aplicação
do conhecimento para geração de novos conhecimentos e dispositivos de comunicação,
em um ciclo ágil e veloz de retroalimentação e inovação no seu uso. Desta forma, os
usuários dessas tecnologias se apropriam desses novos conhecimentos e, muitas vezes as
redefinem por si mesmos.
“Um ambiente de aprendizagem deve ser constituído pelos principais elementos
compositores de um processo educativo: os sujeitos (professores, estudantes, monitores,
etc.), os recursos, as metodologias e os espaços e tempos possíveis dentro do processo
educacional” Passerino (2007). Ambientes de aprendizagem que incorporam ferramentas
digitais ou computacionais entre seus recursos são conhecidos por Ambientes Digitais de
Aprendizagem (ADA).
Neste contexto surge o jogo Caipo, que tem como intuito, repassar de forma divertida
o aprendizado sobre a proteção e importância do meio ambiente através de perguntas
específicas sobre a natureza em várias etapas do game.

2 Metodologia
Caipo é um jogo estilo RPG (Role Play Games). os RPGs são jogos tão abrangentes que
muitas vezes é difícil definir até que ponto certas variantes poderiam ou não ser
classificadas em um mesmo grupo. No entanto, o básico do RPG é um jogo de
interpretação de personagem onde existe um desenvolvimento tanto do personagem como
da história. Você possui uma história e um personagem que vai evoluindo de acordo com
certas tarefas que devem ser executadas no decorrer do jogo. Neste, você possui uma
tarefa que é salvar a natureza da destruição causada pelo homem. A figura 1 mostra a sua
tela inicial.
Figura 1 -Tela inicial Jogo Caipo
Neste, foi utilizado uma contextualização de destruição ambiental, onde o
personagem aprende sobre o meio ambiente em diálogos que ocorrem no decorrer da
história. Os jogadores são forçados a ler, entender, e assimilar pois, os textos são
informações lúdicas sobre o estudo do meio ambiente. Assim, eles são “obrigados a
aprender” pois estes temas serão alvo de perguntas no decorrer de todo o jogo, no qual,
as respostas corretas permitirão que ele prodiga. Veja figura 2 e 3.

Figura 2 -Mostra de imagem de diálogos do jogo.
Figura 3 - Exemplo de pergunta e opções de respostas
Este jogo, foi criado em conjunto com uma equipe de professores de gestão
ambiental e Engenharia ambiental, os quais, foram responsáveis por selecionar e elaboras
as perguntas de uma forma mais assertiva. Ele foi criado na linguagem Ruby, uma
linguagem dinâmica, open source com foco na simplicidade e na produtividade. Tem uma
sintaxe elegante de leitura natural e fácil escrita, tornando assim, ainda mais simples seu
desenvolvimento em conjunto com o motor gráfico Maker Vx. Este, proporciona que

sejam criados ambientes 2D de forma mais simples, aumentando a produtividade dos
programadores, tendo como única preocupação o fluxo das informações e a lógica do
sistema em termos de linhas de código.
Para este jogo, também foi desenvolvida uma versão em 3D, que utiliza como
motor gráfico Unity 3D. “Também conhecido como Unity 3D, é um motor de
jogo 3D proprietário e uma IDE criado pela Unity Technologies. Unity é similar
aoBlender, Virtools ou Torque Game Engine, em relação a sua forma primária de autoria
de jogos: a sua interface gráfica”. (Meijer 2010).
Com Unity, você otimiza seu desenvolvimento criando modelos na ferramenta
Blender por exemplo. “O Blender pode ser utilizado em qualquer área que seja
necessária a geração de modelos tridimensionais, geração de imagens renderizadas,
animação e jogos, como aplicações
em arquitetura, design industrial, engenharia, animação, produção de vídeo, e
desenvolvimento de jogos, graças ao seu motor de jogo embutido. Esta característica
pode ser ampliada e agilizada com o uso de scriptsem Python. Como modelador, foi
recomendado pela Peugeot, para ser usado em seus concursos de design de carros,
o Peugeot Design Contest”(Levy 2009).
A versão 3D encontra-se em fase beta, mas possui as mesmas características da
2D, tendo como diferencial sua qualidade gráfica mais atual, que proporciona um maior
interesse aos usuários por se comparar graficamente aos jogos mais atuais no mercado.
Veja algumas imagens abaixo:
Figura 4 - Demonstração Caipo 3D.

Figura 5 - Demonstração Caipo 3D.
Figura 6 - Demonstração Caipo 3D.
3 Conclusão
Como podemos perceber, ainda há muito à ser feito em relação ao meio ambiente.
Não podemos medir esforços para que possamos mudar a grande degradação ambiental
que vem ocorrendo nos dias atuais. A informática pode ser utilizada para auxiliar nesse
meio, utilizando a tecnologia a favor da educação e da humanidade, afinal, ela tem este
objetivo.
Precisamos de incentivos para que estas metodologias de assimilação de
conhecimento possam ser utilizadas, pois, para mudarmos o futuro, melhorarmos a

consciência das pessoas, nada melhor que plantarmos isso do berço, pois, se as novas
gerações chegarem com esta ideia, forem educadas de uma forma que, a proteção
ambiental seja um fator normal e cotidiano para elas, assim como olhar para os dois lado
da rua é uma coisa automática e necessária, muito temos a melhorar a nossa sociedade.
A informática veio para isso para auxiliar em assuntos cotidianos, maximizando os
resultados positivos, e utilizando uma nova dinâmica de ensino, mais intuitiva, divertida,
interessante e, ao mesmo tempo didaticamente falando, com excelentes resultados.
Precisamos rever nossos conceitos para que assim, possamos tornar nossa sociedade cada
vez melhor.
Referencias
CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Portugal:
Almedina, 1998. R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: New
Trends in Animation and Visualization, Edited by Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel
Thalmann, John Wiley & Sons ltd., England.
LEVY, Collin. Revealed: Title, Character Design and 1st Minute. Disponivel em:
< http://www.sintel.org/news/revealed-title-character-design-and-1st-minute/>. Acesso:
25 de Outubro de 2013.
MEIJER, Lucas. Is Unity Engine written in Mono/C#? or C++. Disponível em:
<http://www.unity3d.com> Acesso: 20 de Outubro de 2013.
PASSERINO, Liliana Maria ; MONTARDO, Sandra Portella . Inclusão social via
acessibilidade digital: proposta de inclusão digital para Pessoas com Necessidades
Especiais (PNE). E-Compós (Brasília), v. 8, p. 1-18, 2007.
PRIMO, Alex. Ferramentas de interação em ambientes educacionais mediados por
computador. Educação, v. XXIV, n. 44, p. 127-149, 2001. Disponível em:
<http://www.pesquisando.atraves- da.net/ferramentas_interacao.pdf>.
SILVA, Luciano. Desenvolvendo Jogos com a Ferramenta Maker VX. 2010.

Sugestão para Implantação da Gestão Estratégica de
Custo: Método Abc na Microempresa X Fornecedora de
Alimentos em Belém do Pará.
Dionisio Tadeu R. Ribeiro 1
1Faculdade Ideal –(FACI)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Belém – PA – Brasil
Abstract. This article presents the investigation of the implementation of a cost
management technique called Activity Based Costing (ABC) on a small food supplier
business X. It was done in order to improve its cost structure and assist the manager to
make the right decisions. It was necessary to define the activities, tasks, departments and
managers of that organization, to allow the calculation of the unit costs of the production
of each final product. It is concluded that with the implementation of ABC costing system,
cost management is more dynamic and precise, facilitating the choice of strategies such
the definition of price or discounts. For the company X to remain competitive in the
market.
keys-word: 1. Costing ABC. 2. Cost management. 3. Implementation of a cost
management Activity Based Costing.
Resumo. Este artigo apresenta a investigação da implantação da ferramenta de
gerenciamento de custos chamada Actvity Based Costing (ABC) em uma microempresa
X fornecedora de alimentos. No intuito de melhorar sua estrutura de custo e permitir, ao
gestor, tomadas de decisões estratégicas mais acertadas. Para calcular os custos
unitários produçao de cada produto final, esta ferramenta utiliza como valores iniciais
as informações referentes às atividades, tarefas, departamentos e direcionadores da
organização estudada. Concluiu-se que com a implantação do sistema de custeio ABC, a
gestão de custo apresenta-se mais dinâmica e precisa, facilitando tomadas estratégicas
como formação de preço ou descontos, para que a empresa X apresente-se cada vez mais
competitiva no mercado.
Palavras Chaves: 1. Custeio ABC. 2. Gestão de Custo. 3. Implantação do Sistema ABC.

1. Introdução A primeira guerra mundial serviu para que o mundo percebesse que muitos métodos
utilizados nas mais diversas áreas do conhecimento, não atendia às necessidades diante
de tantas complexidades relacionadas à estratégia, à logística, à contabilidade, etc. Com
isso muitas ciências tomaram forma e força na segunda guerra mundial, pode-se destacar
aqui a gestão estratégica de custo, especificamente o método de custeio por atividade –
ABC (Activity Based Costing).
Em um mercado cada vez mais competitivo, onde as empresas buscam
desenvolver produtos com mais qualidade a baixo custo, as organizações têm necessidade
de estarem bem preparadas para continuar competindo. E em decorrência da dinâmica
veloz do mercado mundial se faz necessário um sistema de custeio que possibilite
decisões mais eficácia nessas empresas. Sugere-se a implantação do sistema de Custo
Baseado em Atividades na microempresa X fornecedora de alimentos em Belém do Pará.
A proposta desse trabalho está alicerçada no emprego da fundamentação teórica
do método ABC para o gerenciamento dos custos com a finalidade de gerar melhorias e
auxiliar nas decisões estratégicas da empresa X de alimentos em questão.
O presente trabalho responderá ao seguinte questionamento: a implantação do
método de custeio ABC na microempresa X, fornecedora de alimentos em Belém do Pará,
facilitará as decisões estratégicas dessa empresa?
Este artigo tem como principal objetivo a investigação da implantação da
ferramenta de gerenciamento de custos chamada Actvity Based Costing (ABC) em uma
microempresa X fornecedora de alimentos em Belém do Pará. Especificamente, buscar-
se-á:
Fazer uma revisão do método de custeio ABC em pequenas organizações;
Propor a implantação do sistema de custeio ABC na microempresa X.
O artigo tem como hipótese: se o sistema de custeio ABC for implantado na
microempresa X, então as decisões serão tomadas de forma estratégica.
Várias são as metodologias de apuração de custos, sendo mais adotadas aquelas
que consideram o custeio por absorção, variável e por atividade. O custeio por atividade,
foco desse trabalho, visa demonstrar que as operações de uma organização podem ser
divididas e subdivididas em atividades, tais como recepção, requisição de materiais,
faturamento e cobrança.
Na ótica de Kaplan e Cooper (1998), as organizações que utilizam ABC buscam
conhecer em maiores detalhes suas estruturas de custos com o intuito de aumentar sua
competitividade. De fato, para a utilização do método ABC, existe a necessidade da
empresa ter suas planilhas de custos bem detalhadas, e seus processos administrativos e
operacionais bem definidos para facilitar, posteriormente, a visualização das atividades,
tarefas e direcionadores de custos.
Muitos foram os métodos originados no setor fabril, e por esta estrutura
organizacional, de modo geral, apresentar setores bem definidos quanto aos processos e

atividades, tem a preferência pelos pesquisadores para implantações experimentais, como
por exemplo, o controle total de qualidade por toda a empresa, que hoje já é bastante
utilizado em empresas de serviços. Portanto, não é diferente com o método de custeio
ABC, que neste trabalho está direcionado para uma empresa prestadora de serviços.
Kaplan (1999) destaca que apesar do método ABC tenha suas origens nas fábricas, muitas
organizações de serviço também estão obtendo grandes benefícios com o uso dessa
abordagem.
Para Martins (1998) a justificativa teórica por trás do ABC considera que
praticamente todas as atividades de uma empresa existem para apoiar a produção dos bens
ou serviços e que, portanto, devem ser considerados como integrantes dos custos plenos
dos produtos. Gastos de apoio, que inclui logística, produção, marketing, vendas,
distribuição, serviços, tecnologia, administração financeira, informação e administração
geral, podem ser separados e associados aos produtos, em vez de serem tratados
simplesmente como gastos fixos ou indiretos. Neste contexto, é importante destacar que
a existência de todos os setores citados acima, só têm sentido porque existe o produto ou
serviço final, portanto é de fundamental importância a mensuração da contribuição
quantitativa e qualitativa de cada setor dentro da organização para a elaboração e
produção do produto ou serviço final.
Com a utilização do custeio ABC na organização, visa-se a redução de perdas e
de esforços desnecessários para a realização de produtos ou serviços. No mercado
competitivo a elevação da receita através do aumento de preços se torna bastante
complexa, portanto o foco deve ser voltado fundamentalmente para o controle e redução
dos custos. Martins (2003), ainda enfatiza que uma das grandes vantagens do ABC é a de
não restringir a análise ao custo do produto e sua lucratividade. A análise do ABC permite
que os processos ocorridos na empresa sejam custeados, pois são compostos por
atividades que se inter-relacionam. Com isso, possibilita a visualização das atividades que
podem ser melhoradas, reestruturadas ou, até mesmo, eliminadas dentro de um processo,
de forma a melhorar o desempenho competitivo da empresa.
Crepaldi (2012) critica os métodos tradicionais de custos adotados pelas empresas,
que obedece a uma base conceitual em linha com os princípios fundamentais de
contabilidade, destaca-se aqui o custeio por absorção. Provavelmente esse ferramental
motivou a inúmeros pesquisadores, na década de 1980, nos Estados Unidos da América
a desenvolverem o sistema Activity Based Costing, tal método procura reduzir
sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. O
autor, citado acima, destaca que o método de custeio em questão oferece informações
econômicas importantes para fins gerenciais possibilitando decisões operacionais e
estratégicas.
O autor deste artigo considera que é possível rastrear todas as atividades da
empresa, desde que seja implantado um controle rigoroso e eficaz para registro das
aquisições de matéria prima e demais custos. Esse pensamento foi instigado durante a
pesquisa de campo quando o gestor da empresa X relatou que algumas atividades tinham
“custo zero”. Nakagawa (1995, p.39) cita que “os recursos de uma empresa são
consumidos por suas atividades e não pelos produtos que ela fabrica”. O objetivo do

método de custeio ABC é rastrear as atividades mais relevantes da organização,
identificando rotas de consumo dos recursos e, através dessa análise, planejar o uso
eficiente e eficaz dos recursos utilizados pela empresa, otimizando seus resultados.
Portanto, o autor deste artigo discorda, com esta premissa de levar em conta somente os
processos mais relevantes da organização, visto que tornaria o sistema de custeio
fragilizado para tomada de decisões estratégicas.
Todos os autores citados até o momento defendem a utilização do método ABC,
porém é importante mostrar um posicionamento questionador representado aqui por
Cogan (1994, p. 7), que acentua o método ABC, em sua forma mais detalhada pode não
ser aplicável na prática, em virtude de exigir um número excessivo de informações
gerenciais que podem inviabilizar sua aplicação. O custo da coleta e manipulação
detalhada teria que justificar seu benefício. Numa fábrica, pode-se detectar mais de cem
atividades que contribuem para o “overhead” – caso se pense numa apuração exata de
todas essas atividades, o ABC seria impraticável.
Percebe-se, então, que na literatura há posicionamentos favoráveis e contrários à
utilização do ABC. Contudo, em razão das necessidades informativas da empresa
pesquisada, considerou-se que tal método seria o mais adequado ao contexto abrangido,
motivando a aplicação do ABC, que será detalhado nos capítulos do desenvolvimento
desse trabalho.
A modalidade da pesquisa com relação ao objetivo foi de caráter exploratório,
uma vez que o pesquisador se aproximou pela primeira vez do tema a ser pesquisado;
quanto ao tipo da pesquisa atendendo as fontes das informações foi de campo, pois houve
a necessidade do pesquisador estar presente no local onde o fato pesquisado ocorreu.
A classificação da observação quanto à estruturação foi sistemática ou planejada;
quanto à participação do observador foi participativa, pois o pesquisador se introduziu no
ambiente que foi pesquisado; a observação foi realizada por um único observador,
portanto foi individual; Foram utilizadas ferramentas de coletas de dados para serem
tabuladas e formuladas na gestão de desempenho.
2. Método de Custeio Abc em Pequenas Organizações Como o tema é desafiador ao pesquisador, fez-se necessário uma investigação de dois
trabalhos científicos relacionados com o tema deste artigo e, direcionados às empresas
prestadoras de serviços e da área industrial.
O primeiro trabalho apresenta o custeio baseado em atividades como uma visão
gerencial e financeira (SANTOS, 2010). O artigo em questão estudou o ramo industrial
de móveis plásticos num estudo de caso de uma empresa, o autor tinha como objetivo
confrontar a utilização do Custeio ABC com o Custeio por Absorção, e pode perceber
que utilizando o segundo método, a forma arbitrária que conduz o rateio dos custos
indiretos não lhe permitia uma análise mais segura relativa ao preço de custo unitário do
produto e, nesse sentido procurou-se visualizar as distorções geradas por um método em
relação ao outro.

Santos (2010), após estabelecer um cenário com base nas informações obtidas na
empresa analisada, fez um confronto entre as vantagens e desvantagens dos dois métodos
de custeios e pode concluir que os métodos não são excludentes, que cada empresa deve
escolher o melhor método que se adapte à sua gestão de custo. E ainda, que os sistemas
de custeio ABC apresentam diversas vantagens que devem ser cuidadosamente analisadas
pelos gestores das empresas, no seu artigo, Santos (2010) afirma que o custeio ABC se
sobressaiu em relação ao outro método por diminuir as distorções causadas pelo rateio.
O segundo trabalho analisado traz o Modelo de Custeio Baseado em Atividades
para o Departamento de Corte em um Abatedouro de Aves (SILVA, 2007), onde se
procurou expor os resultados obtidos com o desenvolvimento e aplicação de um sistema
de Custeio Baseado em Atividades especificamente para o departamento de cortes de uma
indústria que promove o abate de aves, demostrando a utilização do modelo como
ferramenta auxiliar para a formação dos preços de venda dos produtos processados no
respectivo departamento estudado.
O autor objetivou em identificar uma forma para melhor distribuir os custos
indiretos do departamento de cortes na empresa analisada para os produtos processados,
visto que o sistema de custos atualmente utilizado pela mesma não reflete com a precisão
necessária a utilização dos recursos consumidos no departamento de cortes para cada tipo
de produto ali processados. O autor teve o cuidado em isolar outros componentes de custo,
necessários à concepção dos produtos analisados, como materiais diretos (embalagens),
por terem seus custos uma relação direta e individual com cada produto, não foram
contemplados neste trabalho. Os custos dos processos anteriores e dos processos
posteriores ao departamento de cortes, também não foram objetos deste estudo, visto que
o produto chega padronizado ao processo de cortes, e assim, com custos iguais para cada
carcaça de ave, e segue-me iguais condições na fase seguinte, em caixas de específicas.
Assim, Silva (2007), pode perceber que uma das características que diferenciam
o sistema ABC do tradicional Custeio por Absorção é que o ABC minimiza as possíveis
distorções que ocorrem com os rateios arbitrários dos Custos Indiretos de Fabricação para
os objetos de custos. Isso foi possível por meio da análise das atividades, bem como,
quando não rastreáveis, busca identificar critérios mais adequados para alocar os custos
indiretos de fabricação às atividades realizadas.
3.1. Proposta de Implantação do Sistema de Custeio ABC. Microempresa x. A implementação do ABC requer uma cuidadosa análise do sistema de controle interno
da entidade. Sem este procedimento que contemple funções bem definidas e fluxo dos
processos, torna-se inviável a aplicação do ABC de forma eficiente e eficaz.
O ABC, por ser também um sistema de gestão de custos, pode ser implantado com
maior ou menor grau de detalhamento, dependendo das necessidades de informações
gerenciais para o gestor, o que está intimamente ligado ao ramo de atividade e porte da
empresa.
A empresa X, que é objeto da pesquisa, iniciou suas atividades no ano de 2001
fornecendo alimentos para funcionários da construção civil e pequenas lojas comerciais.

Assim que aumentou sua produção, em decorrência da aquisição de novos equipamentos
e contratações de novos funcionários, fez um contrato com uma grande empresa do ramo
comercial, atendendo a quatro grandes lojas, fornecendo em média 450 refeições por dia,
de domingo a domingo, num total de 13.500 refeições por mês. A Loja1 demanda 28,89%
das refeições, a Loja2 demanda 33,33% das refeições, a Loja3 demanda 26,67% e a Loja4
demanda 11,11% das refeições. O preço de cada refeição é igual a R$ 7,30, perfazendo
uma receita mensal de R$ 101.250,00.
Os principais produtos fornecidos pela Empresa X estão vinculados às proteínas
do prato principal: Carne Bovina, Carne de Frango, Carne de Peixe e Camarão. E em
cima desses produtos que a pesquisa direcionou seu rateio com base no custeio ABC.
A empresa X, caracteriza-se como uma empresa familiar, é instituída no regime
de Empresa de Pequeno Porte (EPP), dispondo de um regime tributário diferenciado,
simplificado e favorecido, aplicável às pessoas jurídicas consideradas como
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos definidos na Lei no
9.317, de 1996, e alterações posteriores, estabelecido em cumprimento ao que determina
o disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988. Constitui-se em uma forma
simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais
favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta.
A empresa em estudo possui nove funcionários e cresceu de forma desordenada.
Apesar de suas atividades contábeis serem executadas por uma contadora, não existia
nenhum sistema de custeio para o rateio dos custos indiretos. Encontrou-se a estrutura de
gestão bastante comprometida por falta de organização das informações ou até mesmo
por falta delas. Como já era de se esperar, o proprietário da empresa X não separava os
gastos pessoais dos gastos da empresa. O proprietário acumulava diversas funções,
centralizando todas as decisões, sejam as mais simples ou as estratégicas.
Nesse momento foi sugerido ao proprietário que fizesse uma readequação
organizacional para possibilitar a implantação do custeio ABC, na tentativa da empresa
se ajustar às novas exigências de um mercado altamente competitivo, procurando adequar
seu comportamento ao da economia global, em busca da exatidão e da eficácia na
apuração dos custos.
Para Nakagawa (2001), um dos principais objetivos do ABC, consiste em facilitar
a mudança de atitudes nos gestores de uma empresa, onde os mesmos busquem
otimização do valor dos produtos para os clientes internos e externos.
Foram identificadas as atividades desempenhadas e seus respectivos custos;
alocação do custo de cada departamento ao custo da atividade; os direcionadores de
custos; e a forma que se podia dividir o custo da atividade pelo direcionador de custos.
No Quadro 1, são apresentadas as atividades desempenhadas de acordo com seus
centros de custos, o reconhecimento dessas atividades foi obtido através de entrevistas
com os funcionário, os quais explicaram as tarefas desenvolvidas em cada atividade.

Quadro 1: Atividades analisadas.
Centro de Custos Atividades analisadas
Diretor/Proprietário Coordenar e supervisionar atividades da organização, visitar e
negociar com clientes novos contratos, preços e produtos, resolver
problemas junto ao cliente.
Gerência Administrativa Gerir pessoas
Setor de Compras Gerir compras, conferir notas fiscais, pagar fornecedores e
despesas, fazer demonstrações.
Setor de Finanças Gerir finanças
Gerência Comercial Vender refeições, formular contratos, visitar clientes e prospecção
de clientes.
Setor de Produção Cozinhar e preparar alimentos para entrega, serviços gerais.
Distribuição Entregar alimentos aos clientes, verificar satisfação do cliente.
Fonte: Elaboração Própria
Poder-se-ia aqui entrar num grau de detalhamento maior das atividades, como por
exemplo, criando-se um dicionário de atividades, mas o autor entendeu que num primeiro
momento não seria relevante.
As atividades apresentadas acima podem ser associadas segundo as regras:
a) Identificação das atividades gerais de fábrica.
b) Classificação das atividades relativas a:
Linha de produção: custos de nível unitário, como materiais diretos, mão-
de-obra, horas de máquina ou energia;
Lotes de produção: gastos com ajustes e preparação de máquinas e
equipamentos, aquisição e movimentação de materiais;
Suporte aos produtos: gastos relativos à engenharia do processo e
desenvolvimento de especificações dos produtos;
Suporte às instalações: gastos associados ao gerenciamento da fábrica, à
manutenção dos prédios e aos serviços gerais.
c) Atribuição aos produtos das despesas da linha de produção, de lote e
suporte aos produtos utilizando bases que permitam refletir o comportamento
subjacente da demanda dos produtos por essas atividades.
Sugestões de estágios para construções dos direcionadores de custos, segundo
Kapplan e Cooper, 1998:
Estágio 1: divisão dos custos atribuídos às atividades pelo número delas que
ocorreu durante o período analisado.

Estágio 2: divisão dos custos atribuídos à atividade pela duração das atividades
que ocorrerão durante o período, permitindo o cálculo de diferentes durações para
diferentes processamentos.
Estágio 3: investigação dos custos reais necessários para a atividade em
determinado produto.
A seguir foram separados os gastos mensais diretos na tabela 1 e os gastos
mensais indiretos na tabela 2.
Tabela 1: Custos diretos mensais
Descrições dos gastos diretos Valor (R$)
Carne Bovina 12.000,00
Carne de Frango 12.000,00
Carne de Peixe 15.000,00
Camarão 2.430,00
Sobremesa 1.500,00
Polpas de Frutas 3.000,00
Hortifruti e Cereais 12.000,00
Açúcar (600 kg) 1.098,00
Feijão (390 kg) 1.595,10
Arroz (690 kg) 1.331,70
Macarrão (300 kg) 1.194,00
Farinha (330 kg) 1.914,00
Óleo (300 garrafas) 906,00
M.O.D. (5 cozinheiros) 5.098,23
SOMA 71.067,03
Fonte: Elaboração Própria - 2013
Tabela 2: Custos indiretos mensais
Descrições dos gastos indiretos Valor (R$)
Salários e Encargos (4 funcionários) 4.258,58
Gás de cozinha 2.300,00
Honorários contábeis 678,00
Serviços prestados 1.378,00
Luz 400,00

Água 200,00
Diversos 450,00
IPTU 104,20
Aluguel 1.200,00
Uniformes 125,00
Vigilância Sanitária 16,67
Manutenção do prédio 500,00
Combustível (180 litros) 502,20
Depreciação (4 fogões e 4 freezer) 5 anos para ficar
obsoleto
186,66
Depreciação (2 veículos – 10 anos) 666,66
IPVA (2) 166,67
SOMA 13.132,64
Fonte: Elaboração Própria - 2013
No Quadro 2, são apresentados os recursos e seus respectivos direcionadores
utilizados na organização.
Quadro 2: Direcionadores de Recursos utilizados na Organização
Recursos Direcionador
Despesas de Pessoal Número de horas (tempo)
Água Estima de consumo (m3)
Energia Elétrica Kwh
Fonte: Elaboração Própria - 2013
No Quadro 3, são apresentadas as atividades desempenhadas na empresa e seus
respectivos direcionadores utilizados nas mesmas.
Quadro 3: Direcionador de Atividades
Atividades Direcionador
Coordenar e supervisionar atividades da
organização.
Tempo gasto para coordenar e supervisionar
Visitar e negociar com clientes Número de visitas
Gerir pessoas Número de funcionários contratados
Gerir compras Número de pedidos
Gerir finanças Tempo despendido

Vender refeições, formular contratos, e
prospecção de clientes
Número de refeições
Cozinhar e preparar alimentos para entrega,
serviços gerais.
Número de refeições
Entregar alimentos aos clientes. Número de refeições
Fonte: Elaboração Própria - 2013
Na Tabela 3, são quantificadas as atividades de acordo com seus direcionadores
de custos. Para facilitar a distribuição quantitativa dos direcionadores de custo foram
identificados dois grandes departamentos: administrativo e produção. O departamento
administrativo com suas atividades principais de coordenar e supervisionar atividades da
organização e gerir compras no mês analisado foram alocadas 300 horas para o
departamento de produção; 78 horas para a produção de carne bovina; 78 horas para a
produção de carne de frango; 98 horas para a carne de peixe e 16 horas para o camarão.
O departamento de produção identificou que os serviços prestados poderiam ser
quantificados pelas horas de preparo, por mês, para cada proteína principal das refeições.
No caso, 60 horas para o preparo da carne bovina, 30 horas para a carne de frango, 8 horas
para a carne de peixe e 4 horas para o preparo do camarão.
Tabela 3: Direcionadores de Custos
Atividades Horas/mês %
Coordenar e supervisionar atividades da organização. 300 52,63%
Gerir compras 180 31,58%
Cozinhar e preparar alimentos para entrega, serviços gerais. 60 10,53%
Entregar alimentos aos clientes. 30 5,26%
Fonte: Elaboração Própria - 2013
A tabela 4 apresenta o tempo de preparo para as refeições de acordo com as
principais proteínas, onde a carne bovina demanda um maior tempo para a sua elaboração.
Tabela 4: Tempo de Preparo das Principais Proteínas
Atividades Horas/mês %
Carne bovina 60 58,83
Carne de frango 30 29,41
Carne de peixe 8 7,84
Camarão 4 3,92
Fonte: Elaboração Própria - 2013

Na Tabela 5, são apresentados os gastos diretos, destacando-se os materiais
diretos (MD) e a mão-de-obra direta (MOD). A mão-de-obra direta foi rateada segundo
o volume de preparo de cada proteína, visto que a produção é realizada segundo o formato
de economia de escala, onde o processo produtivo é organizado de maneira que se alcance
a máxima utilização dos fatores produtivos no processo, procurando como resultado
baixos custos de produção e o incremento de bens e serviços.
Tabela 5: Custos Diretos em reais (R$) - mensais
Descrição do
gasto
Carne
bovina
Carne
frango
Carne
Peixe
Camarão Total
Materiais diretos 19.104,56 19.104,56 23.887,30 3.872,36 65.968,80
Mão-de-obra 1.476,45 1.476,45 1.846,07 299,27 5.098,23
Soma 20.581,01 20.581,01 25.733,37 4.171,63 71.067,03
Fonte: Elaboração Própria - 2013
A tabela 6 apresenta os gastos indiretos, salários e depreciação:
Tabela 6: Custos Indiretos em reais (R$) - mensais
Descrição dos gastos Administrativo Produção Total
Salário e encargos 2.056,00 4.258,58 6.314,58
Materiais indiretos 1.820,87 3.977,20 5.798,07
Depreciação/IPVA 833,33 186,66 1.019,99
Soma 4.710,20 8.422,44 13.132,64
Fonte: Elaboração Própria - 2013
Se a empresa empregasse o critério de alocação dos custos indiretos com rateio
baseado nos materiais direto (MD), a composição de custos da empresa poderia ser vista
de acordo com a tabela 7.
Tabela 7: Rateio dos custos indiretos pelo critério do MD em reais (R$) - mensais
Descrição do gasto Carne bovina Carne frango Carne peixe Camarão
Materiais diretos 19.104,56 19.104,56 23.887,30 3.872,36
Mão-de-obra 1.476,45 1.476,45 1.846,07 299,27
Custo direto 20.581,01 20.581,01 25.733,37 4.171,63
Custo indireto 3.803,21 3.803,21 4.755,33 770,89

Rateio MD % 28,96% 28,96% 36,21% 5,87%
Custo Total 24.384,22 24.384,22 30.488,70 4.942,52
Unidades produzidas 4.500 4.500 3.000 1.500
Custo unitário 5,42 5,42 10,16 3,30
Fonte: Elaboração Própria - 2013
Tabela 9: Rateio pelo método ABC em reais (R$) - mensais
Descrição dos gastos Adm Prod. Boi Frango Peixe Camarão
Materiais diretos 19.104,56 19.104,56 23.887,30 3.872,36
MOD 1.476,45 1.476,45 1.846,07 299,27
Salário e encargos 2.056,00 4.258,58
Materiais indiretos 1.820,87 3.977,20
Depreciação 833,33 186,66
Subtotal 4.710,20 8.422,44 20.581,01 20.581,01 25.733,37 4.171,63
Custos transferidos Adm. -4.710,20 2.478,98 644,35 644,35 809,68 132,84
Critério: h adm 300 78 78 98 16
h adm % 52,63% 13,68% 13,68% 17,19% 2,82%
Subtotal 10.901,42 21.225,36 21.225,36 26.543,05 4.304,47
Custos transferidos Prod. 6.412,22 3.206,11 850,31 432,77
Critério: h prod 60 30 8 4
h prod % 58,82% 29,41% 7,80% 3,97%
Total 27.637,58 24.431,47 27.393,36 4.737,24
Unidades produzidas 4.500 4.500 3.000 1.500
Custo unitário 6,14 5,43 9,13 3,16
Fonte: Elaboração Própria - 2013

4. Conclusão O artigo objetivou e realizou uma revisão do método de custeio ABC em pequenas
organizações e propôs a implantação do sistema de custeio ABC na microempresa X.
Para isso, houve a necessidade de pesquisas a artigos desenvolvidos na forma prática
nesse método de custeio e, a demonstração na melhoria de estruturação por parte da
empresa estuda. Visto que, inicialmente, encontrou-se uma estrutura organizacional não
propícia para a implantação do custeio ABC, havendo a necessidade de uma
reestruturação, identificando as atividades, tarefas, direcionadores de custos das
atividades, separando os gastos diretos dos indiretos. Foram identificados dois
departamentos e quatro importantes produtos para a empresa X.
A partir deste momento foi realizado um rateio pelo critério tradicional pelo
percentual de material direto, onde identificou-se que o custo unitário para a produção da
refeição de carne bovina foi de R$ 5,42, igualmente para o preparo da carne de frango,
R$ 10,16 para a carne de peixe e um valor menor para o camarão, R$ 3,30.
Verificou-se que usando o método de custeio ABC os custos unitários se
mantiveram, comparativamente, com a mesma ordem de grandeza, porém com resultados
diferentes. Por exemplo, para a produção da carne bovina, o custo unitário foi de R$ 6,14,
mostrando um aumento de 13,28%; já no caso da produção da carne de frango o custo
unitário no ABC foi de R$ 5,43, revelando um aumento de 0,18%; enquanto que para a
produção da carne de peixe o preço foi de R$ 9,13, mostrando uma redução percentual de
10,14% e para o camarão também houve uma redução de 4,24% no seu custo unitário.
O artigo evidenciou que a empresa X precisava de forma premente de uma
estrutura de custo organizada. O trabalho de campo possibilitou ao gestor da empresa
visualizar falhas na sua organização e providenciar melhorias para poder efetivar a
implantação do custeio ABC, que em um primeiro momento já mostrou a facilitação das
análises dos resultados para que o mesmo, o gestor, possa tomar decisões de forma
estratégica para a empresa. Respondendo ao questionamento do artigo.
O estudo agregado aos resultados da pesquisa permite corroborar com a hipótese
do trabalho, onde afirmava que se o sistema de custeio ABC for implantado na
microempresa X, então as decisões serão tomadas de forma estratégica. De forma prática,
após a apreciação do estudo, o gestor da microempresa em questão decidiu na redução do
fornecimento das refeições cuja proteína principal é o peixe, em decorrência de seu custo
unitário ser superior ao seu preço de venda. Acredita-se que o estudo já contribuiu para
uma melhor gestão desta microempresa.
Agora, cabe ao gestor da empresa X analisar suas necessidades e interesses para
implantação desse método de custeio, que segundo a opinião de vários autores, citados
nesse trabalho, destacam-se em função de reduzir as distorções causadas pelo rateio.

7. Bibliografia
COGAN, S. Activity-based costing (ABC): a poderosa estratégia empresarial. 3. ed. São
Paulo: Pioneira, 1994.
CREPALDI, Sivlio Aparecido. Contabilidade Gerencial: teoria e prática. 6. ed., São
Paulo: Atlas, 2012.
KAPLAN, Robert S.; COOPER, Robin. Custo e Desempenho: administre seus custos
para ser mais competitivo. 1. ed, São Paulo: Futura, 1998.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
NAKAGAWA, M.. ABC: custeio baseado em atividades. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2001.
SANTOS, Diego Leal Silva. Custeio Baseado em Atividades uma visão Gerencial e
Financeira. Artigo Científico, 2010.
SILVA, Almir Teles da. Modelo de Custeio Baseado em Atividades para o Departamento
de Corte em um Abatedouro de Aves. Artigo Científico. Maringá – Paraná, 2007.
Universidade Estadual de Maringá – UEM.

A Aplicação da Logística Reversa em Instituições Públicas
de Saúde
Pablo Queiroz Bahia1, Adele Melo Silva2
1Faculdade Ideal –(FACI) 2 Centro Universitário Toledo Araçatuba –(UNITOLEDO)
[email protected],[email protected]
Abstract. In today's context of society , identifies the increasing concern of
organizations on the subject Environmental Performance . The health service
organizations stand out by developing one of the most complex , but it is an area
where the environmental management practices are still rare and that currently
is facing increasing legal requirements and demands from society for a position
more active regarding the protection and preservation of the environment . This
research aims to examine the application of Reverse Logistics in managing
waste in a health institution . This is a case study in a midsized Hospital located
in the city of Bethlehem , an exploratory survey with a questionnaire , and
documentary and bibliographic research . It was found that , although the
institution already has a Plan for Waste Management of Health Services , there
is still no effective segregation of materials discarded as junk.
Keywords: Reverse Logistics – waste – management – environment.
Resumo. Diante do atual contexto da sociedade, identifica-se o aumento da
preocupação das organizações sobre o assunto Desempenho Ambiental. As
organizações de serviços em saúde se destacam por desenvolverem uma das
atividades mais complexas, porém é uma área em que as práticas de gestão
ambiental ainda são pouco difundidas e que, atualmente, vem enfrentando o
aumento das exigências legais e cobranças da sociedade por uma postura mais
ativa quanto à proteção e preservação do meio ambiente. Esta pesquisa tem o
objetivo de analisar a aplicação da Logística Reversa no gerenciamento de
resíduos de uma instituição de saúde. Trata-se de um estudo de caso realizado
em um Hospital de médio porte localizado na cidade de Belém, uma pesquisa
exploratória, com aplicação de questionário, além de pesquisa documental e
bibliográfica. Foi verificado que, apesar da instituição já possuir um Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, ainda não existe uma
segregação efetiva dos materiais descartados como lixo..
Palavras-chave: Logística reversa – resíduos – gerenciamento – meio
ambiente.

1. Introdução Diante do atual contexto da sociedade, identifica-se o aumento da preocupação e da
atenção das organizações sobre o assunto Desempenho Ambiental. Alguns dos fatos que
reforçam o interesse das instituições públicas e privadas pelo assunto, seja na geração de
produtos ou na prestação serviços, são: o conhecimento generalizado dos consumidores,
o crescimento da mobilização da opinião pública, o aumento das exigências legais, a
comunicação em velocidade inimaginável, além do ritmo deste tempo de produção e
consumo exacerbados que, no mínimo, faz com que se pense na proximidade de escassez
de recursos naturais.
O descarte de produtos é crescente, principalmente devido às constantes inovações
tecnológicas, que contribuem para a redução do tempo de vida útil do produto,
aumentando o volume de materiais descartados como lixo.
A área de serviços também contribui com os problemas ambientais, uma vez que
gera uma grande quantidade de resíduos, que estão associados ao desenvolvimento do
processo de prestação do serviço, como no caso de bancos, que descartam uma grande
quantidade de papel; lavanderias, que fazem uso de produtos químicos e são eliminados
ao final do processamento das roupas; clínicas e hospitais, que devolvem para o meio
ambiente uma variedade de tipos de materiais usados, entre outros.
As organizações prestadoras de serviços em saúde se destacam por desenvolverem
uma das atividades mais complexas, seja pela diversidade de processos, seja pela
sofisticação tecnológica ou pelos aspectos humanos e sociais envolvidos. Trata-se de uma
área em que as práticas de gestão ambiental ainda são relativamente pouco difundidas e
que, atualmente, vem enfrentando o aumento das exigências legais e cobranças da
sociedade por uma postura mais ativa quanto à proteção e preservação do meio ambiente.
Um importante avanço proposto pela legislação foi a criação dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), em 2004, desencadeando
um processo de adequação e formalização das práticas nessa área.
A Logística Reversa, que, segundo Leite (2003), é definida hoje como a área da
logística que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas
correspondentes, do retorno dos bens após a venda e/ou o consumo desses ao ciclo de
negócios ou ao ciclo produtivo, utilizando canais de distribuição reversos, agregando-lhes
valor de diversas naturezas, caracteriza-se como um instrumento de gestão que pode ser
utilizado em qualquer atividade, seja na produção ou na prestação de serviço. Na área de
saúde, vem contribuir com as instituições geradoras de resíduos de saúde, no sentido de
dar um fluxo invertido que pode não só reduzir custos como também reduzir impactos ao
meio ambiente.
Nesse sentido, ter um programa de gerenciamento de resíduos efetivo tornou-se
mais que uma exigência legal; passou a ser um fator crucial na intenção de tornar a
produção e o consumo mais sustentáveis. E, por essa razão, justifica-se o
desenvolvimento de estudos que visem aprimorar os métodos de gerenciamento de

resíduos, aliando-os aos conceitos atuais, que estão adaptados às recentes mudanças que
vem acontecendo.
Para o mercado global, a disponibilização de informações que proporcionem a
otimização da gestão da cadeia de suprimentos, considerando como parte integrante o seu
processo inverso, isto é, a logística reversa, pode significar mais do que um fator
competitivo, podendo se tonar um fator de sobrevivência.
O aperfeiçoamento das práticas de logística reversa para as organizações que já
iniciaram o desenvolvimento de trabalhos relacionados ao gerenciamento dos resíduos
gerados, tal como é o caso estudado, torna-se relevante à medida que aumentam as
exigências e a importância dessa prática no atual contexto. Também há de se considerar
que a necessidade de aperfeiçoamento se apresenta diretamente proporcional ao
crescimento da demanda pelos serviços, a qual cresce junto com a sociedade.
E nesse contexto, o desenvolvimento de estudos com temas atuais, como o exposto
no presente artigo, podem proporcionar ao pesquisador uma experiência acadêmica e
profissional de significativa importância, haja vista o conhecimento oportuno das causas,
efeitos e outras particularidades relacionadas ao objeto pesquisado, que somente um
estudo aprofundado pode oferecer.
Considerando as assertivas aqui apresentadas, é possível colocar o seguinte
problema de pesquisa: Como aplicar os fundamentos da Logística Reversa no
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde?
Nesse sentindo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a aplicação da
Logística Reversa no gerenciamento de resíduos gerados por uma organização pública de
saúde.
Como objetivos específicos, pretende-se: 1) identificar os principais resíduos
gerados pela instituição de saúde; 2) mapear o destino dado aos principais tipos de
materiais descartados; e 3) apontar materiais que podem ser transformados por processos
de agregação de valor e retornados ao consumo.
Se for implementado o gerenciamento dos resíduos na organização de saúde
estudada e aliá-lo à aplicação da Logística Reversa, então, será possível ter um maior
controle sobre o quantitativo e tipos de resíduos gerados pela instituição, reduzir o
quantitativo de materiais desprezados como lixo, reduzir o desperdício, identificar
possíveis fontes de renda para a comunidade e contribuir com a limpeza e higiene do local
de maneira efetiva.
As organizações públicas de saúde, assim como todas as organizações que
possuem um certo nível de complexidade no desenvolvimento de suas atividades
econômicas, utilizam uma variedade de materiais que serão descartados ao fim do
processo de oferta do serviço de saúde. Muitos desses materiais podem ser reconduzidos
ao processo de consumo, por meio da transformação e agregação de valor. No entanto,
por se tratar de uma instituição que produz diversos tipos de resíduos , faz-se necessário,

prioritariamente, um gerenciamento desse ponto específico da cadeia de suprimento, que
é a devolução ao meio ambiente da matéria-prima utilizada na produção do serviço.
A Logística Reversa está associada ao reaproveitamento de materiais e/ou ao fluxo
invertido do processo de consumo e prestação de serviço. Aplicar seus fundamentos na
realidade de uma organização complexa, tal como uma instituição prestadora de serviço
de saúde, exige um estudo detalhado sobre os métodos e particularidades a serem
consideradas, para que se alcance dos resultados esperados e que o processo se
desenvolva, ou se aplique, de maneira eficiente e eficaz.
2. Referencial Teórico
2.1. A história da logística no contexto global De acordo com Pozo (2010), a logística teve seu surgimento na atividade militar. Foi
durante a Segunda Guerra Mundial que tiveram origem muitos dos conceitos logísticos
utilizados atualmente. Desenvolvida visando colocar os recursos certos no local certo e
na hora certa, a logística era considerada pelos militares como a arte de transporte e
distribuição de suprimento das tropas em operações.
Nas batalhas contemporâneas, travadas no contexto de mundo globalizado, nas
quais todos estão direta ou indiretamente envolvidos, procuram-se delinear os objetivos,
ferramentas e componentes estratégicos, táticos e operacionais do jogo logístico.
No Brasil, o surgimento da logística se deu por volta dos anos 70, a partir de um
de seus aspectos: a distribuição física, tanto interna como externa. Empresas brasileiras
se viram diante da necessidade de abandonar o empirismo, fortemente presente no
processo de abastecimento nesse período e no anterior, para abastecer mercados
emergentes em um país de dimensões continentais, e com uma malha de transportes
incipiente.
Ainda é recente a desassociação direta do termo logística ao mero conceito de
transportar. Foi somente durante os anos 90 que o interesse de fato foi fomentado pelas
organizações empresariais, quando os profissionais de logística reconheceram o aspecto
vital da logística, associando-a ao gerenciamento de uma cadeia que pode representar a
obtenção da vantagem competitiva tão necessária no mercado Bertaglia (2003).
Nesse sentido, as empresas brasileiras se deram conta do imenso potencial implícito nas
atividades integradas de um sistema logístico e, dentro de estruturas organizacionais ainda
não tão bem definidas, começaram a utilizá-lo em grande escala Pozo (2010).
2.2. A administração de materiais
De acordo com Francischini (2004), a administração de material é definida como o
processo que planeja, executa e controla, considerando as condições mais eficientes e
econômicas, o fluxo de material, com base nas especificações dos artigos a comprar até a
entrega do produto acabado ao cliente.

Trata-se, portanto, de um processo composto por diversas atividades
interdependentes, como a armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem, o
suprimento, a distribuição, entre outras.
2.2.1 Armazenagem e o manejo de materiais
Denomina-se armazenagem o processo que envolve a administração dos espaços
necessários para manter os materiais estocados, que podem ser interno, isto é, dentro da
fábrica, ou externo, em locais mais próximos dos clientes. Essa ação envolve fatores como
localização, dimensionamento de área, arranjo físico, equipamento de movimentação,
recuperação do estoque, recursos financeiros e humanos Pozo (2010).
O manejo de materiais está associado à armazenagem e também com a
manutenção dos estoques. A atividade de manuseio de materiais envolve a movimentação
de materiais no local da estocagem, que pode ser tanto estoques de matéria-prima, para o
processo produtivo, como de produtos acabados. Pode ser também a transferência de um
depósito para outro Pozo (2010).
2.2.2 A importância da embalagem no processo de armazenagem
De acordo com Pozo (2010), dentro da logística, a embalagem se caracteriza como um
processo que tem como objetivo a proteção dos produtos, evitando danos durante sua
movimentação. Um bom projeto de embalagem do produto propicia a perfeita e
econômica movimentação, sem desperdícios. Além disso, dimensões adequadas de
empacotamento incentivam o manuseio e armazenagem eficiente.
As embalagens são necessárias e em muitos casos podem ser materiais de fácil
reaproveitamento, seja novamente como embalagens ou como matéria prima para outro
produto. As imagens 01, 02 e 03 mostram o reaproveitamento de garrafões de água,
garrafas pets, e caixotes de madeiras, que são utilizados para proteger frutas e verduras
em seu transporte.
Figura 1 - Reaproveitamento de garrafões de água 20l na confecção de um novo produto. Fonte: Imagem extraída da internet.

Figura 2 - Reaproveitamento de garrafas pets na confecção de novos produtos.
Fonte: Imagem extraída da internet.
Figura 3- Caixotes de madeira reaproveitados na confecção de móvel.
Fonte: http://www.estudiolampada.wordpress.com
2.2.3 Suprimento e distribuição
O processo de suprimento é definido como a disponibilização do produto para o sistema
logístico. Preocupa-se com a hora de fazer a seleção das fontes de suprimento, do
quantitativo necessário a ser adquirido, com o programa as compras e com a forma que o
produto é comprado. É uma atividade de apoio de extrema importância, pois as decisões
relacionadas a ela afetam os custos logísticos de maneira geográfica e temporal, de modo
a implicar na redução dos custos na organização como um todo Pozo (2010).
Já a distribuição se caracteriza como uma parte da logística com enorme
importância para o resultado final de uma organização. Uma de suas atribuições é suprir
o processo produtivo da empresa e os clientes no momento e lugar certos, na quantidade
exata, no tempo certo e no menor custo por meio de um planejamento estratégico da

missão da organização, minimizando as necessidades de recursos financeiros e
incrementando o lucro Pozo (2010).
2.3 A logística reversa
A Logística reversa é um tema relativamente recente, em face a carência de produção
textual. Foi por volta dos anos 90 que começaram a surgir abordagens sobre o assunto,
graças ao aumento da preocupação com questões ambientais, novas legislações, atuações
dos órgãos de fiscalização e inquietação por perdas econômicas nas empresas
(ADMINISTRADORES.COM.BR, 2013).
As principais aplicações iniciais da logística reversa estão relacionadas ao uso de
sucatas na produção e à reciclagem de vidros, que tem sido praticados há bastante tempo.
Por outro lado, tem-se observado que o escopo e a escala das atividades de reciclagem e
reaproveitamento dos produtos e embalagens tem aumentado consideravelmente nos
últimos anos Lacerda (2000).
Chaves e Martins (2005) destacam outro aspecto que está ocasionando o
crescimento da importância da logística reversa nas operações logísticas. Segundo eles, a
causa desse crescimento dá-se ao grande potencial econômico que possui o processo
logístico reverso e que no momento não tem sido explorado como deveria.
Os canais reversos de uso estão ligados à reutilização de produtos ou materiais
com vida útil prolongada por meio de processos de transformação ou agregação de valor.
Quando apresentam condições de reutilização, podem representar valor para o mercado,
sendo comercializados diversas vezes até atingir seu fim de vida. A imagens 04 mostra a
reutilização de chapas de raio-x como matéria prima na confecção de novos produtos.
Figura 4- Reutilização de chapas de raio-x na confecção de capas de cadernos e
embalagens das folhas recicladas.
Fonte: Pequenas empresas grandes negócios 2011.
Os cartuchos de toner são outro exemplo de produtos que podem ter seu ciclo de
vida prolongado, pois além da possibilidade de serem recarregados, podem ser
remanufaturados. Isso significa que eles tem suas partes de desgaste trocadas. Um
cartucho de toner pode ter mais de sete peças trocadas Silva (2010).

O assunto tem ganhado mais destaque atualmente, devido ao aumento do número
de pesquisas e do interesse das organizações. Com isso, conforme e Chaves e Chicarelli
(2005), o conceito de Logística Reversa evoluiu, estimulado pelo aumento da
preocupação com assuntos referentes à preservação ambiental e a busca pela redução de
custos das organizações.
Existe um consenso entre os autores que abordam o tema da Logística Reversa de
que sua aplicação consiste no retorno de produtos com o objetivo de revalorizá-los. Stock
(1998, apud LEITE 2003, p. 15) afirma que:
Logística Reversa: em uma perspectiva de logística de
negócios, o termo refere-se ao papel d a logística no retorno
de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de
materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma,
reparação e remanufatura [...].
A passagem ou a movimentação da matéria-prima, estoques, produtos acabados,
peças, embalagens e informações de maneira ordenada, planejada controlada, de um ou
mais pontos de consumo ou até mesmo do ponto de distribuição, para o ponto de
fabricação, reciclagem ou redistribuição, formam o fluxo reverso, ou de retorno de
retorno, podendo sofrer diversas ligações na cadeia de distribuição, de acordo com os
objetivos estratégicos e a causa do retorno (STOCK, 1998, apud LEITE 2003).
Segundo Lacerda (2002):
As iniciativas relacionadas à logística reversa têm trazido
consideráveis retornos para as empresas. Economias com a
utilização de embalagens retornáveis ou com o reaproveitamento
de materiais para produção têm trazido ganhos que estimulam
cada vez mais novas iniciativas. Além disso, os esforços em
desenvolvimento e melhorias nos processos de logística reversa
podem produzir também retornos consideráveis, que justificam os
investimentos realizados.
Nesse sentido, como afirmam Rogers e Tibben-Lembke (1999), a logística reversa
é aplicada para recuperação do valor ou para a realização de um descarte adequado. A
figura 5 apresenta o esquema do processo logístico direto e reverso.

Figura 5 - Processo logístico direto e reverso
Fonte: Adaptado de Roggers & Tibben-Lembke (1999, p.5).
2.3.1 Sustentabilidade e meio ambiente
De acordo com Alves (2010), sustentabilidade significa sobrevivência, em face à
perenidade dos empreendimentos humanos e do planeta. Por isso, o desenvolvimento
sustentável implica planejar e executar ações, sejam elas desenvolvidas pelos governos,
pela iniciativa privada ou por organizações não governamentais, sejam elas locais,
nacionais ou globais, considerando, simultaneamente, as dimensões econômica,
ambiental e social.
Em nenhum outro caso existe condições tão favoráveis para o estabelecer vínculos
entre a atividade humana e o meio ambiente como quanto à forma como uma sociedade
administra os dejetos que produz. Esse argumento é vital, uma vez que transcende o
aspecto específico da gestão dos resíduos sólidos e abre um vasto campo de
aprofundamento em torno dos meios e fins para atingir algum grau de sustentabilidade
socioambiental. Outros fatos urbanos que, por excelência, estão relacionados com o tema
da sustentabilidade são as opções de transporte, o planejamento e uso do solo e o acesso
aos serviços de saneamento e infraestrutura básica, todos eles vinculados à
potencialização de riscos ambientais Jacobi (1994).
Resíduos sólidos é o tema que provavelmente melhor exemplifica as
possibilidades de formulação de políticas públicas minimizadoras ou preventivas.
Diversas experiências bem-sucedidas de gestão a partir de práticas alternativas mostram
que é possível romper com o círculo vicioso existente e engajar a população em ações
pautadas pela co-responsabilização e compromisso com a defesa do meio ambiente.
Em um contexto urbano marcado pela degradação permanente do meio ambiente
e do seu ecossistema, a análise dos determinantes do processo, dos atores envolvidos e
das formas de organização social que potencializam novos desdobramentos e alternativas
de ação numa perspectiva de sustentabilidade, portanto, são imprescindíveis à reflexão
em torno do desenvolvimento da sociedade atual Jacobi (1994).

2.3.1.1 O gerenciamento de resíduos no contexto das instituições de saúde
O Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é de grande relevância para o
processo de controle dos agentes de degradação ambiental que tem origem desse tipo de
atividade. Está normatizado na Resolução Diretora Colegiada nº 306 de 07 de dezembro
de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; esse instrumento regulamenta o
procedimento técnico, por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde – PGRSS.
O PGRSS tem como objetivos minimizar os impactos ambientais causados pelo
descarte dos resíduos que possam causar danos à saúde e ao meio ambiente,
caracterizados como perigosos e/ou infectantes, melhorar a qualidade de vida dos
usuários do serviço, dos colaboradores que manipulam resíduos perigosos e da
comunidade em geral ANVISA (2004).
Nesse sentido, determina os critérios técnicos de manejo desses resíduos e todas
as suas etapas: a segregação, o acondicionamento, o transporte interno, o armazenamento,
a coleta, transporte externos, o tratamento e a disposição final ANVISA (2004).
Os Resíduos de Serviço de Saúde são definidos pela Resolução 358 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente CONAMA (2005) como todos os resíduos resultantes de
atividades relacionadas com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os
serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de
produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades de
embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal;
drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa
na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos
farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para
diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura;
serviços de tatuagem, entre outros similares
Esses resíduos também podem ser considerados infecciosos ou comuns, haja a
vista a diversidades de materiais utilizados em um serviço de saúde.
3. Metodologia da Pesquisa
3.1. Classificação da Pesquisa
Por tratar-se de uma pesquisa em que se busca registrar experiências vivenciadas em uma
instituição, a qual aponta a observação dessa realidade como uma possível forma de
minimizar a incompreensão das causas finais de fatos, atos e decisões, ocorridas no
contexto do tipo de instituição em questão, e como forma de capitalizar essas situações
vivenciadas, pode-se concluir que esta pesquisa é um estudo de caso Yin (2010).
Quanto à natureza da pesquisa, classifica-se como um resumo de assunto, pois,
conforme o conceito de Andrade (1997), trata-se de um estudo que dispensa a
originalidade. Também é definida como uma pesquisa exploratória, em relação à
classificação quanto aos objetivos. A mesma classificação pode defini-la como uma
pesquisa descritiva, já que se propõe a observação, registro, análise e interpretação de

fatos. Quanto aos meios, é uma pesquisa de campo, bibliográfica e documental. A análise
dos dados obtidos foi feito com base em critérios quali-quantitativos.
Foi utilizado para população de pesquisa o grupo de pessoas que trabalham nos
setores associados ao gerenciamento de resíduos do HRAS, especificamente os servidores
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e Divisão de Serviços Gerais
(DSG). A amostragem selecionada dentro do HRAS são os coordenadores dos referidos
setores, em virtude de serem os responsáveis pela elaboração dos planos táticos e
operacionais de gerenciamento de resíduos, e por deterem o conhecimento da realidade
da instituição em relação à segregação, o acondicionamento, o transporte interno, o
armazenamento, a coleta, transporte externos, o tratamento e a disposição final, sendo,
portanto, segundo o conceito de Tobar e Yalour (2001), os informantes-chave.
3.2. Delineamento da pesquisa Após o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica e a seleção dos documentos a serem
analisados, buscou-se observar a realidade do processo de gerenciamento de resíduos do
hospital, partindo para aplicação de questionário, com perguntas abertas, para as pessoas
identificadas como as amostras válidas para o estudo. Foram feitas 12 perguntas,
divididas em três grupos, conforme o objetivo da coleta de informações, a saber: conhecer
os tipos e quantidades de materiais descartados como lixo, identificar o destino dado aos
diversos tipos de resíduos e verificar a percepção das oportunidades de melhorias por
parte dos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos do hospital.
Antes da entrevista, foi esclarecido aos entrevistados sobre o objetivo e
importância da pesquisa, assim como sobre a relevância de sua colaboração. E, durante a
entrevista, foram instigados a dar maiores detalhes acerca do assunto em questão.
Os dados investigados foram extraídos, basicamente: do Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde do Hospital, do relatório sobre o quantitativo e tipos
de reservatórios e recipientes de lixo, do Padrão de Materiais utilizados no Hospital, da
visita ao local de armazenagem de resíduos e, por fim, das informações obtidas com as
entrevistas.
3.3. O caso do hospital regional Dr. Abelardo santos
O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos – HRAS oferece atendimentos em saúde de
diversos tipos, com uma capacidade média para 600 pacientes/dia, distribuídos em 66
leitos. Está localizado no Estado do Pará, na cidade de Belém, no Distrito de Icoaraci.
Possui uma estrutura física de médio porte e uma ampla área de terreno, dividida em 99
salas ou espaços físicos delimitados, de acordo com os tipos de atendimentos oferecidos.
O gerenciamento de resíduos no HRAS, apesar de já ter sido normatizado com a
elaboração do seu PGRSS no ano de 2012, ainda não está efetivamente implementado,
pois existe carência de recursos humanos e materiais para tal. A coleta de resíduos é feita
por dois tipos de empresas, a que recolhe o lixo comum e a empresa que recolhe o lixo
infectante, porém há a preocupação de muitos resíduos estarem sendo dispensados em
locais indevidos e de muitos materiais que tem potencial para reaproveitamento estarem
sendo misturados a resíduos contaminados, salientando-se que isso repercute não só na

onerosidade do serviço ao hospital, como no risco à saúde das pessoas envolvidas com o
manejo dos resíduos e ao meio ambiente.
4. Tabulação de dados e análise de resultados Algumas das inadequações que foram relatadas no PGRSS do HRAS são: manejo
inadequado dos resíduos produzidos na Unidade, segregação somente de resíduos
perfuro-cortantes, uma percentagem de baldes sem tampas articuladas e sem simbologia,
falta de definição do fluxo de transporte de resíduos, destino final dos resíduos químicos
sem definição de neutralização e descarte, Política de Treinamento ainda em fase de
implantação, os carros para transporte dos resíduos são insuficientes para atender a
demanda, não existe local adequado para a lavagem e higienização dos carros de resíduos
e quantitativo insuficiente de pessoal para executar as atividades relacionadas com o
gerenciamento de resíduos.
Com o relatório sobre o quantitativo e tipos de reservatórios e recipientes de lixo,
elaborado pela Divisão de Serviços Gerais do HRAS, pode-se obter os seguintes dados:
149 recipientes, 4 tipos; 38 coletores com capacidade para 15 litros sem tampas e sem
pedal, 58 coletores com capacidade para 25 litros com tampa vai-e-vem, 50 coletores com
capacidade para 50 litros com tampa e pedal e 3 coletores com capacidade para 100 litros
com tampa e pedal. O gráfico 01 apresenta os tipos de recipientes e suas respectivas
quantidades.
Gráfico 01: Quantidade e tipos de recipientes de resíduos do HRAS.
Fonte: Dados da pesquisa
Além desses dados, foi verificado que o hospital não possui nenhum recipiente
para o descarte exclusivo de copos descartáveis, nenhum recipiente para coleta seletiva e
nenhum recipiente para o descarte de lâmpadas, de pilhas e baterias e que o reservatório
de resíduos é pequeno para o volume gerado, ficando expostas, sem nenhum abrigo,
muitas embalagens de papelão.
O Padrão de Materiais de uso do Hospital contém 9 grupos de materiais. O quadro
abaixo apresenta esses grupos com o seus respectivos quantitativos de itens, o item de
maior saída e seu volume de consumo anual aproximado.
38
58
50
3
Quantidades e tipos de recipientes de
resíduos Capacidade para 15
litros sem tampas e
sem pedalCapacidade para 25
litros com tampa vai-
e-vemCapacidade para 50
litros com tampa e
pedal

Tabela 1. Grupos de materiais e quantidade de itens
O grupo dos Materiais Técnicos está subdividido em cinco tipos:
Material Hospitalar em Geral
Insumos de R-X
Insumos da Central de Esterilização
Insumos de Laboratório e
Insumos de Odontologia
Com a aplicação do questionário, obtiveram-se as seguintes informações:
I. Em relação aos tipos e quantidades de materiais descartados como lixo:
O maior volume de resíduos gerados é do tipo comum, porém os entrevistados
citaram materiais plásticos do tipo comum, como sacos e copos, e de uso associado
diretamente com atendimentos em saúde, como luvas de procedimento, frascos de soros
e equipos.
Os outros tipos de materiais, que não constam no Padrão de Materiais do Hospital,
são: alimentos, água mineral em garrafões de 20l e garrafas de 300ml, vestuários e peças
de manutenção predial em geral.
II. Sobre o destino dado aos diversos tipos de resíduos:
Ambos entrevistados informaram que há um processo licitatório para aquisição de
coletores de resíduos em número e especificações adequadas às necessidades do Hospital.
Existe um fluxograma criado para o descarte de um único tipo de resíduo, que são
os resíduos de partos, especificamente os produtos de fecundação humana sem sinais
vitais com peso menor que 500g.
Dos materiais como chapas de raio-x usadas, as carcaças de toners de impressoras,
caixotes de madeira e caixas, apenas as chapas de r-x e as carcaças de toners não são
descartadas como lixo; esses ficam depositados no Almoxarifado e ainda não possuem
Grupo Quant. de itens Item de maior saída Volume de saída
Expediente 119 Papel, alcalino A-4 900 resmas
Limpeza 18 Esponja dupla face 1.050 und
Insumos de lavanderia 05 Detergente líquido 22 bombonas
Insumos de informática 22 Toner 05a p/ impressora hp 150 und
Impressos 115 Ficha p/ identifição de
medicamento de paciente 40.000 folhas
Descartáveis 36 Copo descartável 180ml 12.000 pacotes
EPIs 22 Luva em latex 60 und
Medicamentos 235 Água Bi-destilada para
injeção 10 ml 300.000 ampolas
Materiais técnicos 423 Agulha descartavel, 40 x 12 25.8000 und

destinação final definida e aqueles é a empresa que possui contrato de manutenção do
equipamento com o Hospital que os recolhe.
Não existe nenhuma cooperativa cadastrada para executar a atividade de
recolhimento de certos tipos de materiais descartados com lixo.
III. Sobre a percepção das oportunidades de melhorias por parte dos responsáveis pelo
gerenciamento de resíduos do hospital:
Foi relatado que a maior carência está na área onde se presta atendimentos de
urgência/emergência em virtude do grande fluxo de pessoas e da grande quantidade de
materiais utilizados. Segundo os entrevistados, nessa área há poucos recipientes para
resíduos, comparado à demanda, e muitas situações inadequadas em relação ao descarte
de materiais considerados como lixo.
Existem muitas oportunidades de melhora em relação ao gerenciamento de
resíduos no Hospital. Os projetos listados pelos entrevistados são: lançamento da Cartilha
de Orientação Sobre Resíduos, implantação da Coleta Seletiva HRAS, Semana de
Orientações para Segregação e Descartes de Resíduos, I Semana do meio ambiente HRAS
– 2013, implantação de posto permanente de recebimento de chapas de Raio X, para
população em geral, na instituição de saúde, campanha de devolução de medicamentos,
reaproveitamento do óleo vegetal após preparo de gêneros alimentícios, desenvolvimento
de campanha educativas, implantação de posto de coleta de pilhas, baterias e lâmpadas,
posto permanente de coleta de óleo de cozinha.
5. Considerações Finais
Com o presente trabalho pôde-se analisar a aplicação da Logística Reversa no
gerenciamento de resíduos gerados pela instituição pública de saúde estudada.
Identificou-se, portanto, que os resíduos que devem receber tratamento
diferenciado, por se tratarem de Resíduos de Serviços de Saúde, principalmente os
infectantes, no geral, estão sendo encaminhados a destinação adequada, haja vista que são
recolhidos por empresas especializadas, porém existe a carência de sistematização da
dispensação desses. Esses tipos de resíduos não são classificados por grupos, conforme a
RDC 306, por isso são considerados como um único tipo: infectantes.
O volume e a variedade de materiais utilizados no Hospital é grande e o número
de itens ou tipo de resíduo que possui um procedimento específico para o descarte é
insignificante. As chapas de raio-x são recolhidas pela empresa de manutenção do
equipamento, mas essa não informa a destinação dada ao material. Papelões são
descartados como lixo e as carcaças de toners não são reconduzidas ao mercado (não
existe projetos associados a essa questão). Também não existem projetos associados ao
incentivo de cooperativas de catadores de resíduo comum. Identifica-se, portanto, que
nenhum resíduo é descartado com o objetivo de reaproveitamento, já que apenas os
perfuro-cortantes e os produtos de fecundação humana são segregados e somente o
segundo possui uma sistematização em seu descarte.

Os recipientes são um importante recurso no processo de gerenciamento dos
resíduos, uma vez que vão armazena-los e, se bem identificados e com capacidade e
estrutura de manejo adequadas, segrega-los. No hospital existe a carência em quantidade
e tipos de lixeiras e coletores de resíduos, porém já estão sendo tomadas as providências
para a resolução do problema.
Outra carência está relacionada aos recursos humanos, que são escassos e não há
treinamento para o desenvolvimento da atividade de gerenciamento de resíduos.
Os projetos de melhorias listados pelos entrevistados minimizaram ou
solucionarão muitos problemas relacionados ao descarte de resíduos. Para a aplicação da
Logística Reversa em uma instituição geradora de resíduos que podem causar danos ao
meio ambiente e à saúde, sem dúvida, um rigoroso processo de gerenciamento de resíduo
deve ser adotado e efetivado. Por isso, campanhas educativas, implantação de postos de
coletas, aquisição de recipientes adequados, treinamentos e capacitações, incentivo a
participação da comunidade, investimentos em estrutura física e em recursos humanos,
entre outros, são fatores que favorecem a aplicação dos fundamentos da logística reversa.
Dessa forma, considerando-se a hipótese de implementação efetiva do
gerenciamento dos resíduos na organização de saúde estudada e aliá-lo à aplicação da
Logística Reversa, ratifica-se que será possível ter um maior controle sobre o quantitativo
e tipos de resíduos gerados pela instituição, reduzir o quantitativo de materiais
desprezados como lixo, reduzir o desperdício, identificar possíveis fontes de renda para a
comunidade e contribuir com a limpeza e higiene do local de maneira efetiva.
Como última contribuição, apresenta-se como sugestão para trabalhos futuros a
investigação de formas de reconduzir à vida útil equipamentos, móveis e utensílios em
desuso ou inservíveis. O trato desses equipamentos, móveis e utensílios, no âmbito da
administração pública, é normatizado em um manual de administração de patrimônio, por
essa razão poderia se constituir numa inquietação a possibilidade de reutilização desses
materiais, adequando-se a essas normas.

6. REFERÊNCIAS
ADMINISTRADORES.com.br Logística, ferramenta estratégica vital para a
sobrevivência das organizações. Disponível em:
<http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/logistica-ferramenta-
estrategica-vital-para-a-sobrevivencia-das-organizacoes/33109/>. Acesso em: 08
nov.2013.
ANDRADE, Maria Margarida. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação. 2
ed. São Paulo: Atlas, 1997.
ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC
nº 306, de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento
de resíduos de serviço de saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, 2004.
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística: gerenciamento da cadeia de abastecimento. São
Paulo: Saraiva, 2003.
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução 358. Dispõe
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos do serviço de saúde e dá outras
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2005.
FRANCISCHINI, Paulino G. Administração de materiais e do patrimônio. São Paulo:
Pioneira Thomson Learning, 2004.
JACOBI, Pedro. Pesquisa sobre problemas ambientais e qualidade de vida na cidade de
São Paulo. São Paulo: Cedec/SEI, 1994.
LACERDA, L. Logística Reversa: Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas
operacionais. Congresso Nacional de Engenheiro de Produção pela EE/UFRJ, 2000.
LACERDA, Leonardo. Logística reversa. Revista Tecnologística, VI. 74, n. 46-50, jan.
2002.
LEITE, P. R. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice
Hall, 2003.
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem
logística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. Going backwards - reverse logistics trends
and practices. University of Nevada, Reno - Center for Logistics Management, 1999 <In:
http://equinox.unr.edu/homepage/logis/reverse.pdf>. Acesso em: 20 out 2013.
TOBAR, Frederico; YALOUR, Margot Romano. Como fazer teses em saúde pública:
conselhos e ideias para formular projetos e redigir teses e informes de pesquisas. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2001.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4 ed. Porto Alegre: Bookman,
2010.

Análise das dificuldades de condenação e políticas de
enfrentamento ao tráfico transnacional de mulheres para fins
de prostituição forçada no estado do Pará.
Camila Florenzano Carvalho1, Mônica Martins Hagedorn1
1Faculdade Ideal –(FACI)
[email protected] , [email protected]
Abstract. The barriers geographics and the context of territorial formation of
the State of Pará also contribute to the international trafficking of women for
forced prostitution. Nevertheless, even with specific legislation, there are few
cases of this type criminal conviction to the rule. Therefore, it was considered
essential to analyze the difficulties and politics addressing this type of
trafficking. As soon, analyze were conducted to model the international and
national legal protection in force on the obtained, it was found that the absence
of public and the lack of adequate preparation of professionals are the main
causes of impunity.
Key-words: International trafficking women. Forced prostitution.
Condemnation.
Resumo. Os entraves geográficos e o contexto da formação territorial do
Estado do Pará contribuem para a instalação do tráfico internacional de
mulheres para prostituição forçada. Porém, ainda que com legislação
específica, poucos são os casos de condenação a esta modalidade criminosa no
Estado. Sendo assim, considerou-se imprescindível a análise das dificuldades
de condenação e políticas de enfrentamento a este tipo de tráfico. Para tanto,
foram realizadas análises aos modelos de proteção jurídica internacional e
nacional vigentes sobre o tema, bem como entrevistas com profissionais que
atuam no combate ao crime. Em conformidade com os resultados obtidos, foi
constatado que a ausência de políticas públicas e a falta de preparo adequado
dos profissionais são as principais causas de impunidade.
Palavras-chave: Tráfico internacional de mulheres. Prostituição forçada.
Condenação.
1. Introdução No Brasil, dados asseveram que cerca de três milhões de brasileiros, em condições de
legalidade diversas, residem em territórios alienígenas. Destes, a grande maioria exerce
alguma atividade laboral TERESI (2012). Todavia, neste universo migratório, um
elemento destaca-se negativamente: o tráfico transnacional de mulheres para fins de
trabalho sexual forçado.
Infiltrando-se nos diversos ramos da sociedade, especialmente naqueles em que o
Estado tem sua atuação comprometida, os criminosos aliciam mulheres que se encontram
vulneráveis e/ou em situação de vulnerabilidade. As vítimas, atraídas por promessas de
melhoria de vida, acabam rompendo com o meio em que vivem e passam a ser sujeito
passivo de uma rede criminosa.
Apesar dos esforços das legislações, o Pará assim como os demais Estados do
Brasil, é uma das rotas do tráfico internacional de mulheres para prostituição forçada.

Dessa maneira, a presente pesquisa se justifica pelo conhecimento e análise crítica do
tema, bem como pela carência de estudos que apontem as possíveis causas de impunidade
deste crime no Estado do Pará, elucidando, ainda, a importância do Direito na temática.
Ressaltar-se-á as peculiaridades deste crime neste Estado.
2. Objetivos
2.1 Geral
1. Analisar as dificuldades de condenação e políticas de enfrentamento ao tráfico
transnacional de mulheres para fins de prostituição sexual forçada, no Estado do
Pará.
2.2. Específicos
1. Correlacionar o tráfico transnacional de mulheres com os aspectos históricos e
jurídicos do Brasil e da região Amazônica;
2. Correlacionar esta modalidade de tráfico com as convenções internacionais;
3. Identificar as políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas para fins de
prostituição forçada existentes no ordenamento jurídico brasileiro;
4. Identificar quais as dificuldades de condenar os criminosos no Estado do Pará;
5. Identificar as entidades empenhadas no combate a este tipo de crime neste Estado.
3. Fundamentação teórica
3.1. Considerações históricas O deslocamento de seres humanos entre regiões e mesmo transfronteiriços foi
fundamental à formação territorial de países e continentes sendo fator primordial ao
desenvolvimento da humanidade.
Paralelamente a esta evolução, têm-se relatos de conflitos entre povos distintos
que almejavam a ampliação de seu poderio sob novas terras. Nestas disputas era comum
que os vencedores dominassem os perdedores, que poderiam ser transformados em
escravos e posteriormente comercializados, uma vez que eram considerados apenas como
objeto de transação comercial
Em função de fatores econômicos e de modificações políticas e ambientais, os
séculos XIX e XX foram marcados pelo intenso movimento migratório. De acordo com
Becker (2010), o primeiro grande fluxo de pessoas ocorrido nas Américas foi o de
imigrantes oriundos das nações colonizadoras, tendo em vista que, o aumento da
economia colonial teve como conseqüência a necessidade de mão de obra, contribuindo
para o movimento forçado de africanos para este continente.
Sendo as migrações manifestações multifacetadas, seus impactos podem ser
observados tanto nas áreas de êxodo como nas de atração. Comparato (2005) descreve
que a evasão em massa de africanos foi uma das causas da definitiva fragilização do
continente, seja no âmbito econômico como no social.
No Brasil, no final do século XIX, o ingresso de imigrantes acarretou sérios
problemas. Além do aumento nos índices de pobreza e da comercialização negreira, uma
espécie diferenciada de tráfico surgiu: o de mulheres européias para prostituição forçada
nos grandes centros urbanos. A partir de então, a exploração feminina nos negócios do
sexo adquiriu nova roupagem, uma vez que o capitalismo contribuiu para a
internacionalização dos mercados e para a expansão dos prazeres

Assim, diante da transformação da mulher em mercadoria, o tráfico de mulheres
européias foi estabelecido e considerado como crime transnacional. No entanto, a forma
como eram exploradas levou a comunidade internacional a pensar em medidas que
possibilitassem o combate a este crime.
3.2. Conceito
3.2.1. Tráfico de pessoas De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (2012 apud TERESI, 2012. p.
42), no mundo, aproximadamente 20,9 milhões de pessoas são vítimas deste crime. Tal
estimativa aponta que o tráfico de pessoas ocupa a terceira posição no ranking dos crimes
mais rentáveis, estando atrás do tráfico de armas e de drogas.
A discussão acerca do tráfico de pessoas encontra solo fértil no modelo
globalizado, através do mercado mundial do sexo, que estimula a exploração do
trabalhador e impõem um ritmo acelerado no crescimento de redes criminosas, fazendo
com que a vítima assuma uma posição desproporcional na relação de poder.
O tráfico de pessoas é visto como uma forma de trabalho escravo, pois é um crime
que cerceia a liberdade dos trabalhadores. É, também, uma clara herança do período
colonial, uma vez que, como no passado, a problemática está associada à submissão de
subordinados a um superior, além da formação de uma “escravidão interna” das relações
exploradoras na organização do trabalho e do fato da vítima ser destinada ao abandono
(HAZEU, 2008. p. 505 apud SAKAMOTO, 2007).
O conceito atual de tráfico de pessoas foi concebido a partir da promulgação do
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças (ou simplesmente Protocolo de Palermo - 2000) que
representa um marco fundamental na discussão. O Brasil, através do Decreto nº
5.017/2004 promulgou o referido Protocolo que define o crime em questão como:
“o recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo
à ameaça ou uso da força ou a outras formas de
coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha
autoridade sobre outra para fins de exploração (...)”.
Dessa forma, o tráfico de pessoas pode ser cometido vislumbrando diferentes fins,
dentre os quais estão: o transplante ilegal de órgãos, o trabalho forçado, bem como o
trabalho escravo no mercado do sexo.
A prostituição, por não ser bem vista diante da sociedade, na maioria dos países,
é cercada de restrições. Ocultar e, até mesmo, negar a existência da mesma significa não
levar a cabo sérios problemas sociais, posto que, segundo Santos (et al, 2009) os valores
impostos para encobrir o problema, reproduzem sistemas dominadores que acabam
tornando exeqüível a escravidão moderna.
Sendo a prostituição forçada uma modalidade do tráfico internacional de pessoas,
o Código Penal brasileiro, em seu artigo 231 descreve o tráfico internacional de pessoas
para fim de exploração sexual como ato de: “promover ou facilitar a entrada, no território
nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração
sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro”.

Em contrapartida, Hazeu (2008) aponta que no que tange a terminologia, os
conceitos de prostituição e de exploração sexual ainda são lacunosos e por isso, na
ocorrência deste crime, deve-se evitar o uso do termo “exploração sexual” para pessoas
que já atingiram a maior idade, uma vez que esta pode levar a uma visão preconceituosa
da prostituição como profissão. No entanto, o termo “exploração sexual” pode
perfeitamente ser usado quando o crime envolve crianças e adolescentes, pois o Estatuto
da Criança e do Adolescente assim prevê no caput do seu artigo 244-A.
3.2.2. A Amazônia e o estado do Pará como rota no tráfico internacional de
mulheres para fins de prostituição forçada. O tráfico de pessoas para fins de prostituição forçada é um crime que atinge,
indistintamente, homens e mulheres. Porém, ainda no século XXI, as mulheres são as
principais protagonistas. Benchimol (1999 apud Smith, 2009. p.3) mostra que a história
da ocupação do território amazônico possibilitou uma cultura de exploração da figura
feminina, uma vez que as mulheres eram designadas a servir os homens, estabelecendo,
assim, uma relação desproporcional entre os gêneros.
Atraídos por promessas de melhores condições de vida, tendo em vista o
desenvolvimento regional impulsionado pela implantação de grandes projetos, a Região
Amazônica, no passado, foi uma grande área de atração de pessoas.
O primeiro crescimento populacional expressivo da região foi motivado pela
extração do látex dos seringais, no século XIX. Fato que contribuiu para o
desenvolvimento das cidades de Belém e Manaus e que possibilitou a entrada de
imigrantes, principalmente nordestinos. Semelhante ao ocorrido, no século XX, com a
construção das estradas Belém-Brasília e da Transamazônica.
No Pará, foi possível observar um expressivo número de jovens em prostíbulos
localizados próximos a garimpos, no município de Itaituba, e junto ao Projeto Mineração
Rio do Norte, nos municípios de Oriximiná e Porto Trombetas (DIAS 1997 apud HAZEU,
2003).
Semelhante com o que aconteceu com mulheres do município de Cametá, a época
do Projeto Tucuruí (PINTO, 1997 apud HAZEU, 2003). Diante disso, muitas mulheres
vieram à região para se prostituir ou para trabalhar como domésticas, caracterizando o
tráfico interno de mulheres na região.
Observando o contexto do Estado do Pará é possível compreender a condição que
figura feminina, histórica e culturalmente, assumiu na sociedade. Encoberta por um
regime patriarcal, a mulher foi levada a servir sexualmente os homens. Tal fato
influenciou diretamente na posição desigual da mesma no mercado de trabalho e no
exercício de sua autonomia.
Em contrapartida, a falta de manutenção, a carência em investimentos políticos e
econômicos fez com que a mesma região se transformasse em área de êxodo. Homens,
mulheres, famílias deixaram a região buscando o que aqui vieram procurar. Nesse
cenário, o Pará se transformou em um grande “exportador” de mulheres para fins de
prostituição forçada no contexto internacional.
O município de Barcarena, nos dias atuais, vem ganhando destaque, pois as
vítimas, mulheres em sua grande maioria, vêm sendo levadas para países da Europa. A
reportagem vinculada no Jornal Popular 2013 revela que menores de idade são induzidas
a se prostituírem em navios estrangeiros atracados no porto de Vila do Conde. Os
criminosos ainda agem em municípios como: Rondon do Pará, Capanema, Breves, Portel,
Marabá, Bragança entre outros.
No Brasil, o Ministério Público Federal (MPF), entre janeiro de 2005 a julho de
2012 abriu 1,1 mil processos judiciais por tráfico transnacional de seres humanos.

Atualmente, no Estado do Pará, existem 39 casos em andamento, entre processos judiciais
e inquéritos sob responsabilidade do MPF ou da Polícia Federal. JORNAL POPULAR
(2013).
4. Proteção jurídica
4.1. Normativa internacional As conferências internacionais há muito vêm tratando do tema, a iniciar pelo tráfico de
escravos, cuja repressão teve início em meados do século XIX, no tratado assinado entre
Inglaterra e Portugal (1810). Em 1815, um segundo tratado assinado pelos mesmos países
proibiu a comercialização e/ou tráfico de indivíduos nos arredores da costa africana e no
norte do Equador COMPARATO (2005).
Neste período, outros importantes tratados foram celebrados, dentre eles: os
tratados de Paris de 1814, as Declarações do Congresso de Viena de 1815, a Declaração
de Verona de 1822, os tratados de 1831 e 1833 entre França e Grã-Bretanha e o tratado
de Londres de 1862. Todos versavam sobre a violação aos princípios de justiça e
humanidade, além da repressão ao transporte de africanos por via marítima
COMPARATO (2005).
Reflexo direto do tratado de Paris (1814) foi a Convenção pactuada pela
Sociedade das Nações (1926). Em 1953, referida Convenção foi reafirmada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) através do Protocolo de Emenda à Convenção da
Escravidão de 1926. Nos termos deste Protocolo o tráfico de escravos foi definido como:
“todo ato de captura, aquisição ou cessão de
um indivíduo para vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão por
venda ou câmbio de um escravo, adquirido para vendê-lo ou trocá-
lo e, em geral, todo ato de comércio ou de transporte de escravos”.
Em 1956, a Convenção de Genebra reiterou estes conceitos e estendeu o
entendimento às práticas análogas à escravidão. Logo, os Estados Parte passaram a
estabelecer medidas administrativas e civis, uma vez que o ato - ou tentativa - de
transportar escravos passou a ser considerado crime (CASTILHO, 2007. p. 10).
Aliado a repressão ao tráfico negreiro foi possível observar a censura ao tráfico de
mulheres brancas. Assim,
“em 1904, é firmado em Paris o Acordo para
a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (...). Durante as três
décadas seguintes foram assinados: a Convenção Internacional
para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas (Paris, 1910), a
Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres
e Crianças (Genebra, 1921), a Convenção Internacional para a
Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (Genebra, 1933), o
Protocolo de Emenda à Convenção Internacional para a Repressão
do Tráfico de Mulheres e Crianças e à Convenção Internacional
para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores (1947), e, por
último, a Convenção e Protocolo Final para a Repressão do Tráfico
de Pessoas e do Lenocínio (LAKE SUCESS, 1949)” CASTILHO
(2007).
A Convenção e o Protocolo Final para Supressão do Tráfico de Pessoas e do
Lenocínio (1949) representou um marco na história do combate ao tráfico de seres
humanos, posto que, valorizou o indivíduo e sua dignidade, caracterizando o tráfico como

algo lesivo ao bem-estar social. Em contrapartida, em razão de sua ineficácia surgiu a
Convenção de 1979 que visou impor que os Estados Partes tomassem medidas
vislumbrando erradicar todas as formas de tráfico e discriminação contra a mulher.
CASTILHO (2007).
Intitulada como “Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz”, a Quarta
Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995), dentre outros assuntos, discutiu e
fixou uma importante plataforma de ação, na qual ficou estabelecido que a prostituição
forçada é uma forma de violência, enquanto que a prostituição praticada livremente não
viola os direitos humanos.
Cabe pôr em evidência, também, que um dos objetivos estratégicos da
Conferência de 1995 foi estabelecer metas para prestar assistência às vítimas de
prostituição e do tráfico. Além disso, a mesma demonstrou preocupação com a saúde de
meninas e mulheres traficadas, tendo em vista que a contaminação por doenças
sexualmente transmissíveis é reflexo indireto deste mal.
Assim, o século XX foi marcado pelo enorme empenho advindo de Governos,
Organismos Internacionais e da própria comunidade civil. A Assembleia Geral da ONU
criou um comitê internacional vislumbrando a diminuição e extinção deste tipo de tráfico.
Em 1999, a Assembleia apresentou uma importante proposta, o Protocolo de Palermo.
A tipificação jurídica do tráfico de pessoas, expressa no Protocolo de Palermo é
genérica, associada unicamente a violência criminal. Todavia, este fator restringe o objeto
não permitindo uma análise sociocultural do fenômeno, tendo em vista que não leva em
consideração idade e sexo, LEAL (2007). O Brasil, através do Decreto nº 5.017/2004
promulgou o referido Protocolo.
4.2. Normativa Brasileira Impulsionado por incentivos alienígenas, o governo brasileiro encomendou pesquisas
sobre o tráfico de pessoas no Brasil. Pesquisas como estas definem os lugares mais
acometidos pelo crime, bem como o perfil das vítimas. Possibilitando, assim, a execução
de ações de combate ao crime e alterações na legislação interna.
Em razão disto, em 2002, foi realizado o estudo de abrangência nacional mais
importante: a Pesquisa sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins
de Exploração Sexual Comercial (PESTRAF) que apontou, dentre outros relevantes
aspectos, as rotas de tráfico interno e internacional de brasileiros.
O presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, definiu como uma das
prioridades de gestão e diretrizes do plano plurianual o combate ao tráfico de mulheres e
meninas. Contudo, as políticas pensadas para a Amazônia não foram sólidas, uma vez
que outros projetos foram beneficiados e os investimentos do governo na área social
foram subtraídos, o que tornou ainda mais vulnerável a posição dos trabalhadores e das
mulheres, SODIREITOS (2007).
Nesse cenário de medidas para combater a exploração sexual, a lei nº 11. 106/2005
foi instituída para tutelar a moralidade pública sexual e, consequentemente, assentou
mudanças significativas; a começar pelo termo “tráfico internacional de pessoas”. Tal
denominação possibilitou a ampliação aos limites territoriais da pratica criminosa. Além
disso, a lei acrescentou a pena de multa à pena privativa de liberdade quando o crime
estiver associado a fins lucrativos GRECO (2009).
Já em outubro de 2006, o presidente assinou o decreto nº 5.948 que visou traduzir
os esforços antitráfico; realizados de acordo com o suporte dos mais diferentes ramos da
sociedade pública e civil.
Em observância aos graves efeitos do crime, a lei previu não só a definição, como
também sanção ao tráfico de seres humanos praticado em território nacional. Visto isso,

o caput artigo 231-A institui que o tráfico interno de pessoas consiste em: “promover ou
facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da
prostituição ou outra forma de exploração sexual”.
Outra medida de extrema relevância anexa ao decreto nº 5.948/06 é a Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esta, por sua vez, está dividida em três
capítulos. O primeiro tem como finalidade definir o tráfico de pessoas e o correlacionar
com Protocolos Internacionais e as demais legislações do ordenamento jurídico brasileiro.
O segundo capítulo estabelece as diretrizes gerais acerca do enfrentamento, enquanto que
o capítulo subseqüente mostra as diretrizes específicas, dando enfoque, sobretudo à
prevenção e envolvendo as mais diversas esferas, quais sejam: educação, saúde, trabalho,
cultura, turismo, direitos humanos dentre outras.
Com base nisso, GRECO (2009) demonstra que fundamental à erradicação do
crime foi a determinação do caráter público incondicionado à instauração da ação penal.
Logo, tanto para tráfico internacional quanto ao interno de pessoas, é facultada qualquer
condição ou consentimento da vítima ou de seu representante legal.
Recentemente, a presidenta Dilma Rousseff, instituiu a Coordenação Tripartite da
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por meio da assinatura do
decreto nº 7.901/2013 que autoriza a publicação do II Plano de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas. Este plano visa o fortalecimento dos órgãos de combate ao crime, bem como
a ampliação da atividade dos organismos governamentais envolvido no enfrentamento,
prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, além da capacitação dos profissionais e
instituições e redução das situações de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas.
5. Pestraf e políticas de enfrentamento Em conformidade com o Instituto Interamericano del Niño/OEA (1998), o Relatório
Nacional PESTRAF apontou que a exploração sexual está associada ao abuso sexual -
seja ele intra ou extra-familiar – manifestado em diversas formas.
O PESTRAF mostrou que as mulheres, vítimas do tráfico internacional são
mandadas à Espanha, Holanda, Itália, Portugal, Suíça, Estados Unidos, Alemanha e,
também, para os países da América do Sul com o Brasil, como: Guiana Francesa,
Suriname, Paraguai, Venezuela, Argentina.
Resultados observados pela mesma pesquisa demonstram que há uma clara
relação entre desigualdade social e as rotas do tráfico, uma vez que as Regiões Norte e
Nordeste, que são economicamente mais pobres, estão no topo do ranking. Este fenômeno
está associado tanto a rota internacional quanto aquela dentro do próprio país.
O mesmo estudo alega que o tráfico de mulheres na Amazônia está ligado a prática
de aviamento vinculado à prostituição, ou seja, a chamada escravidão por dívida. Aliado
a isto existem outros fatores que agravam o problema, tais como: a corrupção, o crime
organizado, o contrabando e a frágil presença do Estado.
Todavia, a quantificação deste crime é algo extremamente complexo. Alguns
dados são baseados em aproximações e generalizações, tendo em vista que, algumas
vezes, os números são manipulados pelos poderes instituídos, visando satisfazer as
pressões nacionais e internacionais.
No entanto é grande o emprenho dos órgãos federais para combater o tráfico
humano. A Secretaria Nacional de Justiça coordena o “Programa de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas”, responsável pela cooperação técnica internacional. Outros órgãos
que vêm se aperfeiçoando no combate ao tráfico são: a Secretaria Nacional de Segurança
Pública, o Departamento da Polícia Federal e o Departamento da Polícia Rodoviária
Federal.

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a Secretaria Especial dos
Direitos Humanos, uniram-se com o Ministério Público e alguns representantes da
sociedade civil para tentar buscar soluções para o problema e juntos construíram um texto
que inicialmente foi discutido no âmbito do Poder Executivo Federal, com a participação
do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, e, em um segundo
momento, buscando legitimidade e participação popular, o texto foi levado à consulta
pública.
6. Materiais e métodos
6.1. Metodologia A pesquisa foi iniciada após o aceite da orientadora do projeto e aprovação da
Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade Ideal.
A primeira etapa do estudo consistiu em realizar pesquisa bibliográfica ao acervo
virtual e físico, através de livros e periódicos. As informações também foram coletadas
em organizações não governamentais em defesa aos direitos humanos Na segunda etapa
realizou-se entrevista com um representante do poder público, Procurador Regional da
República Dr. Ubiratan Gazetta, e com o coordenador da organização não governamental
SODIREITOS Marcel Hazeu representando o outro setor da sociedade que visa o
combate e acolhimento das vítimas de tráfico de pessoas.
A escolha dos entrevistados foi feita vislumbrando verificar as diferentes
perspectivas deste crime. As informações foram registradas em questionários de
perguntas elaborados pela própria pesquisadora.
7. Resultados Em decorrência de sua economia, seu histórico e sua localização geográfica, o Estado do
Pará, sofre com as consequências do tráfico internacional de mulheres. Os aliciadores
utilizam as diferentes alternativas de transporte para retirada das vítimas do Estado. Este,
ainda, é um fator desfavorável para pesquisadores e órgãos do governo, pois não
proporciona números precisos acerca do tráfico e dificulta as ações de enfrentamento.
De acordo com o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
Tráfico Humano no Estado do Pará (2012. p. 101), o combate eficaz a esta espécie de
tráfico se dá por meio de um trabalho em rede, cujo objetivo é legitimar a proteção às
vítimas com atenção a questões fundamentais, como: a defesa dos direitos humanos, a
valorização da família e a responsabilização dos entes federados competentes.
No Estado do Pará, no que tange o combate do tráfico de pessoas, o executivo
estadual instituiu o Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, através do
Decreto nº 423 que conta com a participação da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos, Secretaria de Estado de Assistência Social, Secretaria de Estado de Saúde
Pública, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Segurança Pública,
Secretaria de Estado da Cultura e organizações não governamentais.
Referido documento ressalta a importância do Sistema Único de Saúde e do
Sistema Único de Assistência Social, como forma de identificar e reduzir os casos de
tráfico internacional de mulheres, no Estado do Pará. As atividades, tanto da saúde quanto
da assistência social, devem ser voltadas à instrução, prevenção e proteção física e
psicológica dos vulneráveis, bem como ao resguardo à família, como ponto social
primário. Juntos, esses núcleos devem convergir à elaboração de políticas públicas
necessárias.
No âmbito da saúde, apesar da existência de programas que vislumbram a atenção
a saúde e do Plano Nacional de Diretrizes para Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o

Pará não possui ações políticas na Secretaria de Estado de Saúde Pública que protejam,
especificamente, as vítimas de tráfico de pessoas. O mesmo acontece com os serviços de
proteção social as vítimas de tráfico humano, já que inexiste um atendimento
especializado as mulheres e demais vítimas do crime.
O ambiente escolar com a sua função precípua de formação pedagógica do
indivíduo, também deve estar em conformidade com as políticas públicas de repressão ao
tráfico humano. Dentre os programas existentes, há o Projeto Escola Saudável que tem
por objetivo qualificar os próprios profissionais da educação a fim de incentivar a
produção científica para a identificação e diagnósticos precisos sobre o tráfico de pessoas.
De acordo com esta pesquisa, dentre os principais obstáculos à condenação dos
criminosos estão: a frágil cooperação entre o Brasil e os demais países, no que diz respeito
a este tema; a instabilidade dos sistemas jurídicos, sobretudo dos países de baixo índice
de desenvolvimento; a diferença na forma de tratamento do crime entre os países; a
carência em recursos nas áreas sociais e da saúde, a “imaturidade” profissional dos
indivíduos e/ou órgãos responsáveis pelo combate ao crime; além do preconceito incutido
na sociedade sobre a prostituição e a forma de organização do crime.
8. Discussão Após as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial e a guerra fria, as
comunidades internacionais, através da comissão de direito internacional da ONU
buscaram coibir crimes contra a dignidade da pessoa humana, visando à implantação de
um sistema de responsabilização criminal mundial. Tal iniciativa ensejou a elaboração do
Estatuto de Roma (1998), aprovado pelo Brasil através do decreto nº 4.388/2002, que traz
em seu cerne os crimes contra a humanidade.
Assim, por ser uma clara violação ao direito do homem e levando em consideração
a amplitude do crime, no entendimento dos entrevistados, o tráfico internacional de
mulheres para prostituição forçada pode ser compreendido como um crime contra a
humanidade, dependendo da perspectiva, haja vista que conta com uma enorme rede
criminosa que reduz o indivíduo a condição análoga de escravo.
Corroborando com essas assertivas, NEDERSTIGT (2008) aponta que na ótica
jurídica, o tráfico humano, em amplo sentido é um paradoxo entre causa e efeito da
violação aos direitos humanos, tendo em vista que tem seu nascedouro nas disparidades
sociais e na ineficácia das políticas públicas. Fato que pode contribuir para a exploração
da pessoa humana causando degradação da sua dignidade e limitando o direito à vida, à
liberdade e ao de não ser submetido à escravidão em nenhuma de suas formas.
Uma importante barreira à condenação deste crime é que, no geral, as migrações
para áreas em processo de desenvolvimento servem como cenário para o tráfico que
envolve uma enorme rede pessoas, composta por aliciadores, traficantes, cafetinas,
“coiotes” e, até mesmo, conhecidos da própria vítima. Todos esses, muitas vezes, estão
acobertados por empresas legais e ilegais, além da indústria da moda, do emprego e do
entretenimento. E é a ligação entre os envolvidos que caracteriza a conexão transnacional.
Com a finalidade de reconhecer e instrumentalizar o enfrentamento ao tráfico
internacional de pessoas, os tratados internacionais vigentes assumem uma posição
fundamental na ordem jurídica dos países, já que promovem uma estrutura de repressão
ao crime e levam os signatários a tipificar condutas e aplicar sanções severas aos
violadores.
Acerca disto, os entrevistados concordam que estes tratados, como instrumento
político e jurídico, abordam de maneira satisfatória o tráfico internacional de pessoas,
entretanto não são suficientes à resolução da questão, que é fruto, sobretudo, da falta de
implantação dos mesmos. Desse modo, mais do que criar novos tratados é necessário

discutir os já existentes a fim de identificar as necessidades reais de ampliação dos
mecanismos de combate.
A falta da incorporação material dos tratados e das leis está permeada pelo
preconceito existente, que inicia já na esfera internacional, tendo em vista que, de acordo
com os entrevistados, a lógica da diplomacia brasileira está voltada para o comércio, e
um brasileiro vitimado é visto como um produto maléfico à imagem do Brasil.
O eficaz combate ao tráfico de mulheres para fins de prostituição forçada implica
no envolvimento e na cooperação das autoridades judiciárias e policiais dos estados-
membros. Portanto, uma das preocupações na esfera nacional é a instituição de
mecanismos que permitam dada cooperação, COSTA (2004).
Porém, o descaso do Ministério das Relações Exteriores em relação ao tema,
atrelado a falta de cooperação jurídica internacional de determinados países faz com que
se estabeleça uma cadeia de dificuldades que se agrava, principalmente, quando se
observa a questão na América Latina, em especial no Suriname, em decorrência da
fragilidade institucional do país e permissividade por parte de uma cultura que subjuga a
figura e o corpo feminino.
QUAGLIA (2007) relata que ao ratificar o Protocolo contra Tráfico de Pessoas, o
Brasil promoveu significativa alteração na sua legislação. O dispositivo 231 do Código
Penal brasileiro foi alterado passando a tipificar o tráfico interno de pessoas e a versar,
especificamente, sobre o tráfico internacional de seres humanos. Todavia, na visão de
Marcel Hazeu, as leis brasileiras que abordam o tema ainda são insuficientes e/ou
contraditórias, o exemplo disto está na escolha, por parte do legislador, da palavra
prostituição no caput do artigo 231-A.
A interpretação deste dispositivo, segundo o entrevistado, pode acarretar sérios
problemas que permeiam as diversas atividades no mercado do sexo, posto que dá
margem a repressão e perseguição de prostitutas, bem como retira o foco dos outros
mercados que influenciam no tráfico internacional de mulheres.
Acerca da legislação brasileira, Dr. Ubiratan Cazetta observa que esta passou por
importantes avanços, principalmente na mudança dos termos “tráfico de mulheres” para
“tráfico de pessoas”, tal modificação permite ampliar o combate a este crime através da
questão do gênero. Em contrapartida, o entendimento sobre trabalho forçado ainda
precisa ser detalhado, já que, atualmente, não abarca questões relevantes, tal qual o
casamento servil que representa uma das formas de tráfico transnacional humano.
Muito embora haja um notável esforço da comunidade internacional juntamente
com o Estado brasileiro, através do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, e, na sua
seara, a Secretaria de Justiça do Estado do Pará, a falta de políticas públicas,
investimentos na área social e a carência de pesquisas sérias sobre o assunto no Estado,
contribuem para o avanço e acabam dificultando a instauração do processo penal.
No Pará, como forma de remediar a situação, foi criada a Secretaria de Justiça do
Estado, no entanto o que era para ser mola propulsora no combate ao crime, mostrou-se,
em parte, como sendo um embargo à identificação e condenação dos indivíduos, em razão
da falta de capacitação dos profissionais, tais quais os membros da Polícia Federal. Fato
este relevante, pois a investigação depende de um trabalho complexo entre autoridades
alienígenas e inteligência nacional.
BARRETO E PRADO (2010 p. 201 apud BINDMAN, 2004) relatam que o forte
estigma relacionado à prostituição converge na vulnerabilidade à violação de direitos,
assim, grande parte das vítimas, não se vêem como merecedoras de direitos e, não
solicitam o amparo da lei, tendo em vista, principalmente o forte preconceito policial e
judicial.

Corroborando com esta afirmativa, os entrevistados relatam que já
desestabilizadas pelo fato de terem sido enganadas e de ter estado em situação degradante,
algumas mulheres são deportadas e a grande maioria, entra no processo de vitimização o
que as distanciam do Poder Judiciário, em contraposição as aproximam de ONGs que são
figuras essenciais à identificação e combate ao crime. Esta distância do Estado em relação
às vítimas é preocupante, posto que a rede de tráfico atua, muitas vezes, na comunidade
de origem da vítima.
9. Considerações Finais Como se pôde identificar, a problemática do tráfico internacional de mulheres para
prostituição forçada no Estado do Pará não é algo dos dias atuais. Mesmo com o extenso
rol de normatização, inúmeras vítimas são retiradas do seio seu familiar e passam a sofrer
com as amarguras do cerceamento da liberdade de locomoção e do seu próprio corpo.
Logo, é de extrema importância que a sociedade civil tome conhecimento das
peculiaridades deste crime, principalmente, que o Estado brasileiro ponha em prática os
preceitos acordados nos tratados internacionais a fim de que não haja impunidade.
Necessária também se faz a atuação dos órgãos jurídicos e políticos na qualificação de
profissionais, bem como no mapeamento e identificação de rotas.
10. Referencias
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre o Tráfico Humano no Estado do Pará: “Relatório Final”. Belém- 2012
BARRETO, Letícia Cardoso. PRADO, Marco Aurélio Máximo. Identidade das
prostitutas em Belo Horizonte: As representações, as regras e os espaços. In Pesquisas e
Praticas Psicossociais 5 (2). São João Del Rei, agosto/dezembro, 2010.
BECKER, Bertha K. Manual do candidato: geografia – Brasília: Fundação Alexandre de
Gusmão, 2009
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial 4: Dos crimes
contra os costumes até dos crimes contra a fé pública. 3º edição, ed. Saraiva
CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Tráfico de pessoas: da Convenção de Genebra ao
Protocolo de Palermo. Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Ministério da Justiça – Brasilia :2007
CASTILHO, Ela Wiecko V. de. A legislação penal brasileira sobre tráfico de pessoas e
imigração ilegal/irregular frente aos Protocolos Adicionais à Convenção de Palermo.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed., rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2005
_____________. Código Penal Brasileiro de 1940. Disponível em:
http://www6.senado.gov.br/legislacao/. Acessado em: 15/10/2012
COSTA, Paulo. Tráfico de pessoas: Algumas considerações legais. Disponível em:
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/wp200408.pdf. Acesso: 22/11/2012

DAVIDA, Grupo. Prostitutas, “traficadas” e pânico morais: uma análise da produção de
fatos em pesquisas sobre o “tráfico se seres humanos”. In Caderno Pagu (25), julho-
dezembro, 2005, pp 153-184
_____________. Decreto nº 5.948/2006. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2006/lei/d5948.htm. Acessado em
15/10/2012
_____________. Decreto nº 7.901/2013. Disponível em:
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034101/decreto-7901-13. Acessado em:
01/05/2013
DORNELAS, Sidnei Marco. Tráfico de pessoas para exploração sexual: Um esboço de
revisão bibliográfica. In Travessia Revista do Migrante. Publicação do CEM. Ano XXIV.
N. 69. V. 24. Julho/Dezembro-2001
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. Ed. 6 – Niterói, RJ:
Impetus, 2009
HAZEU, Marcel. FIGUEIREDO, Danielle. Tráfico de seres humanos entre países pobres:
República Dominicana, Brasil e Suriname. In Ser Social: Revista do programa de pós-
graduação em política social / Universidade de Brasília. V.1, N.1 (1º semestre): 1988
HAZEU, Marcel. Tráfico de mulheres crianças e adolescentes para fins de exploração
sexual comercial na Amazônia: OIT Baseado no Relatório de Pesquisa / Txai, Movimento
República de Emaús, 2003
HAZEU, Marcel. SILVA, Lúcia Isabel da Conceição. Tráfico para trabalho escravo na
prostituição: Do Brasil para Suriname, os conceitos viajam juntos. In Revista
Interdisciplinar da Mobilidade Humana. Ano XVI. N. 3 – 2008
HAZEU, Marcel. Pesquisa tri-nacional sobre o tráfico de mulheres do Brasil e da
República Dominicana para o Suriname: uma intervenção em rede. Sodireitos, Belém,
2008
JORNAL POPULAR. Tráfico humano: o mal do século. Belém, 23 de dezembro de 2012
a 06 de janeiro de 2013 – Ano XXI – nº 884
KAPPAUN, Alexandre de Oliveira. Tráfico de mulheres, feminismo e relações
internacionais: uma abordagem histórica. Disponível em
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000100004&scri
pt=sci_arttext. Acessado em: 19/11/2012
LEAL, Maria Lúcia. LEAL, Maria de Fátima P., orgs. Pesquisa sobre Tráfico de
Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial -
PESTRAF: Relatório Nacional - Brasil — Brasília: CECRIA, 2002.
LEAL, Maria Lúcia. LEAL, Maria de Fátima. Enfrentamento do Tráfico de Pessoas: uma
questão possível? Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Ministério
da Justiça – Brasilia: 2007

_____________. Lei nº 11.106/05. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2006/2005/lei/l111106.htm. Acessado em:
15/10/2012
_____________. Lei nº 12.015/2010. Disponível:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm. Acessado
em: 15/10/2012
MARREY, Antonio Guimarães. RIBEIRO, Anália Belisa. O enfrentamento ao tráfico de
pessoas no Brasil. In Revista Internacional de Direito e Cidadania. N. 6, P. 47-66,
fevereiro/2010
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Política Nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Ministério da Justiça. Brasília, 2007
NEDERSTIGT, Frans Willem Pieter Marie. Tráfico de pessoas: uma análise comparativa
da normativa nacional e a normativa internacional. Universidade Unigranrio. Duque de
Caxias-RJ, 2008
OLIVEIRA, Pedro Américo de. FARIA, Thaís Dumêt. Do tráfico para o trabalho forçado
à caminhada para o trabalho decente. Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas. Ministério da Justiça – Brasilia: 2007
PESQUISA sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração
Sexual Comercial (PESTRAF). Principais rotas do tráfico de seres humanos. Disponível
em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/novosdireitos/traficoseres/principaisrotastraficopessoas
.pdf. Acessado em: 18/08/2012
QUAGLIA, Giovanni. Tráfico de pessoas, um panorama histórico e mundial. Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Ministério da Justiça – Brasilia: 2007
SALES, Jamilye Braga. CARDOSO, Denise Machado. O direito fundamental à migração
sob a perspectiva dos sistemas internacionais de direitos humanos: “o caso das mulheres
paraenses”. Disponível em:
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/site/anaiscomplementares. Acessado: 28/11/2012
SALES, Lilia Maia de Morais. ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. RABELO,
Cilana de Morais Soares. COSTA, Andreia da Silva. A questão do consentimento da
vítima de tráfico de seres humanos. Disponível em:
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/050.pdf. Acessado
em: 19/11/2012
SANTOS, Boaventura de Sousa. GOMES, Conceição. DUARTE, Madalena. Tráfico
sexual de mulheres: Representações sobre ilegalidade e vitimização. In Revista Crítica de
Ciências Sociais, 87, Dezembro 2009: 69-94
SMITH, Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira. Migração Feminina e o Tráfico de
Mulheres na Amazônia. Disponível em:

http://www.andhep.org.br/anais/arquivos/Vencontro/gt6/gt06p07.pdf. Acessado em:
08/01/2013
SPRANDEL, Márcia Anita. DIAS, Guilherme Mansur. A temática do tráfico de pessoas
no contexto brasileiro. In Rev. Inter. Mob. Hum. Brasília. Ano XVIII. N.35, P. 155-170,
jul/dez, 2010
TERESI, Verônica Maria. Guia de referência para a rede de enfrentamento ao tráfico de
pessoas no Brasil. Brasília : Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça, 2012.

OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS EM IES A PARTIR DA
ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS
Amanda Akemi Rodrigues Tanimoto1, Artur Neves de Assis1, Cintia Iketani1,
Daniel Nascimento e Silva2, Rony Ahlfeldt3
1Faculdade Ideal –(FACI), 2Universidade da Amazônia-(Unama), 3Pontifícia
Universidade Católica do Paraná – (Puc-Pr)
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
Abstract. This paper’s objective is to identify the opportunities of development
of strategic alliances through stakeholder analysis of the Ideal College, an
Undergraduate Institution that works in the Metropolitan Region of Belém
(Brazil), since the first semester of the 2000, and which today offer five
undergraduates programs for this region: Management, Accounting, Law,
Engineering and Pedagogy. For this, a quality-quantity case study was been
developed as a way to identify and classify its stakeholders, according to
Mitchell’s (1997) and Yoshino and Rangan’s (1996) methodology. Finally, was
been concluded that the Ideal College should be develop pre-competitive and
not-competitive strategic alliances with its definitive stakeholders, as a way to
improve its marketing competitiveness.
Key-words: Undergraduate Institutions (UI), strategic alliances, stakeholders
Resumo. O presente estudo tem como objetivo identificar as oportunidades de
desenvolvimento de alianças estratégicas a partir da analise dos stakeholders
da Faculdade Ideal, IES que atua na Região Metropolitana de Belém (Brasil),
desde o primeiro semestre do ano de 2000 e que, hoje, oferta cinco cursos
superiores para esta região: Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Engenharia Civil e Pedagogia. Para isso, um estudo de caso do tipo quali-
quantitativo foi desenvolvido de forma a identificar e classificar os seus
stakeholders, com base na metodologia de Mitchell (1997) e Yoshino e Rangan
(1996). Ao final deste estudo, chegou-se à conclusão de que a Faculdade Ideal
deve desenvolver alianças estratégicas do tipo pré-competitivas e não-
competitivas com seus stakeholders definitivos com o intuito de melhorar a sua
competitividade no mercado.
Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior (IES); alianças estratégicas,
stakeholders.

1. Introdução
O tema alianças estratégicas vem sendo muito discutido por estudiosos na área da
Administração em virtude da importância da cooperação resultante da intensificação dos
vínculos interempresas. Vários estudos foram realizados nos últimos anos para entender
como a formação de alianças entre empresas pode garantir a sobrevivência e
competitividade principalmente de empresas de pequeno e médio porte. Dentre eles
destacam-se os trabalhos de Eiriz (2001), Klotzle (2002), Forte (2003) e Nogueira & Forte
(2004), dentre outros.
A partir destes estudos, percebe-se que a capacidade de sobrevivência das
empresas em um mercado cada vez mais competitivo depende, em grande parte, da
formação de alianças estratégicas com parceiros potenciais. Em um mercado cada vez
mais instável e cheio de incertezas, já não basta que os dirigentes das organizações
encontrem meios de definir seus objetivos apenas a partir dos interesses e ponto de vista
dos proprietários ou acionistas controladores, mas devem levar em consideração também
as necessidades e perspectivas de seus stakeholders.
Neste sentido, compreende-se como stakeholder “qualquer grupo ou indivíduo
que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos organizacionais”
(FREEMAN, 1984, p.46, apud MITCHELL et al, 1997, p.854). Conseqüentemente, a
análise dos stakeholders de uma organização pode ser considerada uma importante
ferramenta na identificação dos parceiros potenciais para o desenvolvimento de alianças
estratégicas. Por outro lado, o universo das Instituições de Ensino superior (IES)
configura-se como uma excelente oportunidade de estudo quanto ao desenvolvimento de
alianças estratégicas a partir da análise de seus stakeholders em virtude do potencial que
estas têm em relação à geração e/ou difusão de conhecimento (capital intelectual), o que
pode ser muito favorável no momento de atrair parceiros potenciais para o
desenvolvimento de novas tecnologias.
Em face disso, o presente estudo busca identificar tais oportunidades de
desenvolvimento de alianças estratégicas a partir da análise dos stakeholders da
Faculdade Ideal (FACI), IES que vem desenvolvendo suas atividades na Região
Metropolitana de Belém, no Estado do Pará, desde o primeiro semestre do ano de 2000 e
que, hoje, oferta cinco cursos superiores para esta região: Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Pedagogia. Mais especificamente, buscou-se: (a)
identificar e classificar os stakeholders potenciais dessa organização; (b) identificar seus
parceiros potenciais para formação de alianças estratégicas; e, por fim, (c) identificar os
tipos de alianças estratégicas mais adequadas para essa IES. Sendo assim, a seguir, uma
breve revisão de literatura é realizada de forma a contextualizar o leitor quanto aos
conceitos relevantes à consecução destes objetivos.
2. Alianças Estratégicas
Até o início dos anos 80, as alianças estratégicas eram pouco difundidas e aconteciam em
número muito reduzido, uma vez que o contexto era outro e não se pensava em formação
de redes entre as empresas, mas sim, entendia-se que era de grande importância o
desenvolvimento verticalizado da organização (Porter, 1980) como forma de otimizar a
sua produtividade e margens de lucro. Hoje, a situação é bem diferente, pois o mundo
vive em constantes mudanças e para que as empresas aumentem suas perspectivas de
sobrevivência no mercado, torna-se cada vez mais importante o desenvolvimento de
alianças estratégicas.

Em Yoshino e Rangan (1996, p. 4), a “aliança estratégica é uma parceria
comercial que aumenta a eficácia das estratégias competitivas das organizações
participantes, proporcionando o intercâmbio mútuo e benéfico de tecnologias,
qualificações ou produtos baseados nestas”. De acordo com esses autores, é possível
classificar as alianças estratégicas, quanto ao seu tipo, com base em uma matriz que
relaciona conflito potencial e extensão da interação organizacional (Figura 1). Para isso,
observam-se os objetivos da aliança estratégica, os quais podem ser de:
1. Flexibilidade estratégica, considerada importante para a organização uma vez que
as empresas não devem se tornar muito dependentes da relação com uma
determinada empresa;
2. Proteção das competências vitais, que se trata de proteger o know-how que a
empresa possui, e assim buscar conservar as vantagens estratégicas que possui
para não perder o diferencial que a torna mais competitiva no mercado;
3. Aprendizado, objetivo fundamental para toda empresa que pretende desenvolver-
se e permanecer numa situação competitiva; e
4. Agregação de valor, que ocorre quando uma empresa consegue tirar mais valor de
uma atividade conjunta com outra organização do que se a realizasse sozinha.
FONTE: Yoshino e Rangan (1996, p. 19).
Figura 1 – Tipologia das alianças estratégicas, FONTE: Yoshino e Rangan (1996, p. 19).
As duas primeiras categorias de objetivos são consideradas defensivas, ou seja,
visam impedir a perda de eficiência da organização, e as duas últimas são consideradas
positivas, por estarem relacionadas com o aumento da eficiência organizacional.
Conforme Yoshino e Rangan (1996), a partir da construção da matriz entre essas
categorias é possível estabelecer níveis de: (a) conflito potencial, ou possibilidade de
haver conflito entre as empresas, podendo este conflito ser tanto de ordem tática quanto
de ordem estratégica, e (b) extensão da interação organizacional, ou seja, quanto ao
objetivo final de interação entre as empresas que pretendem se aliar. Consequentemente,
a relação entre o grau (alto ou baixo) de conflito potencial e o grau (alto ou baixo) de
extensão da interação organizacional forma quatro tipos possíveis de alianças
estratégicas, as quais podem ser denominadas de alianças pró-competitivas, não-
competitivas, competitivas e pré-competitivas.
As alianças pró-competitivas ocorrem, frequentemente, entre o mesmo ramo de
negócio e em cadeia vertical de valor. Nesse tipo de aliança estratégica, a interação entre
as empresas é baixa, contudo, elas tendem a não concorrer entre si, o potencial de conflito
é baixo, privilegiando, assim, os objetivos de conservar a flexibilidade estratégica e de
Alianças
pré-competitivas
Alianças
pró-competitivas
Alianças
Competitivas
Alianças
não-competitivas
Conflito potencial
Alto
Baixo Alto Extensão da integração organizacional

agregar valor, em vez dos objetivos de proteger as competências vitais e de aprendizado
Yoshino e Rangan (1996).
As alianças não-competitivas, por sua vez, ocorrem no mesmo ramo de negócio,
porém, ocorrem entre não-concorrentes. Tem-se um nível de interação alto nesse tipo de
aliança e, com isso, normalmente obtêm-se uma baixa manutenção das prioridades de
manutenção da flexibilidade e da proteção das competências vitais. Por outro lado, a
agregação de valor e, principalmente, o aprendizado apresentam maior importância com
relação ao objetivo estratégico das empresas-parceiras.
Já as alianças competitivas possuem um alto nível de interação organizacional,
uma vez que as parceiras unem esforços para realização de atividades. Como são
concorrentes diretos do produto final oferecido ao mercado, o vazamento de informações
é prejudicial para a empresa, o que leva à proteção das competências estratégicas vitais.
Enfim, as alianças pré-competitivas normalmente são constituídas pela união de
empresas de ramos de negócios diferentes com o objetivo de trabalharem em atividades
bem definidas, estabelecendo assim uma interação limitada entre elas. Essas empresas
tendem a formar alianças para a junção de conhecimento e esforços para o
desenvolvimento de novos produtos. O Quadro 1 resume o comportamento das empresas
constituintes de cada tipo de aliança estratégica quanto aos seus objetivos estratégicos e
importância relativa de cada tipo de aliança.
Tipo de Aliança Flexibilidade Proteção Vital Aprendizado Agregação de
valor
Pré-competitiva Muito Alta Alta Média Baixa
Competitiva Baixa Muito Alta Alta Média
Não-competitiva Média Baixa Muito Alta Alta
Pró-competitiva Alta Média Baixa Muito Alta
Quadro 1 – Importância relativa dos objetivos estratégicos nas alianças FONTE: Yoshino e Rangan (1996, p. 22).
3. Stackholders
Freeman et al (2002 apud Nogueira et al, 2003) explicam que o termo stakeholder
começou a ser utilizado no início dos anos 60, quando o Standford Research Institute
realizou um trabalho pioneiro sobre o assunto. A partir desse estudo verificou-se que a
necessidade de desenvolvimento de propostas de estratégias de negócios que
compreendessem não apenas as expectativas de seus acionistas, mas também de seus
funcionários, clientes, fornecedores, instituições financeiras e da comunidade envolvida.
Como conseqüência de um ambiente de mercado cada vez mais instável e cercado de
incertezas, torna-se imperativo que organizações definam seus objetivos não apenas a
partir do ponto de vista dos proprietários ou acionistas, controladores ou investidores (que
representam os stockholders ou shareholders), mas levando em consideração também os
interesses dos seus stakeholders.
É importante ressaltar que o processo de gerenciamento de stakeholders implica
não somente conhecer quem são as pessoas, grupos, instituições ou organizações que
podem afetar ou influenciar o cumprimento da missão da organização, mas, também,
definir a capacidade de influência que estes possuem sobre a mesma. Logo, para que as
organizações possam gerenciar a sua relação com os seus stakeholders faz-se necessário

que os identifique, o que nem sempre é fácil. Nesse sentido, Mitchell, Agle e Wood (1997)
propõem uma teoria de identificação de stakeholders que se baseia na reunião de certos
atributos que os atores, que afetam ou são afetados de alguma forma pela organização,
possuem. Para estes autores, stakeholders são atores (internos ou externos), que
influenciam ou são influenciados pelos objetivos ou resultados de uma dada organização
e que possuem pelo menos um dos três atributos básicos, que são: poder, legitimidade e
urgência. Aqueles que não possuem nenhum desses atributos não são considerados
stakeholders.
Assim, segundo Nogueira et al (2003), o atributo poder é explicado pelas variáveis
definidoras dos recursos coercitivos (força física e armas), dos recursos utilitários
(tecnologia, dinheiro, conhecimento, logística, e matérias-primas) e dos recursos
simbólicos (prestígio, estima e carinho); já o atributo legitimidade é expresso pelo desejo
das ações pela sociedade e o atributo urgência é avaliado em razão das pressões de tempo
e da criticidade das demandas da ação em questão. A Figura 2 representa a classificação
dos stakeholders proposta por Mitchell et al (1997), com base nas categorias de atributos
por eles definidas.
Figura 2 – Legitimidade, poder e urgência Fonte: Mitchell et al (1997).
A classificação funciona da seguinte forma: o ator que não possui nenhum dos
atributos é considerado um não-stakeholder; o ator que possui um atributo é considerado
um stakeholder LATENTE, que pode ser do tipo adormecido (poder), discricionário
(legitimidade) ou exigente (urgência); o ator que possui dois atributos é considerado um
stakeholder EXPECTANTE, que pode ser do tipo dominante (poder + legitimidade),
perigoso (poder + urgência), ou dependente (legitimidade + urgência); e aquele ator que
possui os três atributos é considerado um stakeholder DEFINITIVO. Este último é o mais
relevante, já que consegue reunir os três atributos e impõe, por isso, seus interesses sobre
os demais.
4. Metodologia da Pesquisa
O tipo de pesquisa utilizado para realizar este estudo é do tipo quali-quantitativo e de
cunho exploratório, uma vez que esse tema de pesquisa – identificação dos stakeholders
de IES para formação de alianças estratégicas – ainda é incipiente no Brasil. Contudo, na
medida em que se desenvolve, assume aspectos de pesquisa descritiva, pois descreve o
perfil dos stakeholders da IES analisada, e de uma pesquisa explicativa, na medida em
que compreende o porquê da formação de alianças estratégicas com determinados
stakeholders e de que modo estes poderão proporcionar aumento da competitividade da

IES no seu ambiente de mercado. Esta afirmação pode ser fundamentada com base em
Yin (2005): (...) é provável que qualquer estudo empírico novo caracterize-se como sendo um estudo ‘exploratório’(...) mesmo um estudo exploratório deve ser precedido por afirmações sobre: o que será explorado, o propósito da exploração e os critérios através dos quais se julgará a exploração como bem-sucedida. (...) a teoria pode ser descritiva (...), e seu interesse deve se voltar a questões do tipo: o propósito do trabalho descritivo, a ampla, porém realista, variedade de tópicos que podem ser considerados uma descrição ‘completa’ do que está sendo estudado, o (s) provável (is) tópico (s) que será (ão) a essência da descrição.
Quanto à estratégia de pesquisa utilizada para a realização deste trabalho, adotou-
se o estudo de caso que, como define Yin (2005, p.26), “é a estratégia escolhida ao se
examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se pode manipular
comportamentos relevantes”. Logo, o estudo de caso foi a estratégia de pesquisa
escolhida, pois trabalhou-se com assuntos que estão ganhado maior reconhecimento no
mercado recentemente, de forma a interligar esses dois assuntos e aplicar-se em uma
Instituição de Ensino Superior particular, afim de propor formação de alianças
estratégicas entre a instituição de ensino e seus stakeholders, através da análise dos
mesmos.
A unidade de análise desta pesquisa é a Faculdade Ideal, que se caracteriza por
ser uma IES em proeminência na região metropolitana de Belém, Pará, que tem como
missão “educar para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia, estando
comprometida com sua viabilização econômica, ambientalmente segura e socialmente
justa, calcada em ampla disseminação de valores éticos e de cidadania” (FACI, 2006)
Quanto ao processo de coleta de dados, inicialmente realizou-se uma pesquisa a
partir de documentos pertencentes à IES que continham os componentes do corpo
diretivo, coordenadores de curso, missão da faculdade, os cursos de graduação oferecidos
e as coordenadorias da FACI. Esta etapa da pesquisa visou a obter maior conhecimento
acerca da unidade de estudo de caso analisada. Da mesma forma, a pesquisa documental
possibilitou que se definisse melhor a questão de pesquisa, assim como, os seus objetivos
e metodologia.
Em um segundo momento, para identificação inicial dos stakeholders da FACI,
optou-se por uma amostra por conveniência, tomando como critério de escolha o universo
dos atores-chave no processo decisório no âmbito da IES analisada, ou seja, os ocupantes
de cargos de direção da faculdade, além dos coordenadores e dos professores mais antigos
na instituição, os quais possuem certo grau de influência nas decisões em nível
institucional. Definidos os atores a serem respondentes, foram agendados data e horário
com esses atores para a realização das entrevistas. Dessa forma, foram entrevistados, no
período de 26 a 30 de setembro de 2005, 18 (dezoito) colaboradores que trabalham junto
à Faculdade Ideal, incluindo o seu Diretor Geral, a Diretora Acadêmica, o Chefe do Setor
Financeiro, Coordenadores de Cursos, Professores e Gestores das coordenadorias da
Faculdade.
Durante as entrevistas, foram aplicados questionários semi-estruturados com
questões abertas, incitando os respondentes a discernir sobre o histórico da IES, assim
como sobre os eventos mais importantes ou que causaram maior impacto na vida da
Instituição. No momento da entrevista, solicitou-se permissão para todos os respondentes

para que esta fosse gravada, o que facilitou muito no momento de se listarem os
stakeholders e para a posterior estruturação de um protocolo de estudo de caso. Dessa
forma, a compilação dos atores citados pelos respondentes durante as suas narrativas,
possibilitou uma listagem inicial de 52 (cinqüenta e dois) stakeholders relacionados ao
ambiente da IES; depois, estes stakeholders foram agrupados em 21 categorias. Por fim,
identificados e categorizados os stakeholders da unidade de análise estudada, foi possível
desenvolver um protocolo de estudo de caso (YIN, 2005), com o objetivo de mensurá-los
e classificá-los com base na tipologia de Mitchell et al (1997) e nos trabalhos
desenvolvidos por Almeida, Martins e Fontes Filho (1999).
Em um segundo momento, realizou-se a aplicação de um protocolo de estudo de
caso contendo questionários fechados e estruturados de forma a mensurar os graus de
legitimidade, poder e urgência dos stakeholders identificados. Para isso, manteve-se a
mesma amostra por conveniência das entrevistas anteriores. Portanto, este protocolo, que
foi aplicado no período de 21 de outubro a 01 de novembro de 2005, apresenta-se
estruturado em três partes. A primeira parte consiste na introdução que explica o objetivo
do questionário, como ele é constituído e o tempo aproximado para a realização do
mesmo; na segunda parte, é apresentada a lista de stakeholders categorizada; e na terceira
parte, constituída por 3 (três) questionários, mede o grau de poder, de legitimidade e de
urgência, sendo que, no início de cada um deles, encontrava-se uma explicação de como
preenchê-los.
O tratamento dos dados se deu com base em duas metodologias. Primeiramente,
na análise dos stakeholders da IES estudada, utilizou-se a metodologia proposta por
Almeida, Martins e Fontes Filho (1999) que, por sua vez, baseia-se na tipologia de
Mitchell et al (1997), para identificação e categorização dos stakeholders com base em
seus graus de poder, legitimidade e urgência. Em um segundo momento, para identificar
os tipos de alianças estratégicas mais adequadas para a IES analisada, foi utilizada a
metodologia proposta por Yoshino e Rangan (1996).
5. Resultados
A análise dos dados deste estudo foi dividida em duas etapas. A primeira consiste
na análise dos stakeholders; a segunda trata da formação de alianças estratégicas.
5.1 Análise dos stakeholders
A utilização da tipologia de Mitchell et al para classificar e priorizar os stakeholders da
IES sob análise foi de extrema importância para a realização deste trabalho, já que
possibilitou melhor compreensão de quais os tipos de stakeholders que a Faculdade possui
e quais devem ter as suas necessidades atendidas prioritariamente.
O Gráfico 1 e o Quadro 2 sintetizam a avaliação dos stakeholders. Percebe-se que
os respondentes indicaram que apenas 10 (dez) atores possuem grau de legitimidade
acima do ponto de corte (k = 1), demonstrando a desejabilidade das ações desses
stakeholders para a IES e para a sociedade, além de expressar o grau de importância do
relacionamento com a faculdade.
Quanto ao atributo urgência, os respondentes indicaram que apenas 12 (doze)
atores possuem grau acima do ponto de corte, demonstrando assim o alto grau de
exigência desses atores em não aceitar atrasos gerenciais, por parte da faculdade, para o

atendimento das suas demandas. Em relação ao grau de poder, apenas 11 (onze) atores na
opinião dos respondentes, detêm uma quantidade significativa de recursos, sendo,
portanto, detentores de poder.
Gráfico 1 – Avaliação dos Stakeholders
Fonte: Baseado em dados primários
Quadro 2 – Avaliação dos Stakeholders
Stakeholders
Grau de
Poder
Normalizado
(GPN)
Grau de
Legitimidade
Normalizado
(GLN)
Grau de
Urgência
Normalizado
(GUN)
Índice
De
Preponderância
(IP)
Alunos (Clientes) 0,96 0,98 1,04 0,98
Centros e Instituições de pesquisa 1,16 1,03 0,99
1,18
Colaboradores (exceto professores) 0,97 0,89 0,95
0,83
Comunidade Acadêmica 1,01 0,99 1,05
1,05
Concorrentes 0,97 0,84 0,97 0,79
Clientes Institucionais 1,05 1,07 1,07
1,21
Empresas do Terceiro Setor 0,86 0,85 0,75
0,55
Fornecedores 0,93 0,91 0,92 0,78
Fundação Getúlio Vargas – FGV 1,20 1,02 1,03
1,26
Governo 1,03 0,98 1,04 1,05
Instituições Financeiras 1,13 0,95 1,05
1,14
MEC 1,19 1,21 1,20 1,74
Mídia 1,04 1,10 1,05 1,21
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stakeholders
Val
or
do
Gra
u
No
rmal
izad
o
Grau de Poder Normalizado Grau de Legitimidade Normalizado Grau de Urgência Normalizado

Outras IES (Parceiras) 0,86 0,89 0,91
0,70
Parceiros da Central de Estágio 0,86 1,06 0,92
0,84
Parceiros Técnico-científicos 1,04 1,07 1,00
1,12
Professores 0,98 1,12 1,04 1,14
Proprietários 1,06 1,07 1,16 1,32
SEBRAE 0,96 0,87 0,87 0,72
Sindicatos e Associações de Classes 0,70 0,85 0,88
0,52
Sociedade 1,02 1,21 1,07 1,33
FONTE: Baseado em dados primários
Apresentam-se a seguir os gráficos dos graus de poder, legitimidade e urgência
separadamente, para que possam ser melhor visualizados e analisados. O stakeholder que
apresentou maior grau de poder foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV), k = 1,20, e o que
apresentou menor grau de poder foram os sindicatos e associações de classe, k = 0,70,
conforme mostra o Gráfico 2.
Gráfico 2 – Avaliação do Grau de Poder dos Stakeholders
Fonte: Baseado em dados primários
Com relação à legitimidade (Gráfico 3), o MEC e a sociedade (k = 1,21) foram os
stakeholders que se destacaram com relação a este atributo. Os concorrentes (k = 0,84)
foram os que apresentaram menor grau de legitimidade.
Gráfico 3 – Avaliação do Grau de Legitimidade dos Stakeholders
Fonte: Baseado em dados primários
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stakeholders
Valo
r do
Grau
Nora
mliz
ado
Grau de Poder Normalizado
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stakeholders
Valo
r do
Grau
Norm
aliz
ado
Grau de Legitimidade Normalizado

O gráfico de urgência (Gráfico 4) mostra que as empresas do terceiro setor apresentaram o valor de k = 0,75, sendo este o menor grau deste atributo; o MEC, com k = 1,20, foi considerado o ator com maior grau de urgência.
Gráfico 4 – Avaliação do Grau de Urgência
Fonte: Baseado em dados primários
Através do ponto de corte realizou-se a análise dos stakeholders, considerando
todos os valores menores, maiores ou iguais a k, que culminou no Quadro 3. Os resultados
mostram que os Clientes Institucionais, a Fundação Getúlio Vargas, o MEC, a Mídia, os
Parceiros Técnico-científicos, os Proprietários e a Sociedade; apresentam os graus de
poder, legitimidade e urgência maiores ou iguais ao ponto de corte, assim são
classificados como stakeholders definitivos, a partir da tipologia de Mitchell et al. Dentre
estes stakeholders, o que possui maior poder, segundo os respondentes, é a Fundação
Getúlio Vargas; por outro lado o MEC é o ator que possui maior legitimidade e urgência
segundo, uma vez que é o responsável pela regulamentação e fiscalização na área de
ensino.
Os professores foram considerados stakeholders dependentes, pois possuem k >
1 em relação aos graus de legitimidade e urgência, mas k 1 em poder. A comunidade
acadêmica, o Governo e as Instituições Financeiras foram classificados como
stakeholders perigosos, já que possuem os graus de poder e urgência acima de k e
legitimidade menor que k. Os Centros e Instituições de Pesquisa representam os
stakeholders dominantes da FACI, apresentando graus de poder e legitimidade acima do
ponto de corte, mas urgência abaixo deste ponto.
Dentre os stakeholders que apresentam apenas um atributos acima do ponto de
corte estão os alunos (clientes), classificados como stakeholders exigentes, pois possuem
apenas o atributo urgência acima de k; os Parceiros da central de estágio apresentaram
apenas o grau de legitimidade acima de k, sendo, portanto, stakeholders discricionários;
e os colaboradores, os concorrentes, as empresas do terceiro setor, os fornecedores, as
outras IES (parceiras), o SEBRAE e os sindicatos e associações de classe foram
classificados como não-stakeholders, pois não apresentam nenhum grau acima do ponto
de corte (k = 1).
Dos sete tipos de stakeholders (classificados por MITCHELL et al, 1997), a IES
possui 6 tipos, faltando-lhe apenas o tipo adormecido, que é aquele stakeholder que
possui apenas o grau de poder acima do ponto de corte.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stakeholders
Valo
r do
Grau
Norm
aliza
do
Grau de Urgência Normalizado

Quadro 3 – Classificação dos Stakeholders da IES
Stakeholders Grau de Poder
Grau de
Legitimidade
Grau de
Urgência Classificação
Clientes Institucionais k k k Definitivo
FGV k k k Definitivo
MEC k k k Definitivo
Mídia k k k Definitivo
Parceiros Técnico-científicos k k k Definitivo
Proprietários k k k Definitivo
Sociedade k k k Definitivo
Professores 1 k k Dependente
Comunidade Acadêmica k 1 k Perigoso
Governo k 1 k Perigoso
Instituições Financeiras k 1 k Perigoso
Centros e Instituições de Pesquisa k k 1 Dominante
Alunos (Clientes) 1 1 k Exigente
Parceiros da Central de Estágio 1 k 1 Discricionário
Colaboradores (exceto professores) 1 1 1 Não -Stakeholder
Concorrentes 1 1 1 Não –Stakeholder
Empresas do Terceiro Setor 1 1 1 Não –Stakeholder
Fornecedores 1 1 1 Não –Stakeholder
Outras IES (Parceiras) 1 1 1 Não –Stakeholder
SEBRAE 1 1 1 Não –Stakeholder
Sindicatos e Associações de Classe 1 1 1 Não -Stakeholder
Fonte: Baseado em dados primários
6. Formação de Alianças Estratégicas
Com base na classificação de Mitchell, a segunda parte desta análise compreende
a possibilidade de formação de alianças estratégicas entre a IES sob análise e os seus
stakeholders considerados definitivos. Porém, é importante ressaltar que, dentre os atores
classificados como definitivos, encontram-se o MEC e a sociedade, os quais não podem
ser enquadrados para a formação de aliança estratégica devido as suas características. No
entanto, os demais (clientes institucionais, parceiros técnico-cientificos, Fundação
Getúlio Vargas, outras IES e parceiros da central de estágio) apresentam-se como
parceiros potenciais para a formação de alianças estratégicas, já que são instituições que
poderão acrescer inúmeros benefícios para a IES através do estabelecimento de relações
mais intensas. A seguir, apresentam-se as características que viabilizam à IES estabelecer
alianças estratégicas com estes stakeholders:

a) Clientes Institucionais
Representados pelos Correios, Banco do Brasil, Associação Comercial de
Abaetetuba, Associação Comercial do Pará, CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) e
COESA (Cooperativa de crédito dos servidores da Assembléia Legislativa de Belém).
Essa categoria é formada por empresas clientes da Escola de Extensão da IES, que oferece
cursos de capacitação profissional.
b) Fundação Getúlio Vargas (FGV)
A FGV é uma fundação que possui grande reconhecimento no mercado nacional
na área do ensino superior, em relação a cursos de graduação e pós-graduação.
Atualmente, está atuando em parceria com a IES aqui estudada, oferecendo cursos de pós-
graduação (lato sensu) na área de administração, jornalismo e direito. A partir do primeiro
semestre de 2006 realizou uma nova parceria com a faculdade referente a certificação de
qualidade no curso de graduação em Administração.
c) Parceiros Técnico-Científicos
Os parceiros técnico-científicos citados foram a Companhia Vale do Rio Doce,
Albrás, Alunorte, Eletronorte, Rede Celpa, Câmara do Comércio, Federação das
Indústrias do Pará e Organização das Cooperativas Brasileiras do Pará. Em relação a estes
stakeholders, pode-se dizer que possuem grande prestígio em âmbito regional, nacional
e, alguns, até em âmbito internacional, como é o caso dos três primeiros. Alguns já
possuem parceria com a IES, através do curso de Engenharia, como por exemplo, a
Companhia Vale do Rio Doce. Porém, as parcerias existentes não são sólidas o suficiente;
trariam melhores resultados se fossem constituídas alianças de longo prazo com estes
atores.
Em relação à tipologia das alianças estratégicas, baseou-se na classificação
proposta por Yoshino e Rangan (1996). De acordo com essa tipologia, existem quatro
tipos de alianças estratégicas: pré-competitivas, pró-competitivas, competitivas e não-
competitivas. A Fundação Getúlio Vargas é o stakeholder da FACI que se configura como
parceiro potencial para a formação de aliança do tipo não-competitiva. As razões são que
não há uma postura de competição entre eles, ou seja, não são concorrentes diretos, e
podem realizar um trabalho conjunto baseando-se em um compromisso de esforço e de
tempo, o que proporcionaria uma maior ênfase no objetivo de aprendizagem. Portanto,
por meio dessa aliança as organizações parceiras teriam como objetivo estratégico
aumentar o seu know-how e agregar maior valor à organização.
Nessa aliança estratégica, dois objetivos que não ganhariam muita importância
seriam a flexibilidade e a proteção das competências vitais. O fundamento disso é que as
organizações acabariam dando uma maior importância a essa relação e acabariam
deixando com que algumas informações de uma passassem ao conhecimento da outra,
devido ao nível de interação necessário entre elas para fazer funcionar a contento a
aliança.
Os parceiros técnico-científicos e os clientes institucionais da IES necessitam
continuamente do desenvolvimento de novas tecnologias e do desenvolvimento das
habilidades de seus colaboradores, uma vez que alguns deles não possuem as
competências necessárias para o desenvolvimento de tais atividades. Como conseqüência,
esta é uma oportunidade de desenvolvimento de aliança estratégica entre estes

stakeholders e a IES, pois a organização sob análise possui competência para realizar tais
atividades ao envolver seus professores e alunos e propiciar, dessa forma,
desenvolvimento de capacidades docentes e discentes, além de agregar valor aos
resultados institucionais da IES. O tipo de aliança mais adequado seria a do tipo pré-
competitiva, pois as empresas trabalham em ramos de negócios diferentes e, portanto, não
são concorrentes. Além disso, as atividades pelas quais poderiam ser realizadas as
alianças exigem precisão na definição, o que faz com que haja um esforço conjunto no
desenvolvimento do produto / serviço.
7. Conclusão
Este estudo mostrou que há três grupos de stakeholders capazes de estruturar alianças
estratégicas com uma Instituição de Ensino Superior paraense: aos grupos Clientes
Institucionais e Parceiros Técnico-Científicos recomendam-se alianças pré-competitivas;
para com a Fundação Getúlio Vargas, a aliança estratégica mais indicada é a pró-
competitiva, segundo a tipologia de Mitchell et al. Esses grupos representam os parceiros
potenciais para a formação de alianças estratégicas, ou seja, aqueles que são detentores
de potencialidades que poderão resultar em maior competitividade, caso haja efetiva
formalização dessas alianças.
Dentre estes 21 stakeholders levantados neste estudo, apenas sete (Clientes
institucionais, Fundação Getúlio Vargas-FGV, MEC, Mídia, Parceiros técnico-
científicos, Proprietários e a Sociedade) foram considerados definitivos para a instituição.
Professores foram enquadrados como stakeholders dependentes; a comunidade
acadêmica, o Governo e as Instituições Financeiras foram classificados como
stakeholders perigosos; os Centros e Instituições de Pesquisa representam os
stakeholders dominantes da; os alunos classificam-se como stakeholders exigentes; e os
Parceiros da Central de Estágio foram considerados stakeholders discricionários. Os
colaboradores, os concorrentes, as empresas do terceiro setor, os fornecedores, as outras
IES (parceiras), o SEBRAE e os sindicatos e associações de classe são classificados como
stakeholders irrelevantes. As expectativas dos stakeholders definitivos devem ser
atendidas de forma prioritária já que estes têm um grande poder de influência sobre a
organização.
Com relação aos alunos, aos professores e aos colaboradores, mesmo não sendo
classificados como stakeholders definitivos, verificou-se que são fundamentais para o
desenvolvimento da faculdade; os outros atores que merecem atenção da instituição de
ensino são as empresas do terceiro setor, principalmente para que a IES possa alcançar a
sua missão, centrada na promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Dentre os stakeholders definitivos, apenas três (Clientes Institucionais, Fundação
GetúlioVargas e Parceiros Técnico-Cientificos) apresentam características que os
identificam como parceiros potenciais para a formação de alianças estratégicas. A
Fundação Getúlio Vargas é um stakeholder que se configura como parceiro potencial para
a formação de aliança do tipo não-competitiva.Através dessa aliança as organizações
parceiras teriam como objetivo estratégico aumentar o seu know-how e agregar maior
valor à organização, apesar de não ganhar em flexibilidade e a proteção das competências
vitais, devido o nível de interação exigido entre elas. Os Clientes Institucionais e os
Parceiros Técnico-Científicos da Faculdade Ideal necessitam continuamente do
desenvolvimento de novas tecnologias e do desenvolvimento das habilidades de seus
colaboradores. O tipo de aliança mais adequado é a do tipo pré-competitiva, pois as

organizações trabalham em ramos de negócios diferentes, não sendo concorrentes.
Finalmente, algumas sugestões de trabalhos futuros que complementariam esta
pesquisa seriam o estudo das etapas do processo de formação das alianças estratégicas; o
estudo do gerenciamento das alianças estratégicas; e um possível estudo em relação à
possibilidade de formação de redes estratégicas a partir da análise dos stakeholders de
uma organização. Isso proporcionaria o aprofundamento necessário para a compreensão
dos fenômenos das alianças estratégicas e dos stakeholders no processo de planejamento
e gestão de organizações, especialmente na região amazônica.
8. Bibliografia
ALMEIDA, Geraldo Sardinha; FONTES FILHO, Joaquim Rubens; MARTINS,
Humberto Falcão. Identificando stakeholders para formulação de estratégias
organizacionais. Anais... Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em
Administração, 2000.
EIRIZ, Vasco. Proposta de tipologia sobre alianças estratégicas. Revista de
Administração Contemporânea, v. 5, n. 2, p. 65-90, mai./ago. 2001.
FORTE, Sérgio Henrique Arruda Cavalcante. Parcerias e alianças estratégicas:
classificação e gerenciamento. Um estudo de caso em um programa oficial regional.
Revista Eletrônica de Administração, ed. 35, v. 9, n. 5, p.1-19, set./out. 2003.
GARCIAS, Paulo Mello. A lógica de formação de grupos e aliança estratégica de
empresas. <www.fearp.usp.br/egna/resumos/Garcias.pdf>, 2001.
KLOTZLE, Marcelo Cabus. Alianças estratégicas: conceitos e teoria. Revista de
Administração Contemporânea, v. 6, n. 1, p. 85-104, jan./abr. 2002.
LORANGE, Peter; ROOS, Johan. Alianças estratégicas: formação, implementação e
evolução. São Paulo: Atlas, 1996.
MARTINS, Humberto Falcão; FONTES FILHO, Joaquim Rubens. Foco em quem?
identificando stakeholders para formulação da missão organizacional. Revista Del Clad
Reforma y Democracia, n. 15, out. 1999. Disponível em:
<http://www.ebape.fgv.br/academico/ asp/dsp_professor.asp?cd_pro=1460 - 24k>.
Acesso em 14/08/2005.
MITCHELL, Ronald; AGLE, Bradley R.; WOOD, Donna J. Toward a theory of
stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really
counts. Academy of Management Review, v. 22, n. 4, 1997.
NOGUEIRA, Eveline Maria de Melo Morel; FARIAS, Iracema Quintino Farias; FORTE,
Sérgio Henrique Arruda Cavalcante. Identificando e categorizando stakeholders em uma
instituição financeira, 2003. Disponível em:
<http://www.fgvsp.br/iberoamerican/Papers/0277_ACF4DC.pdf.>. Acesso em
14/08/2005.
NOGUEIRA, Eveline Maria de Melo; FORTE, Sérgio Henrique Arruda Cavalcante.
Alianças estratégicas entre universidades e empresas: um estudo de caso em
universidades cearenses. Revista Angrad, Salvador, v. 5, n. 3, p. 55-77, jul./set. 2004.
NOLETO, Marlova Jovchelovitch. Parcerias e alianças estratégicas: uma abordagem
prática. São Paulo: Global, 2000.

TAUHATA, Tatiana L.; MACEDO-SOARES, T.Diana L. V. A. de. Redes e Alianças
Estratégicas no Brasil: caso CVRD. RAE-eletronica, v. 3, n. 4, jan./jun. 2004. Disponível
em <www.rae.com.br/eletronica>. Acesso em 16 de outubro de 2005.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman,
2005.
YOSHINO, Michael Y.; RANGAN, U. Srinivasa. Alianças estratégicas: uma abordagem
empresarial à globalização. São Paulo: Makron Books, 1996.

As contradições do discurso moderno de cidadania.
Jorge Alberto Ramos Sarmento1
1Faculdade Ideal –(FACI)
Belém – PA – Brasil
1Professor do Curso Direito – Faculdade Ideal (FACI)
Abstract. This paper seeks to present, although it very briefly, the way in which
the idea of citizenship shall be considered in the design of the main theorists of
political and legal modernity, taking into account the way in spite of these
discourses seek support analysis and resolution of problems and difficulties
presented in the modern social order, they present paradoxical character,
especially the speeches accordingly Marxist and Kantian taken in this work as
an example of the contradictions and ambiguities characteristics of a complex
period.
Key words: Modernity. Citizenship. Modern trough
Resumo. Este O presente trabalho procura apresentar, embora que de forma
muito resumida, a maneira através da qual a ideia de cidadania passa a ser
pensada na concepção dos principais teóricos do pensamento político e jurídico
da Modernidade, levando-se em conta a maneira como apesar desses discursos
procurarem fundamentar análises e resolução dos problemas e dificuldades
apresentadas na ordem social moderna, os mesmos apresentam caráter
paradoxal, destacando-se nesse sentido os discursos marxista e kantiano
tomados no presente trabalho como exemplo das contradições e ambiguidades
características de um período complexo.
Palavras Chaves: Modernidade. Cidadania. Pensamento moderno
1. Introdução
Considerando que a formulação do conceito de cidadania encontra-se vinculado ao
fenômeno da modernidade, é de fundamental importância procedermos uma análise,
ainda que de forma elementar, na doutrina desenvolvida pelos teóricos considerados os
precursores do pensamento moderno, cujas abordagens passam a expressar um espírito
renovador de igualdade e liberdade, na medida em que suas concepções passaram a
fundamentar e por assim dizer, legitimar as bases da nova ordem política social e
econômica das sociedades modernas. Um traço marcante e comum a esses intelectuais
que se situam na corrente de pensamento iluminista é justamente uma contraposição à
visão de mundo feudal, através da elaboração de um estado natural onde todos os homens
nascem livres e com direitos, destacando-se aqui que a própria concepção de direitos
humanos encontra-se vinculada à luta da burguesia e do resto do terceiro estado, no caso,
os camponeses, artesãos e o “povo”, desencadeando-se através dessa luta diferentes
práticas e ideias.
Na medida em que o terceiro estado passa a entender esses direitos como
extensivos tanto aos proprietários como aos não-proprietários, a burguesia, ao se

estabelecer com classe hegemônica deixa de encarnar um papel revolucionário,
vinculando a ideia de direitos humanos de forma particular aos que possuem
propriedades, determinando dessa forma uma visão de cidadania eminentemente formal,
mais voltada para o caráter da dominação, levando-se em conta que a percepção de
direitos não se estabelece de forma qualitativa e quantitativa a todos os indivíduos
integrantes de determinada sociedade. É nessa perspectiva que o pensamento dos teóricos
contratualistas como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau entre outros,
passam a expressar os princípios básicos do novo modelo de sociedade, cuja síntese mais
elaborada na forma de uma proposta teórica pode ser encontrada na concepção de
Immanuel Kant, na afirmação dos ideais liberais e cuja contraposição se estabelece no
pensamento de Karl Marx. Esses dois teóricos em particular nos fornecem em suas
concepções, um bom exemplo a respeito das contradições existentes nos discursos da
modernidade ao mesmo tempo em que passam a exteriorizar perspectivas diferentes
acerca da percepção do fenômeno da cidadania, elemento importante para o
estabelecimento da integração e coesão nas sociedades.
2. Hobbes e a nova ordem humana: a geometria como referência
Ocupando um lugar de referência e destaque na formulação da nova ordem moderna
encontramos Thomas Hobbes (1588-1679), cuja concepção acerca da natureza humana,
do comportamento dos indivíduos e das relações que os indivíduos estabelecem entre si,
veio apresentar um novo panorama no qual se deslumbra uma nova modalidade de
igualitarismo, talvez a tese mais importante desenvolvida por Hobbes, e que tem
profundas implicações para o conceito de cidadania.
Na concepção hobbesiana a igualdade não mais se refere aquela dos homens
perante o tribunal divino, tal qual defendida pelo pensamento cristão na Idade Média, mas
como o próprio Hobbes afirma “todos os homens são naturalmente iguais”, cuja prova
físico-mecânica encontra-se no fato de que todos os homens têm a capacidade igual de se
matar uns aos outros, até mesmo o mais fraco é dotado de força suficiente para matar
outro mais forte do que ele, seja porque recorre a uma “maquinação secreta”, seja porque
ele “se alia a outros que estejam correndo o mesmo perigo que ele”.
A nova ordem estabelecida pela moral geométrica (porque fundamentada no
modelo mecânico de Galileu) de Hobbes é, sobretudo, uma ordem humana, fundamentada
na celebração de um pacto social que passa a dar assentimento a figura do Estado, cujo
poder soberano é idealizada na figura do mostro bíblico Leviatã, o qual pelo poder que
lhe foi atribuído por cada um e todos os indivíduos, passa a ser a instituição capaz de
garantir a paz, a segurança e o bem-estar de todos.
(...) Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira
unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um
pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como
se cada homem dissesse a cada homem: Cedo e transfiro meu direito
de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de
homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando
de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão
assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É esta
a geração daquele grande Leviatã , ou antes (para falar em termos mais
reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus
Imortal, nossa paz e defesa (HOBBES, 1983).
Hobbes (1983) começa a delinear uma idéia de cidadania a qual se encontra
vinculada à própria renúncia do poder individual, renuncia essa relacionada aos direitos

e garantias que o indivíduo possuía no estado de natureza, e que em função do pacto social
são transferidos ao Estado. E é precisamente a partir desse referencial que a concepção
hobesiana adquire um sentido muito particular na medida em que o conceito de cidadão
passa a se articular com a noção de Estado, sociedade civil e contrato social.
As implicações mais profundas dessas teses de Hobbes referem-se ao rompimento
radical da concepção tradicional de uma sociedade hierarquizada e fundamentada em
categorias e diferenças tão valorizadas pelo pensamento antigo e medieval e cujas bases
teóricas remontam a tradição helênica, em particular as concepções platônicas e
aristotélicas, as quais durante séculos exerceram forte influencia no pensamento
ocidental, e que serviram de inspiração para uma linha de pensadores desde a antiguidade
até os tempos modernos, de Santo Agostinho (Cidade de Deus) a Tommaso Campanella
(Cidade do Sol) e Thomas Morus (Utopia), entre outros, onde o a concepção idealista e
ética eram tomados como referência para o estabelecimento de uma ordem social perfeita.
A partir da concepção de Hobbes (1983) essa visão passa a ser reformulada, adquirindo
um caráter laico e mais realista, porque fundado numa visão mecânica de mundo.
Para Hobbes, o homem em seu estado natural encontra-se em permanente conflito
com seus semelhantes, consequência do próprio comportamento do homem, o qual possui
como princípios a liberdade individual e o poder de tomar suas próprias decisões,
originando com isso a violência, as guerras e a morte.
Para Hobbes, a ideia de cidadão define o indivíduo que vive na cidade e que deve
obediência ao Estado e as leis dele oriundas. Esse cidadão tem a obrigação de obedecer
às leis do governo, na medida em que ele, assim como todos os cidadãos concordaram,
através do contrato social, em desistir de ser juiz em seu próprio caso. A celebração do
contrato obriga, pois o cidadão a uma obediência absoluta em relação ao soberano, pouco
importando se as normas emanadas desse poder refletem o certo ou o errado, o justo ou o
injusto, tendo em vista a obrigatoriedade do atendimento às leis por parte dos cidadãos.
E precisamente neste aspecto, Hobbes (1983) estabelece algumas razões que justificam
esse fato. Em primeiro lugar torna-se necessário o atendimento ao acordo estabelecido no
contrato, pelo qual todos concederam um poder absoluto ao Estado, cabendo aos cidadãos
a obrigação moral de cumprir o que foi acordado. Em segundo lugar surge a questão
relacionada ao auto-interesse, que reflete as disposições e as razões das pessoas em
obedecer ao Estado, não havendo por parte desse último a necessidade de impor. Por
último, Hobbes cita o medo da punição, através do qual o Estado pode aplicar a lei através
do uso da punição, em função dos cidadãos terem dado tal consentimento quando do
estabelecimento do contrato.
Hobbes aponta para o poder absoluto do Estado como pressuposto capaz de criar
apenas boas leis, sendo este um argumento convincente para que todos os cidadãos
obedeçam às leis emanadas do Estado.
No que concerne ao individualismo, princípio importante do liberalismo moderno,
ressalta-se que Hobbes desenvolve uma concepção antropológica de caráter estritamente
individualista, na medida em que o conhecimento da natureza humana implica no
conhecimento do homem enquanto individuo portador das forças através das quais será
possível um trabalho de síntese que permita inferir a pluralidade das individualidades.
Apesar de se deparar com uma série de dificuldades, as quais serão tratadas
por teóricos posteriores, Hobbes (1983) esforça-se em demonstrar através de seu sistema
geométrico que toda a problemática do poder encontra seus princípios assentados na
questão do individualismo, proporcionando dessa forma, um dos elementos mais
importante para o direito político moderno, através da qual se procura entender que se a

unidade da vontade comum é que dá sentido ao Estado, não se pode esquecer que está no
individuo a origem de todo o poder.
Outra categoria importante do liberalismo moderno no pensamento de Hobbes, a
questão do universalismo é formulada de maneira particular através da formulação da
hipótese do contrato social, onde a força da razão se apresenta como capaz de
proporcionar a passagem do “estado de natureza” para o Estado. E é justamente neste
ponto que se torna evidente a presença de uma razão universal, como a força motivadora
da paz que se encontra assentada em um processo de autorização. Em outras palavras, o
estabelecimento de uma ordem universal surge como pressuposto necessário ao pleno
desenvolvimento do processo de acumulação de riquezas através da substituição da razão
privada, por uma razão fundamentada em uma moral universal, capaz de conter os
requisitos necessários ao modelo capitalista em formação, onde a unificação se torna
imprescindível a existência das nações, em contraposição a descentralização do antigo
modelo, e onde a universalidade de se estabelecer normas e valores é um requisito
necessário.
3. Locke: a cidadania pensada a partir do novo modelo liberal
Não menos importante que a concepção de Hobbes, destacam-se na tradição do
pensamento moderno as ideias de John Locke (1632-1704), cuja obra Two treatises of
government (Dois tratados sobre o governo) de 1690, apresentam as premissas
fundamentais do novo modelo político liberal, destacando-se no conjunto de suas idéias
os novos requisitos para a categorização da cidadania.
No primeiro tratado observa-se um grande esforço teórico de Locke para pôr fim
a uma longa tradição que legitimou o exercício do poder através de fundamentos
religiosos, na medida em que a partir de uma polêmica com Robert Filmer, argumenta
que o exercício do poder político não apresenta nenhuma analogia com a autoridade do
chefe de família, sendo tal comparação carente de fundamento e não possuindo
legitimidade objetiva. Outrossim, nem o pátrio poder e nem o poder político podem ser
transmitidos por herança, sendo esta última uma condição que somente pode ser aplicada
à propriedade.
Aspecto importante do primeiro tratado reside na denúncia por parte de Locke da
utilização abusiva das Sagradas Escrituras por parte de Robert Filmer na fundamentação
ilegítima de suas teses. Na verdade, a lei natural não autoriza o poder de uma única pessoa
sobre todas as outras, mas diferentemente, ela determina a liberdade. E a partir de uma
série de análises que se processam a partir desse pressuposto, Locke deduz que a condição
política original do homem é o “estado de natureza” no qual o homem se encontra em
perfeita liberdade, exercendo pleno domínio de si próprio e autor de seus direitos.
Locke concebe a igualdade de todos no estado de natureza, sendo que tal estado
pode vir a degenerar e transformar-se em um estado de guerra se um homem tentar
submeter outro homem a seu poder.
Disso resulta que aquele que tenta colocar a outrem sob seu poder
absoluto põe-se consequentemente em estado de guerra com ele,
devendo-se entender isso como uma declaração de propósito contrário
à vida (LOCKE, 2005).
O que caracteriza a singularidade do pensamento de Locke é que para este autor
o fato dos homens transferirem para outros o seu poder não significa perder a liberdade

que possuíam no estado de natureza, na medida em que esta equivaleria a uma forma de
liberdade muito maior do que aquela anteriormente existente no estado natural, no qual
originou-se a desigualdade entre os homens, sendo a sociedade civil o contraponto
necessário contra a desigualdade.
Ao definir que os homens são livres e iguais porque são proprietários de seus
corpos, Locke (1983) desenvolve um conceito restrito de cidadania. No entanto, esse
conceito vai sendo redefinido, ganhando novos contornos ao longo de seus escritos, na
medida em que o referido autor afirma que a propriedade não é exatamente o corpo, mas
o fruto que o corpo produz pelo trabalho ao se apropriar da natureza.
Paulatinamente, Locke desenvolve sua argumentação até chegar a conclusão de
que somente aqueles que possuem propriedade podem ser considerados cidadãos. E
seguindo essa linha de raciocínio deduz que escravos, mulheres, crianças e doentes
mentais compõem o rol dos excluídos, uma vez que somente aqueles que possuem
condições de garantir o seu próprio sustento e o de seus dependentes é que podem gozar
dos mesmos direitos e deveres.
Conforme se observa, Locke (1983) aos poucos começa a redefinir a afirmação
inicial de que todos têm uma propriedade no próprio corpo, passando também a vincular
a ideia de propriedade privada ao exercício do trabalho, e com isso infere que o indivíduo
somente não trabalha, não enriquece e não adquire propriedade por incompetência própria
ou indolência.
Vista a partir dessa perspectiva, o modelo de divisão da sociedade passa a conferir
aos pobres uma série de atributos como a preguiça, indolência, degeneração,
imprevidência entre outros, com uma série de implicações tanto no contexto social como
psicológico.
O que fica evidente no pensamento de Locke (Lock 1983), situado numa linha de
pensadores considerados liberais conservadores, é a percepção de um caráter restrito de
cidadania, tendo em vista que tal conceito encontra-se atrelado à prosperidade econômica
pelo exercício do trabalho e à ideia de propriedade privada, contexto em que apenas
alguns podem ser considerados cidadãos.
4. Rousseau: cidadania como busca dos direitos individuais
Uma construção teórica de cidadania que apresenta diferenças significativas em
relação aos modelos formulados por Hobbes e Locke, os quais se situam como baluartes
do pensamento político moderno, é o de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que tem
sua originalidade particular no tocante a tentativa de resolver o problema da exploração,
sempre presente no processo de desenvolvimento histórico da humanidade e que mesmo
as mentes mais brilhantes do pensamento político moderno ainda não haviam conseguido
tratar de forma mais adequada.
O pensamento rousseauniano diferentemente dos teóricos contratualistas como
Hobbes (para quem o homem é mau e egoísta por natureza), enfatiza uma natureza
humana originária cujas principais características são a liberdade, o instinto de
sobrevivência e o sentimento de piedade. Nesse sentido, para contrapor o estado de
civilização, marcado pela degeneração dos valores e pela opressão, Rousseau apresenta o
estado natural do “bom selvagem” que traz como marca principal as virtudes naturais.

Na obra O contrato social, na tentativa de elucidar um regime político, Rousseau
vai de encontro a todas as concepções que apontam para a força como elemento
indispensável para manter a ordem social e o próprio direito, apresentando uma acirrada
crítica contra toda forma de despotismo e tirania em um momento em que muitos
intelectuais apesar de defenderem a idéia de liberdade, apresentavam uma completa
passividade diante de um poder cada vez maior dos poderosos.
Para Rousseau (1983) nenhum homem possui autoridade natural sobre seu
semelhante, e nesse aspecto, assim como no que diz respeito a negação da teoria do direito
do mais forte, procede uma crítica a Hobbes. A renúncia à liberdade significa para o
homem a própria negação da sua qualidade de homem, aos direitos da humanidade e aos
próprios deveres.
Intrinsecamente relacionada à idéia de cidadania, a idéia de poder em Rousseau
fundamenta-se no fato de que tal poder encontra-se no povo, que renunciou à sua
liberdade em favor do Estado, o qual, por sua vez, passa a ser a expressão da vontade
geral, deduzindo-se, em última análise que o poder do Estado encontra-se fundamentado
somente na cidadania. No entanto, nem todos os cidadãos são iguais, e é justamente a
partir desse fato, consubstanciado na questão da desigualdade que Rousseau pretende
oferecer uma solução para o problema.
Enfim, cada um dando-se a todos não se dá a ninguém e, não existindo
um associado sobre o qual não se adquira o mesmo direito que se lhe
cede sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de tudo o que se perde, e
maior força para conservar o que se tem (...). Cada um de nós põe em
comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da
vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte
indivisível do todo (ROUSSEAU, 1983).
Na concepção proposta por Rousseau, o cidadão é considerado “participante da
autoridade soberana”, como condição estabelecida pelo pacto, onde o corpo coletivo é
composto por todos aqueles que nele têm vez e voz. Levando-se em consideração que o
conceito de cidadão em seu aspecto mais rigoroso é aquele que produz a vontade coletiva,
a partir de sua atuação legislante, tal vontade coletiva seria a resultante do conjunto das
vontades dos associados e não simplesmente a somatória das vontades de cada um dos
indivíduos, expressas em seus interesses particulares, ou mais claramente, seria uma
expressão da vontade de cada indivíduo imbuído do interesse coletivo, com vistas ao bem
comum. Seria a partir de tais condições, conforme assinala Fortes (1996, p. 86) “que os
indivíduos que se integram à comunidade serão tão livres quanto antes”, uma vez que se
submetendo enquanto súditos à vontade geral, os membros da associação passam a se
submeter à própria vontade, na condição de cidadãos que participam da formação da
vontade coletiva.
Outro traço importante da concepção de cidadania em Rousseau conforme
assinala Manzini-Covre (2006, p. 28) reside na preocupação “em não separar a igualdade
(mais ligada ao aspecto econômico) da liberdade (cujo vinculo é mais político)”, fato esse
que se tornou um agravante a partir das conquistas obtidas pela burguesia, onde a questão
da igualdade passou a se vincular com a questão da propriedade. Essa preocupação em
não criar um divisor de águas entre o econômico e o político constitui importante
princípio no pensamento de Rousseau, na medida em que o mesmo reitera que nenhum
homem pode ser tão rico a ponto dessa riqueza lhe permitir comprar seu semelhante, e

muito menos um outro tão pobre a ponto de se vender. Nessa linha de raciocínio,
Rousseau se antecipa na formulação de uma crítica a todo um processo de exploração do
homem sobre o próprio homem, e cujos mecanismos se tornarão cada vez mais sutis
através do desenvolvimento de novas técnicas, tornando o exercício da cidadania
perceptível apenas no nível econômico, quando na verdade deveria estar entremeado no
nível econômico e político, sem proporcionar uma disjunção entre liberdade e igualdade.
E nesse ponto o referido autor apresenta uma posição oposta àquela formulada por Locke.
5. Marx e Kant: as contradições do pensamento moderno de cidadania
As reflexões a respeito da cidadania contidas no desenvolvimento dos vários
discursos da modernidade nos ajudam a compreender os antagonismos e as contradições
e as ambiguidades contidas nas propostas que se estabelecem para a busca e manutenção
de uma nova ordem social, assim como para uma forma de organização social mais justa,
tomando-se como base um contexto predominantemente marcado pela exclusão social e
pela exploração do homem sobre o próprio homem. Nessa perspectiva,
a busca de subsídios na concepção kantiana como elemento que sintetiza e sistematiza
de certa forma o próprio ideal da concepção liberal e por outro lado, contrapor a essa
visão a concepção de Karl Marx, o qual elaborou uma visão de cidadania que implica
uma crítica radical as propostas apresentadas pelos teóricos liberais podem ser tomados
como um bom exemplo para a demonstração da temática que em linhas gerais
pretendemos abordar.
A partir de uma primeira análise, fica evidente que existem elementos conflitantes
nas abordagens propostas por esses dois autores a respeito da cidadania, elementos esses
que de forma clara podem ser identificados nas categorias de emancipação e de direito
da forma como articuladas por ambos os autores, categorias essas que assumem
perspectivas divergentes na constituição dos modelos teóricos construídos pelos
referidos. A ideia de direito é relevante para a análise da problemática da cidadania não
somente em função desta última encontrar-se fundamentada em uma determinada ordem
social determinada pelos mecanismos jurídicos, mas, sobretudo, pelo fato de que a
própria definição de cidadania se vincula ao exercício de uma tripartição de direitos, no
caso direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. No que se refere ao conceito de
emancipação, a mesma é percebida como um esforço para a obtenção de direitos políticos
ou de igualdade, geralmente referido a um grupo que foi privado de seus direitos, em
última análise significando equiparar o padrão legal de cidadãos em uma determinada
sociedade política.
A solução apresentada para essas questões se estabelece a partir do princípio de
que a concepção kantiana de cidadania, a qual pode ser inferida a partir de sua Doutrina
do Direito (1993), conforme ressalta Mascaro (2010) se situa em uma linha de raciocínio
que a torna legítima representante da tradição liberal burguesa. Por outro lado, Karl Marx
(2002) em um conjunto de idéias contidas na Questão Judaíca, integrante dos
Manuscritos Econômico-filosóficos, apresenta-nos um quadro de importantes reflexões
acerca da cidadania que se contrasta com o modelo liberal-moderno proposto por Kant
(1993). Desse ponto de vista, para Karl Marx, conforme observa Coutinho (2000) “só
uma sociedade sem classes – uma sociedade socialista – pode realizar o ideal da plena
cidadania, ou o que é o mesmo, o ideal da soberania popular e, como tal, da democracia”.
Dentro dessa perspectiva, o marxismo, a nosso ver, procura estabelecer uma ruptura

estrutural com o ideário liberal moderno, levando-se em conta a forma como tal modelo
encontra-se fundamentado no individualismo.
Nas reflexões contidas em sua Doutrina do direito, Kant (1993) apresenta sua
“Doutrina universal do direito” em duas partes, sendo a primeira delas sobre o direito
privado e a segunda sobre o direito público. Essa apresentação adquire um caráter muito
pertinente na concepção do referido autor para o qual o fundamento do direito reside em
primeiro lugar no direito privado e posteriormente no direito público. Nessa perspectiva,
a propriedade privada e o contrato passam a ser considerados os elementos presentes já
no estado de natureza, antes mesmo da posterior transformação de tal situação natural em
civil. Ressaltamos que Kant (1993) ao tomar como referência a concepção lockeana de
estado de natureza, passa a adotar uma postura eminentemente liberal Dess, postura essa
que chega a ser radical quando o referido autor afirma que o Estado de direito garante
apenas a justiça para todos, e não o bem-estar dos seus cidadãos, conforme suas palavras:
Em sua reunião consiste a salvação do Estado (salus reipublicae suprema lex
est); não deve ser entendido por isto o bem dos cidadãos e sua felicidade;
porque esta felicidade pode muito bem (como afirma Rousseau) encontrar-se
muito mais doce e mais desejável no estado natural ou ainda mais sob um
governo despótico; não, a salvação pública consiste na maior conveniência da
constituição com os princípios do direito, como um estado, ao qual a razão,
por um imperativo categórico, nos obriga a aspirar (KANT, 1993 – grifos do
autor).
Essa posição assumida por Kant (1993) aponta para o fato de que os indivíduos,
por si próprios passam a ser responsáveis por sua felicidade, cabendo ao Estado apenas
garantir as possibilidades da liberdade dos indivíduos, devendo sua função limitar-se em
assegurar a aplicação da justiça. Nesse sentido, ao direito não cabe se ocupar com o
problema relativo ao sofrimento do povo, e nem com o fato de que todos possam exercer
plenos direitos de cidadania em determinada sociedade.
Em contraposição a essa concepção, que não deixa de refletir um dos princípios
fundamentais do liberalismo, no caso o individualismo, Marx apresenta uma concepção
de direito fundamentada em sua doutrina conhecida como materialismo histórico, pela
qual estabelece que dentre os fenômenos sociais (moral, religioso, jurídico, etc.,) haveria
um de importância fundamental: o econômico. encontra-se vinculada a um caráter de
ordem econômica e retrata determinada condição Assim sendo, toda relação jurídica
encode relações socioeconômicas predominantes, conforme ressalta o próprio autor:
Minha investigação desembocou no seguinte resultado: relações jurídicas, tais
como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si, nem
a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas
pelo contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida, cuja totalidade
foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil (burgerliche
Gesellschaft), seguindo os ingleses e franceses do século XVIII; mas que a
anatomia da sociedade burguesa (burgueliche Gesellschaft) deve ser procurada
na Economia Política (MARX, 1985 – grifos do autor).
Em sentido paradoxal ao que estabelece Kant (1993), Marx (1982) projeta a partir
do ponto de vista acima uma perspectiva teórica que impossibilita a realização do
principal objetivo do direito que seria tornar possível a aplicação da justiça, fato que torna
a percepção do próprio direito como uma superestrutura ou epifenômeno a serviço das

classes dominantes. Vista a partir dessa compreensão, a evolução jurídica reproduz a
própria evolução econômica, sendo o direito, assim como as restantes ideologias, uma
derivação extrínseca e superficial da infra-estrutura econômica, e como tal, não pode ser
visto como instrumento para a realização da justiça e nem a expressão da vontade do povo
ou de um legislador tal como defendido por Kant (1993). Por outro lado, se uma das
principais críticas de Marx reside na questão da propriedade privada, a qual em suas
origens mais remotas passou a determinar o próprio processo de exploração e
desigualdades sociais, para Kant, a garantia da propriedade privada surge como um
inabalável direito da razão, um direito natural:
A posse meramente física da terra (sua ocupação) já é um direito a uma coisa,
embora certamente não por si suficiente para considerá-la como minha.
Relativa a outros, visto que (na medida do que se sabe) é primeira posse, é
coerente com o princípio da liberdade externa e também está envolvida na
posse original em comum, que proporciona a priori a base sobre a qual
qualquer posse privada é possível. Consequentemente, interferir com o uso de
um pedaço de terra pelo seu primeiro ocupante significa lesá-lo. Realizar a
primeira tomada de posse tem, portanto, uma base jurídica (titulus
possessionis), que é posse original em comum; e o brocado “Felizes são
aqueles que tem sua posse” (beati possidentes), porque ninguém ser obrigado
a certificar sua posse é um princípio básico de direito natural, o qual estabelece
o tomar a primeira posse como uma base jurídica de aquisição com a qual pode
contar todo primeiro possuidor (KANT, 1993, p. 93-94 – grifos do autor).
Para Marx (2008), a lógica da constituição do sujeito de direito, da liberdade do
contrato, da autonomia da vontade, da igualdade entre os contratantes, tendo por início a
necessidade da própria circulação mercantil capitalista, apresenta uma clara explicação a
respeito da origem dos próprios direitos humanos. Diferentemente de representarem
conquistas da bondade humana ou da evolução do espírito, são necessidades práticas da
própria exploração capitalista.
A esfera que estamos abandonando, da circulação ou da troca de mercadorias,
dentro da qual se operam a compra e a venda da força de trabalho, é realmente
um verdadeiro paraíso dos direitos inatos do homem. Só reinam aí a liberdade,
igualdade, propriedade e Bentham. Liberdade, pois o comprador e o vendedor
de uma mercadoria – a força de trabalho, por exemplo – são determinados
apenas pela sua vontade livre. Contratam como pessoas livres, juridicamente
iguais. O contrato é o resultado final, a expressão jurídica comum de suas
vontades. Igualdade, pois estabelecem relações mútuas apenas como
possuidores de mercadorias e trocam equivalente por equivalente. Propriedade,
pois cada um dispõe do que é seu. Bentham, os relaciona é a do proveito
próprio, a vantagem individual, dos interessses privados (MARX, 2008).
Na contramão dessa concepção, Kant apresenta um projeto jusfilosófico que se
encontra fundamentado numa concepção contratualista muito própria, a qual passa a ser
o núcleo basilar para que o sistema jurídico se complete em sua racionalidade. Em tal
concepção, na idéia do contrato social (elemento promordial das teses liberais), e na
verdade na pressuposição da vontade geral do povo, é que reside para Kant (1998) a
legitimidade do direito

Eis, pois, um contrato originário apenas no qual se pode fundar os homens na
constituição civil, por conseguinte, inteiramente legítima, e também uma
comunidade. Mas neste contrato (chamado contratus originarius ou pactum
sociale), enquanto coligação de todas as vontades particulares e privadas num
povo numa vontade geral e pública (em vista de uma legislação simplesmente
jurídica), não se deve de modo algum pressupor necessariamente como um fato
(e nem sequer é possível pressupô-lo). (...) (prática) indubitável: a saber, obriga
todo o legislador a fornecer as suas leis como se elas pudessem emanar da
vontade coletiva de um povo inteiro, e a considerar todo o súdito, enquanto
quer ser cidadão, como se ele tivesse assentido pelo seu sufrágio a semelhante
vontade. É esta, com efeito, a pedra de toque da legitimidade de toda a lei
pública (KANT, 1998).
Marx preconiza uma ruptura com o status quo representado pelo sistema
implantado, responsável pela alienação do homem pelo trabalho e nesse sentido, a idéia
de revolução adquire certa notoriedade como algo que representa uma re-ação ao que se
encontra enraizado, por sua negação de admitir a ascensão do proletariado, ou mesmo a
redução das desigualdades, enquanto que Kant (1993, p.160) sustenta uma visão
considerada conservadora a respeito do direito público ao tratar a respeito do poder
soberano e do direito à revolução. Para o referido autor, ainda que o soberano se trate de
um tirano, injusto, não há um direito de resistência do povo, que deve se conformar à
condição jurídica dada, sem postular uma revolução.
Ao tomar como referência o pensamento kantiano na expressão de um discurso
liberal, tal discurso passa a refletir as expectativas de um contexto histórico cujos
acontecimentos apontam para a vontade de domínio da natureza, a necessidade de
liberdade em relação às tradições, assim como o florescimento da vontade de libertação
das opressões. De forma geral, tal pensamento enfatiza a necessidade da emancipação, tal
como contida no pensamento de Rousseau, a quem Kant muito admirou e que o levou a
compreender a emancipação como a saída do homem de seu estado de menoridade.
Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da
qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado
dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas
na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de
outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento,
tal é o lema do esclarecimento [Aufklärung] (KANT, 1988, grifos do autor).
Depreende-se aqui que para Kant a ideia de emancipação, conforme visto
anteriormente, encontra-se vinculada a concretização dos princípios iluministas enquanto
fundamento essencial para a expressão da cidadania, princípios estes que preconizam
entre outras coisas a crença de que a razão é o único caminho possível para se atingir o
conhecimento do mundo, assim como a recusa das verdades ditadas pelas autoridades,
submetendo tudo ao crivo da crítica e estabelecendo a crença de que os seres humanos
alcançariam a felicidade na modificação da sociedade, mediante o reconhecimento e
aplicação da autonomia das pessoas (capacidade de cada indivíduo reger-se por suas
próprias leis), da civilidade dos cidadãos (virtude pela qual se tornam responsáveis pela
vida pública), da legitimidade das leis (as quais seriam promulgadas levando em
consideração o que todos e cada um dos cidadãos poderiam querer), da justiça das
instituições (princípio da imparcialidade que não faz distinção entre as pessoas) e da
tolerância entre as religiões (respeito à diversidade religiosa).

Marx, diferentemente dos teóricos liberais, entre os quais se situa Kant e que
consideram a política como a dimensão fundante da sociedade, acredita que a
emancipação humana só se torna possível por obra do que ele denomina de sociedade
civil, ou por outros ternos, através das relações econômicas. Convém salientar que de
acordo com a análise marxista, esse processo de emancipação política possui suas raízes
históricas na passagem de um sistema de subsistência, típico da Idade Média, para o
sistema capitalista.
O fato de a sociedade capitalista encontrar-se dividida em uma dimensão privada
e uma dimensão pública seria, de acordo com Marx (2002), o fator responsável por uma
forma de cidadania imperfeita e incompleta, uma vez que a dimensão política (jurídico-
política) tendo como matriz a dimensão privada, seria sempre limitada e impossibilitada
de atingir um aperfeiçoamento indefinido. E é justamente nessa esfera pública que surge
a idéia de cidadania, razão pela qual se pode deduzir que ser cidadão não seria ser
efetivamente, mas apenas formalmente, livre, igual e proprietário. Sendo, portanto, da
cisão entre o Estado e a sociedade que emerge a distinção entre o indivíduo e a sociedade.
Nesse aspecto, fica evidente que de acordo com o pensamento marxista o fenômeno da
cidadania somente se torna possível em uma sociedade onde o público encontra-se
dissociado do privado.
A crítica de Marx (2002) sobre o conceito de cidadania, crítica essa que se
articula e se contrapõe a uma idéia de emancipação enquanto eliminação das
desigualdades e do próprio Estado, pode melhor ser percebida na Questão judaica, onde
o referido autor polemiza com teóricos de sua época a respeito da propositura de uma
questão muito “idealista” para o problema suscitado pelos judeus alemães que buscavam
a emancipação. A esse respeito, no início da obra, acrescenta Marx (2002) “Mas qual
emancipação eles [judeus] esperam? Certamente a emancipação civil, política”.
Marx estabelece que de acordo com o modelo idealista proposto na Alemanha
ninguém é politicamente emancipado. E se até os cristãos não podem ser considerados
livres, como poderiam os cristãos libertar os judeus? Nesse ponto reside o caráter egoísta
dos judeus, que reclamam direitos especiais enquanto judeus, considerando-se membros
de um povo eleito, mantendo-se, por isso, à margem da humanidade. Sendo a Alemanha
um Estado cristão, o pertencimento à religião cristã era condição necessária para ser
cidadão. Na condição de alemães, os judeus deveriam trabalhar pela emancipação política
da Alemanha e, como homens, lutar pela libertação de toda a humanidade. Nesse ponto
de vista, na medida em que o Estado cristão proporciona direitos aos judeus que requerem
a cidadania, ele não abre mão de sua essência de Estado, visto permanecer cristão da
mesma forma que o judeu ao ser emancipado. No entanto, enquanto o Estado assim como
os judeus permanecerem no seu princípio religioso, a emancipação torna-se algo
impossível de ser alcançado.
O erro contido nessa visão idealista enquanto esforço teórico para uma solução
de ordem prática envolvendo os judeus de sua época, segundo Marx, encontra-se no
caráter eminentemente hegeliano contido na mesma, segundo a qual, na medida em que
judeus e cristãos percebam sua religião enquanto uma fase de desenvolvimento do espírito
humano, não se enfrentarão mais num plano religioso, mas no plano crítico, científico e
humano.
Para Marx, a contradição existente na análise proposta consiste no fato da mesma
confundir emancipação política ou cidadania com a emancipação humana.
Uma análise mais pormenorizada da emancipação política permite a Marx
(2002) concluir que apesar da mesma poder estabelecer as condições necessárias para o

exercício da igualdade, tal igualdade é meramente formal, na medida em que se desdobra
a partir das regras definidas pelo sistema político, o que implica numa dupla perspectiva
de vida humana: uma vida celestial e uma terrestre, enquanto indivíduo e enquanto
membro de uma comunidade política. E apesar dos homens pertencerem a uma
comunidade política, a qual em última análise busca o bem comum ou o interesse geral,
na vida real continuam a existir as diferenças de riqueza, nascimento, cultura, etc. as quais
não podem ser desconsideradas.
Dessa forma, apesar da emancipação política representar um grande progresso,
para Marx (2002) “não constitui a forma final de emancipação humana, mas é a forma
final desta emancipação dentro da ordem mundana até agora existente”.
Considerando que a questão da cidadania encontra-se vinculada a conquista dos
direitos do homem, Marx aponta para o fato de que tal conceito somente foi adotado no
mundo cristão a partir do século XIX, não sendo este uma ideia inerente ao homem, pelo
contrário, foi uma conquista a partir de uma série de lutas contra as tradições históricas,
nas quais o homem foi educado até os dias atuais. Dessa forma, devemos entender que os
direitos do homem não podem ser considerados como uma dádiva da Natureza ou mesmo
ou dote da história passada, mas, sobretudo o prêmio adquirido pela luta contra os
privilégios e a exclusão social que a história tem transmitido de geração a geração.
A partir de uma distinção entre direitos do homem e direitos do cidadão, Marx
(2002) conclui que esse “homem” distinto do “cidadão” é na verdade o membro da
sociedade civil. E com relação ao fato de ser chamado “homem” por fazer parte de uma
sociedade civil e de seus direitos serem denominados de “direitos do homem”, isso ocorre
devido à relação entre o Estado político e a sociedade civil, assim como pela característica
da emancipação política.
Portanto, se enquanto cidadãos os homens parecem iguais na vida política, na
vida prática os mesmos se encontram separados pelas desigualdades. O sufrágio universal
reflete essa tendência, onde predomina a igualdade de todos, mas na prática somente os
grupos que possuem maior poder econômico é que têm uma melhor possibilidade de
escolher e eleger seus candidatos.
Na contramão do pensamento marxista, Kant (1993) desenvolve uma concepção
política onde o Estado é pensado a partir de um modelo burguês iluminista, com um poder
tripartite. Executivo, legislativo e judiciário. E ao proceder suas reflexões a respeito das
atribuições inerentes a cada um desses poderes, Kant (1993) manifesta um certo
conservadorismo político no que concerne a idéia de cidadania, onde o referido autor,
embora reconhecendo no poder legislativo uma ligação com a vontade do povo, a qual
passa a se expressar por meio das eleições, na concepção kantiana o eleitor deve ser o
proprietário, no caso um indivíduo que possui meios próprios para viver, não se
submetendo ao trabalho controlado por um terceiro. Nessa perspectiva, Kant (1993)
procura estabelecer uma gradação de cidadania ao afirmar que o trabalhador subordinado
é também um cidadão, mas em função de não ser proprietário e nem dono de seus próprios
meios de subsistência, passa a ser um cidadão passivo, diferentemente do cidadão ativo,
do proprietário, daquele que se encontra apto para votar.
A partir dessa argumentação, Kant parece propor uma visão muito restrita de
cidadania, a qual passa a adquirir uma conotação meramente formal, na medida em que
apenas reflete a aptidão de votar. Enquanto que na visão marxista, o sufrágio universal
seria um mecanismo que encobre as desigualdades sociais, tendo em vista que legitima o
próprio poder econômico. Por outro lado, a distinção entre cidadãos ativos e passivos
assim como a segregação entre o trabalhador e a mulher são reveladores de quanto sua

filosofia política (e do direito) apresenta uma tendência para o conservadorismo. A esse
respeito, através da análise da distinção de quatro critérios considerados fundamentais
para a justiça distributiva, com profundas implicações para a formação da cidadania,
Bobbio vê em Kant um genuíno intérprete da concepção liberal-burguesa, na medida em
que este passa, entre outras coisas a desconsiderar o critério de status, passando a aceitar
o critério do mérito.
Com relação a Marx, a proposição de ruptura com o sistema legitimado por um
direito político moderno nos leva a indagar a respeito da possibilidade da existência de
uma cidadania tão ampla que aponta para o fim de uma sociedade sem classes.
Outro aspecto a ser considerado na concepção marxista é a visão um tanto
finalista sobre o direito apresentada por esse autor, tendo em vista que a finalidade do
direito se prende somente a garantir e legitimar a dominação da classe burguesa, e se
existe um prognostico futuro a partir de uma sociedade sem classes como quer Marx,
Por seu turno, a concepção kantiana aponta para uma finalidade do direito a qual
regra geral segue o princípio da autonomia racional, principio esse que passa a
caracterizar o homem moderno como autodefinidor, e não somente como um ser é capaz
de interpretar conjuntos de significados a partir dos quais as coisas se posicionam
empiricamente na ordenação cósmica. Nessa linha de raciocínio o compromisso com a
razão seria capaz de superar o estado desumanizador da comunidade política e levar os
indivíduos a realização da plena cidadania, sob a condição de que tais indivíduos se
coloquem sob o domínio do direito.
6. CONCLUSÃO
As reflexões desenvolvidas por Marx e Kant a respeito da cidadania não somente refletem
as contradições e as aspirações de um determinado período, mas, sobretudo, nos
proporcionam novos elementos para a compreensão das contradições presentes nos
discursos políticos modernos, em particular quando tais discursos se direcionam para a
cidadania. Se de um lado Marx procura ressaltar uma cidadania que somente se torna
possível com a eliminação das desigualdades e do próprio Estado, por outro lado Kant
propõe uma concepção muito restrita de cidadania, a qual reflete os próprios interesses
do Estado liberal-burguês.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COUTINHO. C. N. Contra a corrente: ensaios sobre democracia e socialismo. São
Paulo: Cortez, 2000.
GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. São
Paulo: Martins Fontes, 2002.
HOBBES, Thomas. O leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e
civil. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Col. Os pensadores).
KANT, Immanuel. Doutrina do Direito. São Paulo: Ícone, 1993.
_______________. A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1998.
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Col.
Os pensadores).
____________. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
MANENT, Pierre. História intelectual do liberalismo: dez lições. Rio de Janeiro:
Imago, 1990.
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Abril Cultural, 1982 (Col.
Os pensadores).
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosoficos: A questão judaica. São Paulo:
Martin Claret, 2002.
__________. Manuscritos economico-filosóficos e outros textos escolhidos. São
Paulo: Abril Cultural, 1985 (Os pensadores).
__________. O capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, v. 1.
MANZINI-COVRE. Maria de Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2006.
MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010.
ROUSSEAU. Jean-Jacques. Discurso sobre a origem da desigualdade. São Paulo:
Abril Cultural, 1983. (Col. Os pensadores).
VILLEY, Michel. Filosofia do direito: definições e fins do direito: os meios do direito.
São Paulo: Martins Fontes, 2008.

APLICAÇÃO DE GEOSISTEMAS E GEOTECNOLOGIA NO
BOSQUE RODRIGUES ALVES JARDIM ZOOBOTÂNICO
DA AMAZÔNIA - 2013.
¹André Luiz Silva da Silva, ²Diovan Moraes Cunha, ³Altem Nascimento Pontes,
³ Norma Ely Beltrão, 4Emmanuelle Thayse Athayde Bezerra.
¹Professor e Coordenador da Pós Graduação em Geoprocessamento Aplicado
da Faculdade Ideal - FACI. ²Acadêmico de Pós Graduação em
Geoprocessamento Aplicado da Faculdade Ideal - FACI.³ Professores Doutores
da UEPA. 4Acadêmica do curso de Administração da Estácio FAP.
Abstract. The Geossistemas, object of study of physical geography has been
fairly used to support the proposals in the process of use and occupation of the
land. In the era of information technology, the technology has a key role to
streamline access to information today is pervasive in increasingly fast speeds,
accordingly the management publishes must update themselves and make use of
tools that enable better decision making; to this end, a global view of events is
of fundamental importance, in order to solve a problem effectively, then arises
the Geotechnologies that are new forms of spatial analysis; This work makes a
brief categorization of Geosistemas and Geotechnology and how they can assist
the management publishes in its decision-making.
Key Words: Bosque Rodrigues Alves, Geosistema, Geotechnology, Publishes
Management, Technology
Resumo. Os Geosistemas, objeto de estudo da Geografia Física, tem sido
bastante utilizado para subsidiar as propostas nos processos de uso e ocupação
das terras. Na era da informática, a tecnologia tem um papel fundamental de
agilizar o acesso à informação que hoje é difundida em velocidades cada vez
mais rápidas. Nesse sentido, a gestão publica deve atualizar-se e fazer uso de
ferramentas que possibilitem uma melhor tomada de decisão. Para tanto, uma
visão global dos acontecimentos é de fundamental importância, para que se
possa resolver um problema qualquer de maneira eficaz. Surgem então as
Geotecnologias, que são novas formas de analise espacial. Este trabalho faz
uma breve categorização de Geosistemas e Geotecnologia, e como elas podem
auxiliar a gestão publica em sua tomada de decisão.
Palavras Chaves: Bosque Rodrigues Alves, Geosistema, Geotecnologia, Gestão Publica,
Tecnologia

1. Introdução.
A utilização da teoria dos Geosistemas é discutida por diversos autores, entretanto na
Geografia é Antônio Christofoletti quem melhor sintetiza esta vertente de análise espacial
a partir da década de 1960. Porém a idéia de Sistemas já era discutida em outras
disciplinas, em particular na biologia com Ludving Bertalanffy nos anos de 1930.
O Geosistema é uma categoria de análise geográfica que parte do principio de que
os fenômenos seguem um encadeamento e correlação, desta forma a análise de uma visão
geral tenta abarca os acontecimentos de forma que se possam integrar nossos
conhecimentos em uma equipe multidisciplinar por exemplo. Cada profissional deve
contribuir com a sua área de acordo com diretrizes e metas da instituição em que exerça
suas atribuições; assim uma visão geral e em conjunto deve necessariamente contornar
determinada situação.
Para contribuir com a equipe multidisciplinar, surge o papel da Geotecnologia que
“amarra” a análise a um local, canalizando todas as forças que serão concentradas para
resolver um ou mais problemas de um determinado lugar. Surge para tanto a necessidade
da construção de um banco de dados que receberá contribuição de todos os profissionais
que compõem a equipe multidisciplinar.
A espacialização dos dados visa mostrar de forma objetiva um fenômeno
qualquer, canalizar esforços e ajudar a melhorar a gestão publica com economia de
recursos e tempo; a delimitação espacial restringe e particulariza características locais,
delimita determinados fenômenos e mostra o que acontece em determinada parte da Terra,
nos convidando a tentar desvendar os fatores que levaram até aquele evento.
2. Histórico do Bosque Rodrigues Alves.
Em 25 de Agosto de 1883 foi inaugurado o Bosque do Marco de Belém do Pará, inspirado
no Bois de Boulogne, parque localizado na cidade de Paris na França, com cerca de 8,5
Km² e uma área quase seis vezes maior que o Bosque Rodrigues Alves em Belém, ocupa
o lugar da antiga floresta de Rouvray. O Boulogne foi palco de diversos testes realizados
pelo brasileiro Alberto Santos Dumont entre 1898 e 1903 com seus inventos aeronáuticos.
Assim como o Bosque Rodrigues Alves para Belém, o Bois de Boulogne é um refúgio
para os moradores locais realizarem várias atividades esportivas e de lazer e local de visita
para turistas ou um simples passeio com a família.
A influência externa (européia), à época das reformas estruturais e da inauguração
definitiva do Bosque, é evidente em obras publicas nas quais se estabelecia o padrão de
urbanização com ruas largas e áreas verdes, com a valorização da natureza como
sinônimo de progresso e higiene.
Para a elite local, a Europa tornara-se o espelho de toda a modernização.
Os valores estéticos –ideológicos europeus, especialmente franceses
eram transportados para a sociedade amazônica, às ideias urbanísticas
eram calcadas na “cidade jardim” e no urbanismo de paris hausmaniana,
o governador Augusto Montenegro e o intendente Antonio Lemos eram
os porta—vozes deste projeto. A cidade de Belém se recria
ornamentando-se de jardins, bosques. Abrem-se grandes artérias,
reproduzindo-se os amplos boulevards franceses. (BELÈM; 2006)

Desde sua inauguração o bosque passou por diversas reformas e adequações,
sendo varias vezes fechado ao publico. A principal reforma ocorreu de 1900 a 1903 sob
o comando de Antônio Lemos. A configuração das trilhas datam desta época, sendo
inclusive usado seixo do leito do rio Tocantins. A construção da gruta, da cascata, dos
lagos, também remontam à esta época. O zoológico do bosque começa a funcionar em
1904, nesta ocasião havia chegado da Europa quatro viveiros de ferro.
De 1907 a 1908 o projeto de iluminação do bosque foi elaborado e concluído, em
1939 o prefeito Abelardo Condurú fez alguns melhoramentos destacando-se a construção
de um anfiteatro para aulas ao ar livre. Lopo de Castro realizou em 1953 o repovoamento
do zoológico com animais exóticos, porém sem os devidos cuidados a maioria dos
animais acabou morrendo.
Nos anos de 1983 e 1984, na gestão do governador Jader Barbalho e do prefeito
Emanoel O`de Almeida, foram realizadas comemorações do centenário do Bosque,
sendo inclusive retomado os passeios de canoa e de charrete. Na administração de Almir
Gabriel foi inaugurado em 1985 o chalé de ferro que abriga hoje a administração do local,
e em 1988 na gestão do prefeito Coutinho Jorge o muro que circundava o bosque foi
substituído por grades de ferro.
Em 1995 Hélio da Mota Gueiros realizou uma reforma geral nos recintos dos
animais, nas construções existentes, iluminação, abastecimento de água, esgoto, além da
construção do auditório; outra reforma a se destacar foi a do chalé de ferro de 2003 que
recebeu reparos e pintura na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues.
Em 17 de dezembro de 1906 o Bosque do Marco da Légua, por força da resolução
Nº 158 de 12 de Dezembro de 1906 do Conselho Municipal, passou a se chamar Bosque
Rodrigues Alves em homenagem ao presidente da republica.
Na história do Bosque houve uma lei que aprovava sua expansão, a Lei Nº206 de
24 de setembro de 1898, que autorizava o aumento do perímetro do Bosque da Tv. 25 de
Setembro (atual Rômulo Maiorana) até a Visconde de Inhauma (entre Tv. Mauriti e
Tenente Coronel Costa). Contudo, por conta da economia de recursos, tal ampliação não
foi realizada, sendo revogada a lei que autorizava a expansão.
Veja o mapa de como ficaria a área do Bosque.
Figura 1: Área ampliada do bosque, segundo a Lei Municipal nº 206 de 1989.
Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução.

Destaca-se aqui que além de área de lazer, descontração e visita, o espaço pode
ser um centro de pesquisa à comunidade acadêmica e irradiador de conhecimento, pois
se trata de uma área muito especial por seu caráter peculiar: uma floresta isolada em meio
urbano, onde os comportamentos das espécies animais e vegetais podem servir de estudos
e projeções para outras áreas que estão sofrendo com a pressão urbana.
Esta visão do bosque como centro de produção de conhecimento não é nova. Em
1939, na administração do prefeito Abelardo Condurú, já havia esta preocupação. Veja o
que diz o documento da prefeitura de Belém: “(...)além de dotar o Bosque de uma série
de diversões ao ar livre; visando transformá-lo em centro de observações cientificas e de
irradiação de cultura e por isso mandou construir(...)um anfiteatro rústico, onde
estudantes paraenses do curso de História Natural poderiam ouvir as aulas dos
professores, sobretudo de botânica”.
3. Geosistemas
Quando pensamos em sistemas, logo nos vem à mente uma estrutura organizada, onde
cada parte desta estrutura possui determinada função, sendo assim cada elemento é
importante para que se chegue a um fim específico, sendo eles partes que se somam para
formar o todo organizado.
Na natureza há vários exemplos desses sistemas, sendo mais evidente o próprio
organismo humano. Daí a teoria dos sistemas nascer no seio da biologia com o biólogo e
filósofo Ludving Bertalanffy, que em 1947 explica as teorias globais sob o titulo de
Teoria Geral dos Sistemas, porém as discussões já eram apresentadas desde a década de
1930.
Posteriormente o conceito de sistema passa a ter um grande uso em outras áreas
do conhecimento, sendo usado na engenharia (industria) ciências humanas (teorias
sociais) e mais recente, com o desenvolvimento da informática, com sistemas de
informação. Para Bertalanffy o conceito da teoria dos sistemas é:
A teoria geral dos sistemas, portanto é uma ciência geral da totalidade, que até
agora era considerada um conceito vago, nebuloso e semimetafisico. Em forma elaborada
seria uma disciplina lógico-matemática, em si mesma puramente formal , mas aplicável
as várias ciências empíricas. Para as ciências que tratam do todo organizado, teria uma
significação semelhante à que tem a teoria das probabilidades para as ciências que se
ocupam de acontecimentos causais. Esta também é uma disciplina matemática formal
que pode ser aplicada a campos muito diversos, tais como a termodinâmica , a
experimentação biológica e medica, genética, estatística de seguros de vida etc...”
(Bertalanffy-2010)
Isto indica os principais propósitos da teoria geral dos sistemas segundo este autor:
1. Há uma tendência geral no sentido da integração nas várias ciências naturais e
sociais;
2. Esta interação parece centralizar-se em uma teoria geral dos sistemas;
3. Esta teoria pode ser um importante meio para alcançar uma teoria exata nos
campos não físicos da ciência;
4. Desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente o universo
das ciências individuais, esta teoria aproxima-nos da meta da unidade da ciência;
5. Isto pode conduzir à integração muito necessária na educação cientifica.

A teoria geral dos sistemas nos mostra a complexidade dos mais variados
fenômenos que ocorrem em nossa volta, e na geografia esta teoria foi também aplicada,
inicialmente, na geomorfologia com os estudos de Arthur N. Stralher em 1950. Porém
somente a partir da década de 1960 é que surgem trabalhos mais substancias decifrando
a teoria na geomorfologia, passando a ser referencia nos estudos geográficos, onde se
destacam os trabalhos de Jhon T. Hack, Richard A Chorley e Alan D. Howard.
Nesta mesma linha de pensamento, é Antonio Christofoletti quem aborda o tema
em seus estudos geomorfológicos e conceitua alguns tipos de sistema em geomorfologia,
dos quais destacamos os sistemas isolados, não isolados abertos e fechados, sistemas
morfológicos, sistemas em sequência, sistemas de processo respostas e sistemas
controlados. Nos deteremos nos dois primeiros.
Os sistemas isolados são aqueles que não sofrem mais perda e ganho de energia
ou matéria do ambiente em sua volta, portanto se conhece a quantidade de matéria e
energia, podendo-se então calcular a evolução e o tempo que decorrerá até o fim do
sistema.
Os sistemas não isolados, diferentes dos isolados, mantêm relações com os demais
sistemas do mundo que está em sua volta, inclusive sendo subdividido em fechado e
aberto. Nos Sistemas Não Isolados Fechados há troca de energia, porém não de matéria.
O exemplo maior deste tipo de sistema é o próprio planeta terra, que recebe energia solar
e também perde com a radiação para a estratosfera, contudo não há perda e ganho de
matéria a não ser em quantidades desprezíveis de meteoros ou meteoritos que adentram
as camadas superiores terrestres, e de satélites artificiais que são lançados pelo homem
ao espaço. Já nos Sistemas não isolados abertos ocorrem constantes trocas de energia e
matéria tanto absorvendo quanto liberando ao meio. Estes tipo de sistema são os mais
comuns de serem encontrados como. Por exemplo, em um animal qualquer.
Desta forma, compreende-se que o Bosque enquadra-se no sistema não isolado e
aberto pois recebe energia solar, irradia parte dessa energia através da evapotranspiração,
reflete a energia, recebe matéria como o CO2 no processo de fotossíntese e O2 na
respiração dos animais que lá se encontram.
Dentro de um sistema pode haver vários subsistemas, sendo a reciclagem da
matéria orgânica outro sistema que atua no Bosque e contribui para o equilíbrio do
sistema. Há vários outros atuando no local, porém ainda não temos como precisar o
numero exato de processos que ocorrem para que o Bosque se mantenha até hoje.
Sabemos entretanto de alguns, o que nos leva mais uma vez aos estudos de
Christofoletti, quando trata de sistemas ambientais, em seu trabalho sobre modelagem de
sistemas ambientais, ele cita as concepções de Chorley e Kennedy, que propõem uma
classificação estrutural e distinguem onze tipos de sistemas, todavia consideraram
somente quatro como importantes à Geografia Física e Analise Ambiental. São eles:
Sistema Morfológico: São compostos somente pela associação das propriedades
físicas do fenômeno (geometria composição, etc.), constituindo os sistemas menos
complexos das estruturas naturais, correspondem as formas, sobre as quais se podem
escolher diversas variáveis a serem medidas (comprimento, altura, largura, declividade,
granulometria , densidade e outras.).
Sistema em sequência ou encadeante: São compostos por uma cadeia de
subsistemas, possuindo tanto magnitude espacial quanto localização geográfica, que são
dinamicamente relacionados por uma cascata de matéria ou energia. Nessa sequência a

saída (Output) de energia e matéria de um subsistema torna-se a entrada (Input) para outro
subsistemas de localização adjacente.
Sistema de processo resposta: São formados pela combinação de sistemas
morfológicos e sistemas em sequência. Os sistemas em sequência indicam o processo,
enquanto o morfológico representa a forma, a resposta a determinado estimulo. Sistemas
controlados são aqueles que apresentam a atuação do homem sobre os sistemas de
processos-respostas. A complexidade é aumentada pela intervenção humana como, por
exemplo, a barragem de um rio (Christofoletti—1980).
Trabalharemos com o conceito de sistema em sequência. O estudo de sistema
nesta categoria tem um caráter particular de observar a relação entre a entrada e a saída
de matéria e energia de um sistema ou subsistema para outro, sendo assim o índice de
detalhamento do processo de entrada (INPUT) e saída (OUTPUT) pode ser classificado
em três níveis de detalhe: modelo de Caixa Branca; Caixa Cinza; e Caixa Preta para
Chorley e Kenedy 1971 apud Christofoletti.
Nos estudo dos sistemas em sequência, a focalização analítica principal está em
verificar as relações entre a entrada e a saída. Conforme o grau de detalhamento que se
deseje obter, três maneiras distintas podem ser aplicadas.
*caixa branca— a tentativa é feita no sentido de identificar e analisar as
estocagens, fluxos e outros processos, a fim de obter conhecimento detalhado e
claro de como a organização interna do sistema funciona a fim de transformar um
input em output;
*caixa cinza— envolve conhecimento parcial do funcionamento do sistema,
quando o interesse se centraliza apenas em numero limitado de subsistemas, não
se considerando as suas operações internas;
*caixa preta— o sistema em seu todo é tratado como unidade, sem qualquer
consideração a propósito de sua organização e funcionamento interno. A atenção
dirige-se somente para o caráter do output resultante de inputs identificados.
(Christofoletti –1980).
Infere-se que o Bosque seja um sistema em sequência de caixa cinza, pois
sabemos que o sistema Bosque possui vários outros subsistemas, e que a entrada de um é
a saída de outro. Destes processos conhecemos apenas alguns, destacando-se o ciclo da
água, do carbono e oxigênio, porém sabemos parcialmente o ciclo da matéria orgânica,
ou seja, toda a serapilheira que corresponde à matéria orgânica decomposta que ocorre
no topo dos solos (GUERRA-2010). Não se sabe os processo que levam a decomposição
da matéria, desde a queda do material orgânico até ele ser (re)absorvido pelas raízes das
arvores. Quem decompõe? Quais os tipos de organismos e microorganismos que realizam
a decomposição da matéria no Bosque? Quais tipos de reações físico-químicas ocorrem?
Por está isolado, a decomposição no Bosque difere de um sistema em uma área de floresta
longe do meio urbano? Enfim, são inúmeras perguntas que podem começar a ser
respondidas.
Sabe-se que o processo ocorre. Sabe-se também que existem animais na fauna
livre que também participam no ciclo da matéria, contudo estes animais também são
sistemas. Então há uma complexidade que permite que o sistema Bosque permaneça e se
mantenha em equilíbrio ou parcialmente em equilíbrio até hoje.

No aspecto florístico, a perturbação do equilíbrio do sistema ocorre pela
existência de uma espécie invasora conhecida como Rabo de Peixe Caryota urens L, que
é uma palmeira endêmica da Ásia (Índia, Bruma, Sirilanka e Malásia). O que se tem de
concreto é que esta espécie provoca uma desorganização do sistema. Por ter uma
dissipação muito rápida e eficaz, ela é a mais perigosa ao Sistema Bosque, pois ainda
conta com um mecanismo que contamina outras árvores com uma espécies de fungo
(ferrugem). Esta espécie inclusive está presente em cerca de 80% dos canteiros do
Bosque (considerando indivíduos Adultos, Jovens e Plântulas), ou seja, se nada for feito,
em pouco tempo o Bosque como conhecemos pode tornar-se um jardim de palmeiras.
Há outros fatores que também contribuem para a perturbação do sistema, entre
eles determinados fungos, bactérias, parasitas, excesso de umidade, o próprio lixo
produzido pelos visitantes, animais que são jogados para dentro do Bosque, entre outros.
Estes fatores devem ser estudados qualificados e quantificados para determinar o quanto
cada elemento contribui para a perturbação do sistema.
4. Geotecnologia
Com o avanço do meio técnico cientifico, diversas ciências tiveram que se adaptar
as tecnologias que foram surgindo, particularmente nas ultimas décadas. Com a
cartografia não foi diferente. Os lançamentos de satélites à estratosfera com a finalidade
de imagear a terra e facilitar a navegação com os satélites do Sistema de Posicionamento
Global (GPS) revolucionaram essa ciência e a própria Geografia, que faz uso da
cartografia, do Geoprocessamento, do Sensoriamento Remoto, e do Sistema de
Informação Geo-Referenciado (SIG) para analisar o espaço onde ocorrem os fenômenos
provocados tanto pelo homem quanto pela natureza.
Geotecnologia neste contexto é, segundo Silva, a ciência dos meios (Scruton,
1982). É a arte e a técnica de estudar a superfície da terra e adaptar as informações às
necessidades do meios físicos, químicos e biológicos. Fazem parte da geotecnologia o
processo digital de imagens (PDI), a Geoestatística e os SIG’s (Silva, 2003).
A Geotecnologia vai espacializar determinada demanda do Bosque, sendo assim
os mapas mostrarão o que atualmente ocorre no local. Deverá informar, orientar e
canalizar esforços e ações a serem implementadas na atividade. Neste intuito é que o
Geoprocessamento e o SIG podem ajudar o Bosque a sanar seus problemas, além de
construir sua historia com o implemento de um banco de dados.
A montagem de um banco de dados é tarefa crucial e que demanda muito tempo,
recursos e pessoal especializado. Para se ter uma idéia, o custo de um banco de dados
excede o custo de equipamentos e aplicativos em pelo menos 2 vezes. Rowley e Gilbert
(1989) sugerem que 70% do custo de implementação de um SIG refere-se à montagem
de uma base de dados. O mais significativo elemento básico é o pessoal especializado, ou
seja, os especialistas em configurar, implementar e operacionalizar os SIG’s. eles devem
ter treinamento específico e possuir uma visão global de trabalho interdisciplinar (Silva;
2003).
A amarração das coordenadas geográficas indica que o lugar é único no mundo e,
através delas e de acordo com a formação acadêmica de cada um, aquele lugar passará a
ser identificado por alguma característica. No caso do Bosque, latitudes e longitudes
identificadas nos mostram que ele encontra-se ao sul da linha do equador, oeste de
Greenwich, na América do Sul, mais precisamente na Amazônia brasileira. Poderíamos

ainda aumentar a escala de detalhe passando de uma escala global/ regional para uma
escala local, onde o Bosque estará localizado no Estado do Pará, em sua capital Belém.
Conforme mapa a seguir.
Figura 2 – Composição de imagens Landsat _5_TM_20080814_223_061_I12_bandas 345.
Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução.
Daí observamos que o Bosque se encontra “encravado” em meio urbano, e que é
um fragmento de floresta ombrófila de terra firme, rodeada de construções em uma cidade
que tem poucas áreas verdes a oferecer a seus habitantes, tornando-o um enclave de
floresta em meio urbano.
A construção de um banco de dados permanente é de fundamental importância,
isto porque o Bosque precisa urgentemente do monitoramento e retirada de algumas
espécies arbóreas, como a já citada rabo de peixe. Além dela, outras espécies necessitam
de controle, dentre elas o Bambu Bambusa oldhamii e a Mangueira Mangifera indica.
Há que se fazer também o monitoramento das espécies nativas para controle
sanitário, identificando indivíduos doentes e ou parasitados, assim como necessidade de
podas e coleta de sementes. O Bosque possui ainda os animais de fauna livre, que devem
ser identificados e quantificados para se ter controle populacional, a fim de evitar outro
estresse ao sistema.
Sabe-se que muitas pesquisas e dados já foram gerados, porém como não há um
local em que estes dados possam ser armazenados de forma segura, muitos deles estão se
perdendo ou espalhados pela secretaria, o que nos leva a nova pesquisa e levantamento
do mesmo assunto: uma grande perda de tempo e dinheiro para refazer o trabalho que já
foi executado.
O mapa base 03 foi elaborado através de um arquivo de formato DWG encontrado
em um dos computadores do setor da flora do Bosque. A partir dele foi usado o software
Arc-Gis da empresa ESRI, para o Georeferenciamento do arquivo DWG. Nesta etapa foi
necessária antes a coleta de pontos de GPS no Bosque onde, para obter melhor precisão,
foram coletados dez coordenadas com a ferramenta Georeferecing. Com a área do Bosque
já “amarrada” em suas coordenadas geográficas, foi possível realizar um pequeno

trabalho de verificação da área dos lagos existentes no Bosque, e para isto foi necessário
a criação dos SHAPES (.SHP) no Arc-Catalog, e a construção dos polígonos
identificando o perímetro dos lagos. Posteriormente foi criado cada canteiro e construção
existente no local.
Figura 3: Localização do Bosque Rodrigues.
Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução.
Apesar da existência de um mapa base com a identificação da flora do Bosque,
este mapa está em mídia impressa e em condições precárias por ser exemplar único e
muito usado. Este mesmo mapa também está em forma digital no formato PDF, porém
não se sabe onde está o banco de dados que deu origem a ele.
Basicamente conseguiu-se até agora a construção de um mapa base, que será
usado para diversas atividades do corpo técnico do DGAE, departamento que se encontra
sediado no Bosque. Outro mapa derivado da Base foi o comemorativo aos 130 anos do
Bosque, ocorrido no dia 25 de Agosto de 2013.
Figura 4 : Mapa em formato DWG
Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução.

‘Hoje estão previstas diversas atividades em que a Geotecnologia pode ajudar:
monitoramento e retirada da palmeira rabo de peixe; identificação de umidade no solo
utilizando a agricultura de precisão; quantificação da serapilheira; rede de água, esgoto,
energia, telefonia e internet; monitoramento da fauna livre, rotas de alimentação, abrigos
entre outros; prédios e construções; identificação de trilhas para educação ambiental;
mapas temáticos; e geomarketing, que será descrito a seguir.
O Geomarketing também pode ser usado no Bosque, inicialmente com o publico
flutuante de visitantes e turistas. Desta forma, os dados obtidos com este levantamento
orientarão futuras intervenções no espaço para atender melhor determinadas demandas
que hoje o local não atende. Para tal, é necessário saber a renda deste visitante, sua
escolaridade, seu deslocamento até o bosque, quanto tempo ele esta disposto a ficar no
local, se há suporte para que o visitante possa prolongar sua visita, o que ele acha do
serviço prestado, se ele esta disposto a pagar mais por um serviço melhor e quanto a mais
seria este percentual, o que ele quer ver, o que ele quer comprar, a intenção é traçar um
perfil completo do usuário do bosque, quantificar e qualificar este usuário.
A intenção de aplicar o questionário é gerar mais um banco de dados que poderá
ser transformado em mapas temáticos identificando, por exemplo, de onde vem estes
visitantes, se a maioria é de Belém ou dos municípios da região metropolitana, destacando
Ananindeua e Marituba. A identificação do bairro de origem, principalmente da capital,
é um fator considerável pois verificaremos se a distância influencia na opção da busca
por lazer, constatando então quem visita mais o Bosque, se o que esta mais perto ou o que
está mais afastado.
5. Metodologia
Visando a utilização de ferramentas de sistema de informação geográfica – SIG para
caracterização da melhor necessidade, foram utilizados o software ArcGis 10.0,
licenciado pelo Laboratório de Análises Espaciais Logística e Transporte – LAELT
localizado na Faculdade Ideal – FACI, para o geoprocessamento dos dados geográficos
obtidos, e a confecção dos mapas temáticos. Assim, segue algumas diretrizes para uma
organização adequada, sendo elas o nível compilatório, o nível correlativo, o nível
semântico e por fim o nível normativo, considerando as seguintes etapas descritas por
Ross (2000).
Figura 5 – Resultado.
Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução.

7. Conclusões
Confirmamos que até hoje o Bosque continua sendo usado como área de lazer,
descontração, passeio com a família, visita de turistas e serve também como local de
solenidades públicas; muito mais do que um lugar na cidade, é um local de boas
lembranças principalmente da infância quando íamos passear no Bosque. Ele é a extensão
de nossos quintais, daí ficarmos decepcionados com as condições atuais em que se
encontra.
Atualmente Bosque Rodrigues Alves, necessita de várias intervenções em todas
as áreas, principalmente no que se refere aos recintos dos animais que, segundo
notificações do IBAMA, estão fora dos padrões aceitos. Hoje o Bosque pertence à rede
de jardins botânicos na categoria C provisória, e precisa de muito mais recursos e
pesquisas para que eleve de categoria até atingir o padrão A na rede. A Geotecnologia
está aí para subsidiar estas pesquisas que qualificarão o Bosque como centro de pesquisa
e excelência e ,quem sabe, transformá-lo em uma Fundação .
A velocidade com que as informações são obtidas atualmente exige da
administração publica a tomada de decisão muito mais rápida do que outrora, uma vez
que se tratando da gestão publica quanto mais rápida for esta decisão melhores serão os
resultados menores os investimentos necessários.
No mais, o Bosque deve servir de modelo para outros parques da cidade como o
parque do Médici, e também de outras áreas verdes a serem criadas como o Parque
Amazônico e o Parque do Mosqueiro, e também região das ilhas de Belém, com destaque
para o Combú e Cotijuba. Hoje o DGAE que é responsável por estas áreas, e possui um
corpo técnico capacitado para realizar o plano de manejo, cabe à SEMMA e à Prefeitura
de Belém possibilitar estes estudos. Cabem agora estudos para que o sistema Bosque seja
por completo decifrado ou descrito, garantindo assim sua existência às futuras gerações.
Mapa 4 : Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da Amazônia.
Fonte: Cunha e Silva. Projeto em execução.

8. Referências
ATHAYDE; Rita de Cássia Lemos de;Estrutura Populacional e invasividade da Palmeira
Rabo de Peixe (Caryota urens L. ARECACEAE) : no tratamento de floresta primária em
área urbana.Jardim Zoobotânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves .Belém—
PA:Janeiro.Faculdade Ideal/FACI,(2009).
BELÉM ,Prefeitura de ; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Departamento de
Gestão de Áreas Especiais,relatório Técnico, Bosque Rodrigues Alves.Jardim
Zoobotanico da Amazônia, solicitação de registro e Enquadramento de Jardins Botânicos
. Belém-PA.Novembro.(2011).
BELÉM, Prefeitura Municipal de. Bosque Rodrigues Alves suas Historias e seus
Atrativos. Secretaria de Comunicação Social (SECOMUNS),Belém (1998).
BERTALANFFY, Ludwing Von, Teoria Geral dos Sistemas: Fundamentos,
desenvolvimentos e aplicações; tradução de Francisco M. Guimarães—5ºed. Petrópolis,
RJ: Vozes,(2010).
CHRISTOFOLETTI,Antonio. Geomorfologia; São Paulo:2º edição/ Editora Blucher,
(1980).
_________Modelagem de Sistemas Ambientais ; São Paulo. Editora Edgar Blücher
LTDA,(1979).
GUERRA, Antonio Teixeira. GUERRA, Antonio José Teixeira; Novo Dicionário
Geológico Geomorfológico –8º Ed .Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,(2010).
LANG,Stefan .BLASCHKE,Thomas; Análise da paisagem com SIG; Tradução:
L.Hermann Kux. São Paulo : Oficina de Texto, (2009).
SILVA, Ardemirio de Barros, Sistemas de Informações Geo-referenciadas : conceitos e
fundamentos: Campinas, SP; Editora da UNICAMPI, (2003).

O PAPEL DA MÍDIA NO PROCESSO DA VIOLÊNCIA
Jorge Alberto Ramos Sarmento1, Savio Rangel U. Santiago1
1Curso de Direito – Faculdade Ideal (FACI)
[email protected],[email protected]
Abstract: That paper discusses, albeit very briefly the problem of violence and
their "modus operandi" from the new communication mechanisms of modern
life, in which sobrassai media and more particularly television as part diffuser
symbolic violence and more recently started using the spectacle and the
glamorization of such violence as a social control mechanism.
Key-Word: violence, media, rule of law
Resumo: O referido trabalho pretende discutir, ainda que de forma muito breve
o problema da violência e seu “modus operandi” a partir dos novos
mecanismos de comunicação da vida moderna, no qual se sobressai a mídia e
de forma mais particular a televisão enquanto elemento difusor de uma
violência simbólica e que mais recentemente passou a utilizar a
espetacularização e a glamourização dessa violência enquanto mecanismo de
controle social.
Palavras Chaves: violência, mídia, estado de direito
1. O fenômeno violento e o Estado Democrático de Direito.
O Estado se vê refém da violência e isso é bem mais que um simples fato. É uma realidade
estarrecedora. A proliferação do tráfico de drogas, que vem invadindo escolas, presídios,
creches, famílias e até hospitais é apenas um dos alarmantes problemas sociais graves que
atravessamos. Têm-se os graves problemas sociais e de saúde pública em consequência
do aumento devastador dos números de viciados em crack e outras substancias bem
piores, o que também repercute como fenômeno violento. Além disso, o tráfico de armas
e acentuado desenvolvimento do crime organizado têm sido uma das estruturas de um
“Estado de não-Direito, perigoso, desafiador e muito ousado que se alimenta do próprio
sistema protetivo e punitivo do Estado de Direito. Desse modo, Estado Paralelo,
parafraseando Canotilho, seria apenas um construto de Estado de não-Direito, e, portanto,
em colisão frontal com próprio Estado de Direito. Nesse sentido, em oposição necessária
ao Estado de Direito, trata-se não mais do governo das leis, mas sim do governo dos
homens violentos, pois que toda noção de certo e errado, de possível Justiça, baseia-se na
potencialidade de dano ou de uso da violência que se possa infringir ou direcionar ao
adversário. Assertiva o autor:
Tomar a sério o Estado de Direito implica, desde logo, recortar
com rigor razoável o seu contrário – o "Estado de não direito".
Três ideias bastam para o caracterizar: (1) é um Estado que
decreta leis arbitrárias, cruéis ou desumanas; (2) é um Estado em
que o direito se identifica com a "razão do Estado" imposta e
iluminada por "chefes"; (3) é um Estado pautado por radical

injustiça e desigualdade na aplicação do direito (CANOTILHO,
1999, p. 12).
Somada a essa instintuinte e contracultural força violenta cujo formato se
aproxima muito bem do entendimento diretamente dicotômico e antitético do Estado
Oficial, tem-se, também, que o que os textos jornalísticos e os profissionais de segurança
pública denominam de “crime desorganizado”, que é o joio das condutas criminis
dispersantes e probabilisticamente determináveis, seja por um coerente estudo em
criminologia, seja pelo positivismo mais puro aplicado como “técnica” de ciências
sociais. O que se pretende dizer é que existe, sem rigor teórico algum, uma plataforma de
pessoas violentada e excluídas dos bens culturais e patrimoniais, o que produz e
desenvolve “microvilosidades antissociais” tendentes à proliferação de “condutas
criminis”, as quais estão endogenamente entrelaçadas, sem casuísmo algum, à
vulnerabilidade social e histórica, além de correlacionada a outras espécies de crimes,
como o tráfico de drogas, assassinatos, roubos, por exemplo.
A violência é o gênero conglomerante de todo e qualquer repertório de condutas
delituosas e agressivas aos valores convencionados e tutelados pela Ordem Jurídica. É a
ruptura antijurídica mais devastadora que o próprio crime, pois este se tipifica na conduta
e pode ser com ou sem resultado naturalístico, mas aquela, pelo contrário, repercute
violentamente na elaboração de “construtos valorativos transmutados”, antissociais,
“delinquíveis” e potencialmente reproduzíveis.
Sérgio Adorno já esboçara este cenário ao abordar criticamente as contribuições
de Ralph Dahrendorf que na obra Law and Order,
Sustém sua interpretação do dilema da sociedade contemporânea: as
lutas em torno do contrato são concomitantes a um processo reverso,
qual seja, caminhamos inexoravelmente para a anomia, isto é, para
a erosão da lei e da ordem, cujo principal indicador é a atual
incapacidade do Estado de cuidar da segurança dos cidadãos e de
proteger-lhes os bens. Em que se apoia essa constatação de
Dahrendorf? Em fatos, mais propriamente, nas tendências mundiais
ao aumento dos crimes e nas taxas sugestivas de uma retração na
capacidade punitiva do Estado (ADORNO, p 23).
No mesmo sentido, Cezar Bitencourt esboça o seguinte cenário ao mencionar a
amplificação do Direito Penal: Tradicionalmente as autoridades governamentais adotam uma
política de exacerbação e ampliação dos meios de combate à
criminalidade, como solução de todos os problemas sociais,
políticos e econômicos que afligem a sociedade. Nossos
governos utilizam o Direito Penal como panacéia de todos os
males (direito penal simbólico); defendem graves transgressões
de direitos fundamentais e ameaçam bens jurídicos
constitucionalmente protegidos, infundem medo, revoltam e ao
mesmo tempo fascinam uma desavisada massa carente e
desinformada. Enfim, usam arbitrária e simbolicamente o direito
penal para dar satisfação à população e, aparentemente,
apresentar soluções imediatas e eficazes ao problema da
segurança e da criminalidade (BITTENCOURT, 2013, p 440).
A preocupação de Bitencourt foi justamente em estabelecer critérios para facilitar
estudo e possível intervenção do Estado do que denominou de violência organizada (cujo

subproduto é o crime organizado), violência moderna (a violência stricto sensu
telemática, do colarinho branco) e violência de massa (o caldo mais grosso de todas as
condutas criminis, o crime desorganizado).
A maioria das políticas públicas se volta para o estudo e para o controle da
violência visível, seja ela moderna, organizada ou de massa. Esse é o tipo de controle
morfológico exercido pelo aparelho estatal, que age muito mais pela coerção do que pela
prevenção, até porque o nível de prevenção confia o estado ao Direito Penal e sua
capacidade de punir.
Autores clássicos como Durkheim, Webber, Habermas, Dahrendorf apresentaram
estudos paradigmáticos de relevantes parâmetros epistemológicos para a ciência
sociológica no que tange o fenômeno da criminalidade, da ética e das instituições,
enquanto síntese subjetiva da racionalidade. Esses estudos contribuíram no sentido de
instrumentalizar as análises pertinentes às estruturas e instituições imbricadas na
dinâmica do sistema capitalista, possibilitando desenvolvimento de uma teoria social das
estruturas e das formas controle potencialmente simbólicas na reprodução dos
mecanismos de controle.
Para fins de contribuição a uma teoria dos “valores” violentos, cabe ressaltar a
importância das diferenças que existem entre as terminologias “violência”, esboçada aqui
em sentido amplo, “criminalidade”, enquanto propriedade latente e autônoma do
fenômeno “violência”, e crime, enquanto conceito jurídico stricto sensu. A diferença entre
esses conceitos se faz imprescindível, mormente o uso indiscriminado, manipulativo,
deformador, arbitrário e pouco técnico que tais termos vêm sofrendo pela mídia e,
atualmente, também nas redes sociais. Entretanto, a proposta conceitual é simples e
baseia-se, idiossincraticamente, na tese de que o cerne da questão são as relações de poder
assimétricas, a desigualdade a propulsora mola triunfante de todo e qualquer sistema de
exclusão.
O objetivo do presente artigo é esmiuçar o fenômeno violência e da criminalidade
(diferenciando-os) no sentido de alcançar uma análise psico-sociológica capaz de
albergar e identificar “arquétipos delictus” que desenvolvem e reproduzem formas de
construções simbólicas potencialmente delituosas, violentas e criminosas, e dessa forma
constituir a proposta de parâmetros para a adequação de ações preventivas para controle
de criminalidade. O principal recorte epistemológico dessa análise pretende apresentar
uma crítica à postura espetaculosa da grande mídia e a objetivação do sensacionalismo e
do populismo midiático enquanto instrumento puniendi da repercussão e manutenção do
fenômeno violento.
A implicação destrutiva do conteúdo violento midiático, quando utilizado
arbitrariamente contribui sobremaneira para a instalação de uma “cultura do crime” e da
impunidade que põe em xeque não somente as estruturas institucionalizadas e
democráticas como também os próprios direitos fundamentais.
2. Distinção entre crime, violência e criminalidade
A diferenciação entre os conceitos é deveras importante para os objetivos do presente
artigo, uma vez que tais termos sofrem diariamente bombardeios deturpadores, arbitrários
por parte da grande mídia e das redes sociais em virtude do forte apelo que tais veículos
de comunicação fazem objetivando de forma irresponsável e repugnante a amplificação
do Código Repressor, atacando muitas vezes as exceções como regra para “argumentar”
o descrédito das instituições públicas e do estado democrático de direito, manifestando
claramente interesses elitistas e de manutenção do status assimétrico das relações de
dominação.

Dessa forma, far-se-á imprescindível essa teorização no sentido de que na sessão
discussão esboçaremos que no nível superestrutural os construtos simbólicos
relacionados ao fenômeno violência estruturam e dinamizam processos de naturalização,
internalização e homogeneização de condutas criminis, as quais são reproduzidas em uma
atmosfera de latente tendente à criminalidade.
Procurar respostas e solução para a questão sobre o que leva as pessoas a
cometerem atos de violência é uma tarefa extremamente difícil e não se encontra
exclusivamente em nenhuma ciência, e isso inclui a ciência jurídica também. O aumento
exponencial da violência, ao lado do desemprego, é um dos maiores problemas
enfrentados pela contemporaneidade, principalmente em países historicamente
assimétricos como o Brasil. Tal fato tem contribuído para que vários pesquisadores de
diversas disciplinas tenham tratado o tema de maneira especial e interdisciplinar,
investigando suas causas e propondo políticas efetivas de combate a esse flagelo da
autodestruição social.
Durante algum tempo, mais especificamente, antes do advento da Dignidade
Humana (Art. 1°, III CFRB), como diretriz programática constitucional de nossa nova
República, o estudo da violência era enviesado epistemologicamente enquanto fenômeno
sociológico e psicológico da sociedade brasileira, com a complexidade histórica da
desigualdade enquanto fenômeno matricial embrionário da criminalidade. Esse era o viés
padrão. Eram poucos ou escassos os trabalhos enfocados pela óptica jurídica, apesar da
grande contribuição da Sociologia Jurídica e o estudo da criminologia pelo prisma
sociológico do direito.
Autores clássicos como Durkheim, Webber, Habermas, Dahrendorf apresentaram
estudos paradigmáticos de relevantes parâmetros epistemológicos para a ciência
sociológica no que tange o fenômeno da criminalidade, da ética e das instituições,
enquanto síntese subjetiva da racionalidade. Esses estudos contribuíram no sentido de
instrumentalizar as análises pertinentes às estruturas e instituições imbricadas na
dinâmica do sistema capitalista, possibilitando desenvolvimento de uma teoria social das
estruturas e das formas controle potencialmente simbólicas na reprodução dos
mecanismos de controle.
Entretanto, a violência como matriz das condutas delituosas e antissociais possui
uma tradição epistemológica respeitável na antropologia e na psicologia, seja esta
comportamental ou psicanalítica. E essa propriedade referencial deve contribuir bastante
para uma teoria social acerca dos arquétipos da violência, afinal toda conduta é
comportamento, mas nem todo comportamento gera obrigatoriamente condutas, pois o
comportamento é um evento endógeno (produtos da consciência, o pensar, a intenção, a
construção simbólica, as subjetivações e conceitos) e sociologicamente exógeno, ou seja,
externo, social, intersubjetivo. A conduta é exógena, morfologicamente visível. Eventos
privados como o pensamento e a subjetivação não estão no campo da conduta, mas sim
do comportamento. (Skinner).
Essa distinção é deveras importante para efeitos teóricos, pois enquanto a
violência se relaciona com a complexidade de comportamentos, por esta mais ampla, o
crime, por sua vez, se relaciona mais apropriadamente com a conduta. É a conduta
subsumida ao tipo penal abstrato e genético que configura o delito puniendi.
Discutisse a questão do animus (furandi, laedendi, necandi), pois tais conceitos
são importantes para se verificar, por exemplo, a intenção do criminoso (crime culposo,
dolosos, preterdoloso). E de fato, essa construção anímica é deveras importante em
matéria de acusação e defesa. Entretanto, O animus, seja ele "necandi", "laedendi",
"furandi" é sempre uma inferência plausível ou não sobre (e sob) a conduta, que pode ser
dolosa, culposa ou preterdolosa! A conduta é o revestimento da pulsação anímica. É ela

que acoberta a inferência; e ela que deixa os resquícios. O animus sem a conduta não é
crime. Ainda que "intercrimes", é necessário sempre o revestimento exógeno da conduta,
pois ao fato subsumido sempre precede a abstração típica.
Superada esta distinção litigiosa entre conduta e comportamento, o referido
esboço versa sobre condutas criminis e sua manutenção, desenvolvimento e perpetuação
enquanto produtos diretos dos arquétipos do gênero violência. Arquétipos estes que
possuem, invariavelmente, potencialidade simbólica e ideológica para que o fenômeno
da violência seja uma representação antimoral, antijurídica e de ruptura superestrutural.
A violência é um fenômeno ontológico da condição humana bem mais antigo que
a própria compreensão de humanidade. É, sobretudo, o “necandi” da aderência que
fricciona as mais diversas formas de organização social, e assim como qualquer
complexidade de conduta e comportamento, produz seus efeitos simbólicos
potencialmente contraculturais.
A violência não é propriamente um crime, mas pode repercutir e reverberar para
os propósitos de um “inconsciente coletivo” delituoso, corrupto, torpe e desprezível. A
violência é a estrutura do crime, seu mecanismo totalizante, seu efeito sociologicamente
estruturado, seu telos necessário.
A violência é o gênero matricial da agressividade enquanto energia destrutível de
si mesmo, dos outros e toda uma coletividade. Acompanha a humanidade desde os
primórdios arborícolas mais primevos, e é uma consequência reversa e antropológica da
agressividade enquanto princípio do prazer incondicional em subjugar, predisposta a
destruir. Freud já tinha atentado para essa característica ontológica da violência em sua
obra “O Mal-estar na Civilização”. Freud analisou, por exemplo, a violência aplicada ao
delírio de massa, o qual identificou como sendo o componente mais destrutivo do
pensamento religioso, além disso, este autor esboçou a capacidade de absorção da
agressividade humana para os fenômenos violentos, os quais transmutam o significado
dos valores sociais, adaptando à realidade de exclusão.
A violência é um fato social, diferentemente do crime que é a inscrição da conduta
delituosa que protege os bens jurídicos mais caros à coletividade, sendo o crime, portanto,
o subsidiário recorte fatídico do fato social violento, pois sendo condição sine qua non, a
tipificação para ser crime, é este sumariamente a medida coercitiva do fato social violento,
do valor eleito para ser protegido e da norma puniendi, enquanto diploma repressivo
especial e geral. Esse é o conceito de violência para fins deste esboço.
O conceito de crime é, de per si, um conceito stricto sensu, técnico e de antemão
apropriado à contextos sociais e políticos. Existe crime sem penalização? Por certo que
sim. Existe crime sem previsão legal? Por certo que não? Existe crime sem violência? Por
certo que sim. Existe crime sem punibilidade? Sim, pois a punibilidade não é requisito de
fato típico, antijurídico e culpável. É esse é o conceito prevalente de crime.
O crime não é ontológico, e sim uma construção cultural estruturada social e
juridicamente, cuja finalidade é controle subsidiário de determinadas condutas. Nesse
sentido, as criminalizações não passam de mecanismos próprios do sistema penal para
distribuir o status de criminoso a alguns indivíduos. Esse silogismo seletivo do sistema
penal vai incidir com maior intensidade sobre setores mais vulneráveis da sociedade, alvo
da real violência estatal. No que tange aos estratos sociais privilegiados, a violência de
conteúdo real não é sentida, ficando limitada ao seu conteúdo simbólico.
Dessa forma, o crime repercute enquanto fato jurídico stricto sensu e a violência
enquanto fato social, mais amplo e veementemente totalizante das condutas criminis,
gerando crises éticas e psicológicas na consciência coletiva. Preleciona Alysson L.
Mascaro quando trata acerca do assunto em sua obra “Lições de Sociologia do Direito”,
utilizando-se de uma comparação entre o fato social e o fato jurídico:

O fato social, para Durkheim, é muito distinto daquilo
que o jurista chamará por fato jurídico. Para o jurista
moderno, determinados eventos têm a repercussão para
o direito, outros não. Em geral, ele identifica um fato
como sendo jurídico caso ele esteja previsto ou repercuta
no sistema de normas do ordenamento estatal. Os fatos
sociais, na perspectiva de Durkheim, são muito distintos
disso. Os fatos devem ser tratados como coisas, e sobre
elas deve incidir uma análise objetiva. Daí que os fatos
se apresentam com dados brutos, não qualificados
previamente segundo alguma norma ou mesmo segundo
algum juízo de valor. O fato jurídico já seria um fato
trabalhado a partir de alguma perspectiva, como a
normativa. O fato social não. Durkheim o deseja
compreender objetivamente, como uma coisa que se
apresente ao sociólogo. (MASCARO, 2007, p. 23).
Outro conceito que se relaciona intrinsicamente com violência e crime é o
conceito de criminalidade. Nesse esboço, desenvolve-se um conceito próprio de
criminalidade. Para tanto, há uma característica idiossincrática elementar do termo,
indicando ora quantum do crime, ora indicando índices de violência e “marginalidade”.
O cenário da criminalidade é o cenário das consequências do crime e da atmosfera
da violência que repercute e que de forma antecedente contribui chamamos de “sensação
de insegurança”, “sensação de impunidade”, ou seja, uma espécie latente de
dessensibilização do poder puniendi do Estado. Esse é o sentido latente de criminalidade.
Todas as áreas do pensamento humano se ocupam do fenômeno da criminalidade,
as Políticas Públicas, as organizações não governamentais, o Humanismo, a Ética, o
Direito, a Psicologia, as Ciências Sociais, a Religião, a Filosofia, enfim. Entretanto,
ninguém explora a criminalidade tão bem quanto à mídia e todo seu arcabouço jornalístico
e “redessocializável”. A mídia é o exaurimento da difusão da criminalidade, rendendo
aloprados picos de audiência, rendendo assim o mais novo “voyeurismo” da era pós-
neoliberal, a violência em bloco de “reality show”. Adiante discutiremos esta questão. No
momento importa o conceito próprio do termo criminalidade.
A criminalidade é como disse acima, o quantum do crime e da violência, sua
morfologia quantitativa, sua latência qualitativa, seus índices e sua notória audiência. A
criminalidade não possui só aspectos quantitativos, mas também se apresenta
qualitativamente em forma de significação, a “sensação de insegurança”, o nível ou grau
do quantum se têm de violência ou crime. Ou seja, a criminalidade é a atmosfera de toda
a violência que nos atinge, seu emaranhado próximo e longínquo. A criminalidade é a
instrumentalização simbólica da violência.
3. O mecanismo da violência a nível superestrutural
Não se pode falar em superestrutura sem citar o velho e saudoso Marx que contribui com
uma espécie de topografia dialética da manutenção e reprodução das relações
assimétricas.
Karl Marx quando desenvolveu seus estudos a respeito do capitalismo e das
relações de poder envolvendo a classe mantenedora dos meios de produção e a classe
proletária, despossuída que apenas detinha sua força de trabalho instrumentalizou suas
assertivas apropriadamente ao criar a topografia dinâmica das estruturas das relações
assimétricas. Desenvolveu Marx, os conceitos de infraestrutura econômica e
superestrutura ideológica. O clássico autor nada mais quis do que esboçar os mecanismos

de controle, quais se relacionam assimetricamente na determinação de valores e ideias
dominantes. Sistema ideológico este que era fortemente influenciado pelas bases
materiais detentoras das forças produtivas e da técnica de apropriação da natureza.
Um dos reformuladores da teoria marxista da história, mormente ao que tange às
formas de construção simbólica foi John B. Thompson. Este teórico enfatizou que não
era somente a base material econômica o aporte de todo o mecanismo ideológico
hegemônico, mas sim apenas um recorte desse dinâmico processo. Assim uma ideia
relativamente contracultural poderia mudar as estruturas sociais desde que houvesse um
contexto apropriado para aceitação de seu discurso, até porque não existe uma ideia que
não seja produto de uma precedente realidade. Na verdade, assim como para outros
teóricos, a exemplo de Antonio Gramsci, a topografia das relações assimétricas nem era
mesmo uma bilateralização de estruturas como definia o velho Marx. Os processos
simbólicos e ideológicos eram muito mais complexos, difusos, sobremaneira,
multipolarizados.
O que nos importa dessa teoria é a seguinte tese: os valores convencionais,
hegemônicos possuem prevalência sobre os valores contraculturais subjugados. Os
símbolos hegemônicos reverberam as ideias dominantes de um pensamento dominante
convencionado e tendente a manter relações de poder desiguais, favorecendo o
distanciamento até mesmo na produção de significados entre os agrupamentos sociais. O
nível de desigualdade material e imaterial é alarmante e circunscreve diversos riscos. Isso
se torna ainda mais perigoso para a proliferação do fenômeno violento cujo ataque será
tendente à totalizar os indivíduos mais vulneráveis. Mas não é simplesmente as ideias
dominante que reverberam o cerceamento de um instituinte e inovador pensamento com
o proposito ainda mais simples de manter relações de poder. Há também a própria força
de um símbolo, de um significado como bordeamento e contorno para sustentação e
manutenção de maiores desigualdades. Há para cada símbolo um ícone embutido, nesse
caso, como herói, ou seja, os arquétipos da manutenção.
Isso tudo acontece na superestrutura ideológica proposta por Marx e seguidores.
A base econômica material ao influenciar reprodução do pensamento convencional,
hegemônico e dominante com o intuito de preservar relações de dominação, preencherá
os componentes simbólicos dos arquétipos dessa dominação. As formas de construção
simbólicas são potencialmente ideológicas e controlam comportamento e condutas no
sentido da não ruptura, do status quo, da juridicidade.
Entretanto, em sentido contrário, como uma fatídica e obscura “teoria da
emancipação do fenômeno violento”, desenvolvem-se formas simbólicas (latentes) que
mantém, albergam e reproduzem condutas criminis. Esse mecanismo de contracontrole,
manutenção e reprodução de condutas antissociais, antijurídicas rompem com a
internalização e significado de valores morais, convencionais e com próprio ordenamento
jurídico.
Carlos Magalhães em seu esboço “Teoria Sociológica, Políticas Públicas e
Controle Do Crime” visualiza o fenômeno como consequência direta da vulnerabilidade
subcultural a qual são submetidos os indivíduos diretamente afetados a experiência do
fenômeno violento.
Na verdade, os valores e normas que são internalizados pelos
membros da subcultura determinam seu comportamento. Em
um ambiente onde a agressividade, a violência ou a
delinquência são normativamente prescritos a contra-norma
será a não- agressividade, a não-violência ou a não-
delinquência (Wolfgang e Ferracuti, 1970). Aqueles que não
adotam o comportamento prescrito são ostracizados. Não são

aceitos nos grupos que valorizam o comportamento contrário.
Miller, por exemplo, apresenta como particularmente
importantes, do ponto de vista dos adolescentes de classe
baixa, os grupos de convívio que se constituem nas ruas. Em
ambientes onde as famílias muitas vezes não podem cumprir
as funções de socialização que se atribuem a elas, o grupo de
colegas da rua assume essas funções. Tornam-se assim
fundamentais para os adolescentes. Cumprem funções
relativas à construção de identidade e ao aprendizado de
papéis sociais. Isso explicaria a forte pressão e a ampla adesão
ao comportamento desviante no caso dos jovens de classe
baixa. (MAGALHÃES, 1998, p. 25).
Por certo existem valores contraculturais de ruptura (radicais) e de não ruptura
(moderados, nivelados, diatópicos também). Para o estudo do fenômeno violência, em
seu sentido amplo, material e imaterial, laedendi-necandi, visceral e dissimilatório,
enquanto fenômeno sociológico de consequências sócio-políticas e psicológicas cabe
também observar a antijuridicidade enquanto propriedade incidente do fenômeno
violento.
Concluindo é possível vislumbrar que os arquétipos da violência encontram-se na
superestrutura de significação do próprio fenômeno violento, servindo para manter
relações desiguais, de dominação e de dissimilação material e moral de comportamentos
violentos. Ouso a dizer que, dentro dessa ótica, a mídia sensacionalista/populista
desempenha um papel quase que instrumental se não na criação, mas, por certo, na
reprodução de condutas criminis, permitindo maior “microvilosidades nas significações”
de fenômenos de ruptura social e jurídica, desestabilizando de forma perplexa, com o
pretexto da livre informação e do livre pensamento, os institutos do Estado Democrático
de Direito.
4. O papel da mídia no processo de banalização e espetacularização da violência
A mídia sensacionalista é o populismo imediato. É o casuísmo político. É o populismo
penal travestido de justiça. É a quimera invencível dos meios de manipulação de massa.
É a dose moral endógena do simbólico e a dose coercitiva exógena do significado. É a
forma transmutada do espetáculo.
Um grande professor, certa vez disse que “a notícia, hoje em dia, chega antes do
crime”. Com a velocidade da informação e com as grandes transformações
informacionais que atravessamos de forma volátil e sistematizada nos meios de
comunicação de massa e internet, é quase impossível não se operar a cada minuto
bombardeios maciços de ingredientes bombásticos, afinal é o que rende encanto,
audiência e liberdade para as pessoas.
Chamarei esse atributo sensacionalista da mídia de arquétipo “Cidadão Kane”,
justamente por ser esta apropriação a metonímia relativa à literatura britânica do magnata
Kane que tinha poderes de destruir mundos. A mídia sensacionalista/populista brasileira
que se dirige ao público mais desprovido de meios e bens culturais tira o mesmo proveito
de Kane, utilizando seu grande poder e influência para gerar a banalização de condutas
criminis, transformando o povo em tábula rasa, uma plateia dos grandes espetáculos
televisivos, recheados de voyeurismo.
Conforme procuramos estabelecer acima, não há como desconsiderar o relevante
papel da mídia no processo de difusão de ideias e na formação de consciências, sendo a
televisão um poderoso meio de comunicação de massas, onde de forma mais pertinente e
generalizada se processa a manipulação das mentes.

Nesse contexto, a violência aparece como um dos temas mais recorrentes na
mídia, tema esse que se encontra presentificado em quase toda a programação, seja esta
de caráter estritamente jornalística, seja nos programas de outros gêneros como desenhos
animados, telenovelas, filmes, etc.
Questões a respeito da televisão como produtora e difusora de violência, bem
como o papel da mesma numa sociedade que cada vez mais tem banalizado essa violência,
em função de uma ordem social cada vez mais caótica adquirem um papel extremamente
relevante. No entanto, nessas brevíssimas considerações pretendemos compreender tão
somente o caráter da mídia no que concerne tratar cada vez mais o problema da violência
como uma forma de “espetáculo”, o qual não obstante o seu sentido violento e brutal, se
torna um valioso instrumento capaz de prender o espectador, fato que tem levado muitos
estudiosos a relacionarem a televisão com a “caverna” descrita por Platão no Livro VII
da República, tendo em vista que na televisão encontramos as imagens, as sombras e todo
um repertório de elementos que nos tornam prisioneiros de uma realidade cada vez mais
alienadora.
A presença do crime e da violência nos meios de comunicação tem sido uma
constante, e testemunho disso são os programas de cunho policial a afins que atualmente
proliferam em âmbito regional e nacional, sem desconsiderar os programas de apelo sado-
masoquistas que fizeram e continuam fazendo sucesso, assim como as lutas livres que
sem dúvida alguma, apesar de se inserirem no rótulo de esporte, não se destituem de um
teor de violência. É o arquétipo necandi do voyeurismo em formato “reality show”.
Em um período que a violência atinge níveis alarmantes em nosso País, a qual
passa a ser o principal problema a ser enfrentado pela sociedade, é compreensível que o
tema da violência, embora de forma paradoxal, passe a integrar o repertório mais
espetacular das massas. Aos poucos a violência não somente se banaliza, mas também
atinge os níveis mais diversos de nossa existência social, nos lares, nas escolas, nas ruas,
enfim convivemos numa dimensão com a violência na qual o processo de
espetacularização da mesma se torna cada vez mais necessário.
Quando nos referimos aos meios de comunicação e de forma mais particular sobre
a televisão, é pertinente considerarmos a força do poder simbólico que a mesma exerce
sobre os indivíduos, o qual se manifesta em função de dar visibilidade aos fatos e às
pessoas. Um poder de fazer-ver e fazer-crer que não se encontra nas palavras, mas,
sobretudo, na legitimidade que lhe é conferida pelos que falam e pelos que escutam. Esse
poder simbólico, tão característico da televisão, da nossa caverna atual, não somente passa
a reproduzir as relações de poder, mas também apresenta formas de mudar o mundo,
fazendo com que os fatos, os acontecimentos e a própria história sejam orientados e
construídos a partir de uma determinada visão. Eis aí o grande potencial ideológico da
mídia e da plataforma televisiva, não é a tão que em todas as partes do mundo aqueles
que exercem o poder da mídia exercem o verdadeiro poder de ver o mundo. A esse
respeito Bordieu acrescenta:
O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de
fazer ver e crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo; poder
quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela
força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização,
só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário.
Isto significa que o poder simbólico não reside nos “sistemas
simbólicos” em forma de uma “illocutinary force” mas que se define
numa relação determinada – e por meio desta – entre os que exercem o
poder e os que lhe são sujeitos, quer dizer, na própria estrutura do
campo em que se produz e se reproduz a crença (BORDIEU, 1989, p.
14).

Em nosso país, a televisão tem adquirido uma importância cada vez maior na vida
das pessoas, passando inclusive a suprir a falta de cultura, de informação escrita e até de
formação escolar da maioria da população. Nesse sentido, acrescenta-se a isso o fato que
o grau de poder da televisão em uma sociedade depende do grau de controle democrático
existente. Em sociedades de natureza mais autoritária como é o caso da sociedade
brasileira, que em pleno século XXI “não consegue concretizar os princípios do
liberalismo e do republicanismo” (Chauí, 1994, p. 47), a televisão passa a exercer um
poder maior através de sua programação, dando forma aos embates políticos e sociais,
assim como determinando a agenda de questões a serem discutidas ou priorizadas pelos
corpos políticos.
Nas últimas décadas tem-se observado a contribuição dos meios de comunicação
para a disseminação da violência produzindo a sua dramatização de forma
espetacularizada, na tentativa de atrair e garantir, cada vez mais a audiência. Em tais
circunstancias, a violência passa a adquirir uma conotação de mercadoria, e, portanto, um
produto de consumo, sendo que tal consumo passa a integrar o próprio processo de sua
produção, sob a forma de representação. Eis ai a construção do arquétipo da plataforma
performática televisiva, em que as espetacularizações atinge indiscriminadamente até o
mais simples mortal: arquétipo truman, em alusão ao filme “The Truman Show”, em que
um homem simples tem a sua realidade construída por um programa televisão. Essa é
uma violência em formato espetacularmente invisível, pois a sustentação popular
envolvida no voyeurismo de massa.
O processo de espetacularização da violência toma como referência os fatos do
cotidiano, retirados de seu contexto concreto e transmitidos na forma de eventos
fragmentados e desprovidos de sua vinculação com a história, com a sociedade e com a
economia, de sorte que a partir dessa lógica não interessa a um programa policial de
televisão mostrar os crimes de colarinho branco, os bandidos responsáveis por lesar os
cofres públicos, mas sim em mostrar os ladrões de galinhas, os meliantes, os marginais,
enquanto personagens que passam a ser considerados o grande problema da sociedade.
Em suas reflexões a respeito desse novo poder da mídia, o qual continua crescendo
a um ritmo acelerado em detrimento a passividade do púbico espectador, destacamos:
Nunca a tirania das imagens e a submissão alienante ao império da
mídia foram tão fortes como hoje. Nunca os profissionais do espetáculo
tiveram tanto poder: invadiram todas as fronteiras e conquistaram todos
os domínios – da arte à economia, da vida cotidiana à política -,
passando a organizar de forma consciente e sistemática o império da
passividade moderna (DEBORD, 1997, p.12).
Nesse processo de espetacularização, o que se torna elemento primordial é
justamente a capacidade de comover e mexer com os sentimentos, pouco importando a
forma pela qual a informação passa a ser apresentada, sendo o mais importante a
padronização de comportamentos, dando um tratamento para as notícias a partir de um
ponto de vista de “produtos” sujeitos à “lei de mercado”, surgindo em consequência disso
o recurso ao sensacionalismo e à violência através da glamourização do crime e a criação
de estratégias de sedução dos telespectadores. A esse aspecto de padronização midiática,
denominarei de arquétipo cimento social, posto que as notícias veiculadas em “formato
padrão” e em bloco possuem o telos de controlar e colmatar comportamentos com pre-
versões maniqueístas e de sentenças malévolas, costurando assim um significado moral
televisivo e por fim homogeneizando notícias de conteúdos diversos. Tudo na tentativa
de colmatar o vazio de mentes televisivas com os espetáculos maniqueístas.

Nesse sentido, percebe-se que no chamado mundo do espetáculo, ou propriamente
a espetacularização do mundo, desaparecem as fronteiras entre jornalismo,
entretenimento e publicidade, na medida em que tais categorias passam a estar orientadas
para um único objetivo. E é justamente a partir desse ponto de vista que a rede televisiva
passou a ser transformar numa das principais fontes de construção da realidade social,
através da difusão de modelos de comportamentos, estilos de vida, hábitos de consumo e
opiniões políticas entre outras coisas. A violência operandi desse mecanismo também
constrói, desenvolve, adapta e fortalece os arquétipos de manutenção da plataforma
midiática e da rede televisiva.
5. Conclusão
A violência dissimilatória, visceral e os níveis de desigualdade que se encontram no bojo
do fenômeno violento possuem consequências relacionais e funcionais que estruturam
potencialidades ideológicas antissociais e de ruptura jurídica. A antijuridicidade material
que acompanha de forma incidental o fenômeno da violência é apenas uma das formas de
observar como se processa a internalização dos construtos simbólicos potencialmente
nocivos à coletividade. Nesse cenário, repleto de significados de rupturas sociais, a mísia
e plataforma televisiva performatiza a construção de uma subjetividade “deformática”,
agregando “contravalores” que desestabilizam os institutos do Estado Democrático de
Direito e os direitos fundamentais, afinal o fenômeno violento e sua performática e
legendária apreciação é um dos mais sofisticados mecanismos de controle de
comportamentos. O que sustenta o mecanismo desse controle é a produção simbólica de
arquétipos midiáticos que potencializam violentamente as formas desiguais, proliferando
na subjetividade coletiva um novo “mal-estar na civilização”, não tão freudiano, mas
inigualavelmente pulsional, simbólico e violento.
Embora que reconhecidamente a mídia não possa ser considerada como a única
causa da influência da violência na sociedade, ela é parte integrante, no entanto, de um
conjunto de fatores considerados como decisivos para o reforço e manutenção dessa
violência e até mesmo pelo processo de proliferação da mesma, na medida em que existe
hoje um número cada vez maior de telespectadores que cada vez mais são influenciados
pelas programações, as quais passam a contar com mecanismos mais sutis de atingir as
consciências coletivas através do apelo à espetacularização e glamourização da violência.
REFERÊNCIAS
ADORNO, Sérgio. Conflitualidade e violência: reflexões sobre a anomia da
contemporaneidade. Tempo Social; Rev. da USP, maio/1998.
BITTENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
BORDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra:
Almedina, 1999.
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1974.
MAGALHÃES, Carlos Augusto Teixeira. Teoria Sociológica, Políticas Públicas e
Controle do Crime. Caderno de Filosofia e C. Humanas n° 11 – outubro/98 disponível
em http://www.policiaeseguranca.com.br/teoria_soc.htm. Acessado as 22:45,
19.11.2013.
MASCARO, Alysson L. Lições de Sociologia do Direito, São Paulo: Quartier Latin,
2007.

O DIREITO À CIDADE E SANEAMENTO BÁSICO: uma análise do
Programa de Recuperação da Bacia Hidrográfica da Estrada
Nova/PROMABEN, de Belém/PA, 2013.
Manoel Alves da Silva1, Lucidéa de Oliveira Santos2, André Luiz Silva e Silva3,
Rildo Jardim Santos4 e Mateus Souza4
1Professor doutor em Ciências Ambientais e pesquisador financiado. - Faculdade Ideal.
Universidade do Estado do Pará. [email protected] 2Professora mestra em Planejamento do Desenvolvimento - Faculdade Ideal.
[email protected] 3Professor especialista em Geografia – Faculdade Ideal e IFPA. [email protected]
4Bolsistas do PIBc - ABRADESA - Faculdade Ideal
Abstract: This article presents the partial results of a research entitled “Analysis of the project
of Estrada Nova’s river basin recovering (PROMABEN)”. It shows and analyses the
relationships between the accesses to the basic sanitation services and the practice of the rights
to the city. A population that does not have access to drinkable water, sanitary sewers, treatment
of stormwater, management of solid waste, public lighting, paving and drainage, is having its
rights to the city, while the rights to the urban life is usurped. This dynamic, results on the
constitution of socio-enviromental segregation of spaces, the analysis object, as primarily by
imaging studies.
Key Words: Basic Sanitation, PROMABEN.
Resumo: O artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa intitulada “Análise do Projeto
de Recuperação da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova (PROMABEN)”. Demonstra e analisa
as relações entre o acesso aos serviços de saneamento básico e o exercício do direito à cidade.
Uma população que não tem acesso à água potável, esgotamento sanitário, tratamento de aguas
pluviais, gestão de resíduos sólidos e iluminação pública pavimentação drenagem está tendo o
seu direito à cidade, enquanto direito à vida urbana, usurpado. Esta dinâmica resulta na
constituição de espaços de segregação socioambiental, objeto de análise deste estudo,
precipuamente, a partir de estudos de imagens.
Palavras Chaves: Saneamento Básico, PROMABEN.

1. Introdução
Ledroit à laville ne peut se
concevoircommeunsimpledroit de visite oude
retourverslesvillestraditionnelles. Il nepeut se
formuler que commedroit à
lavieurbaine,transformée, renouvelée. Lefebvre,
Henri (1968). In Le droit à laville, Ed. Economica,
3ième édition, 2009, p108.
Estamos de fato condenados a vivermos em cidades? Lefebvre (2009) se reporta a Robert
Park e reitera que esta é uma condição imposta à humanidade pelo capitalismo. A cidade
supre ao capitalismo oferecendo infraestrutura às demandas cada vez mais especializadas,
seja em relação à mão de obra, matéria prima, recursos naturais, sejam logísticas
rodoviárias, aeroviárias, ferrovias e energéticas (hidrelétricas, por exemplo). Instituições
são construídas fazendo parte da cidade, dotando-a de novas funções. Mas, esta disputa é
também travada no campo das lutas simbólicas, na construção das imagens, dos símbolos,
dos significados, nos costumes e nas tradições definindo o que moderno e o que é
tradicional, transformando as cidades em mercadorias.
Neste contexto, qual é o papel e o espaço atribuído às pessoas? Cada vez mais a
disputa do espaço na cidade está se tornando um dilema, posto que os seres humanos terão
de conquistar o direito à cidade, uma vez que a logística construída, é inversa, visa
prioritariamente assegurar a circulação da mercadoria não estando na sua pauta viabilizar
qualidade de vida.
As cidades assumem a condição de base logística para a ação do capital conectada
por diferentes sistemas. Este impõe o controle social, político e cultural sobre o território.
As cidades estão cada vez mais fragmentadas, divididas em diferentes partes e separadas
por limites tênues. Criou-se a sensação de que se vive numa cidade na qual existem
microcidades, ou seja, territórios das elites contrastando com os territórios dos segregados
(Lefebvre, 1968).
É mister fazer a observação de que as políticas governamentais desenvolvidas a
partir das décadas de 1960 e 1970, direcionadas para Amazônia Legal, davam prioridade
às atividades madeireira e pecuária e logística visando a integração territorial, e a inserção
da região no capitalismo industrial. Neste caso, o Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento traz uma concepção de desenvolvimento consubstanciada na proposta
de polos envolvendo diferentes áreas: florestal; agroindustrial; madeireira; mineral;
siderúrgica; papel e celulose. Com esta proposta, o Estado faz uma opção, no sentido de
mudar a base produtiva da região, dotando-a de uma logística urbana industrial.
A estrutura sócio-política, segundo Becker (1994), caracteriza-se por um
momento histórico denominado de “abertura de fronteiras”, que se deu pelo deslocamento
induzido de massas populacionais e de recursos financeiros para o local. As mudanças
influenciaram as estruturas de poder vigentes na região, sobretudo as situadas em escala
local, uma vez que estas estavam sob controle do poder oligárquico.
À medida que as relações e as estruturas econômicas são modificadas, as
estruturas políticas existentes ficam obsoletas, ou melhor, há um conflito de interesses
entre os antigos grupos políticos e as novas lideranças. Esse fato provoca um novo arranjo
institucional, por meio da divisão do poder que adquire materialidade na criação de
“novas cidades” urbanizadas nas quais se articulam diferentes culturas. Passa-se a

vivenciar permutas de experiências e propagandeia-se um novo ideário de
desenvolvimento social.
A divisão do trabalho fica cada vez mais especializada construindo complexas
relações entre o capital e o trabalho. Desta forma as médias cidades passam a ficar
conectadas às grandes cidades, os centros de decisão do mundo capitalista.
Neste contexto e partindo-se dessa situação, apresentamos as seguintes questões:
A sustentabilidade ambiental nas cidades amazônicas é possível? Sobretudo
considerando-se que cerca de 30% de todas as espécies de fauna e flora do mundo
encontram-se na Amazônia, por tratar-se da maior floresta tropical do planeta detentora
de serviços ecológicos, estratégicos em particular em época de aquecimento global e, de
recursos hídricos tornando-a objeto de interesses internacionais (Becker, 1995). É
possível tratar-se da questão urbana na Amazônia, no contexto do desenvolvimento
sustentável, incluindo crescimento econômico, subordinando-os á lógica da
sustentabilidade sócio ambiental?
A população da Amazônia e seu território - constituída majoritariamente por
índios, mestiços, caboclos, brancos, negros, distribuída no interior e no entorno da
floresta, com costumes e tradições das mais diversas – passaram por profundas mudanças
decorrentes do projeto de modernização capitalista implementado pelo governo federal,
sobretudo a partir da década de 1960 e até os dias atuais, segundo Aragon, apud Silva
(2006). No século XXI a população da Amazônia, significativamente, está nas cidades
segundo BECKER (1993 e 1995) e SILVA (2006)) pressionando as áreas de floresta e
em conflito com as populações amazônicas tradicionais como índios, mestiços, caboclos,
brancos, negros.
Mas para Altvater (1999), apud Silva (2006), o futuro dos países menos
desenvolvidos é bastante sombrio, incluímos com destaque a Amazônia, posto que
conseguir, simultaneamente, competitividade no mercado mundial, participação
democrática e sistemas de seguridade social nos tempos de globalização, é tão provável
quanto à “quadratura do círculo”. Por outro lado, considera-se também impossível que a
situação de globalidade se configure numa sociedade mundial baseada na igualdade, pelo
menos nos marcos do capitalismo. Tal diagnóstico leva-o a concluir que crescimento
econômico, bem estar social e modernização institucional perderam sua validade global.
A Amazônia se constitui um caso emblemático de espaço produzido pelo Estado
(Lefebvre, 1978).
A partir dessa situação-problema a questão central e norteadora da pesquisa é: O
Programa de Macrodrenagem para Bacia Hidrográfica da Estrada Nova (PROMABEN)
executado pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB), em implementação, para viabilizar
saneamento básico em uma grande área de várzea da cidade de Belém, viabilizará o
acesso das populações locais aos serviços de saneamento e de infraestrutura urbana? Em
decorrência a hipótese trabalhada é: o PROMABEM assegurará uma logística urbanística
e subtrairá a segregação atual, mas por outro lado provocará uma reestruturação territorial
com o surgimento de novos atores e conflitos sociais podendo resultar no deslocamento
de expressiva porção da população residente por força da especulação imobiliária.
Criando-se novos territórios de segregação socioambiental no município ou na região
metropolitana.
Em relação aos procedimentos metodológicos para realização do estudo, no que se
refere ano de 2013, destacam-se: 1. Realização de pesquisa de campo do tipo observação
in lócus para captação e análise de imagens – fotografias e mapas - como instrumento de
informação visual pelo fato do estudo optar pela abordagem de José de Souza Martins,
contida na Sociologia da Imagem. Utilizamos, precipuamente, da imagem fotográfica

como documento social num enfoque relacional associado a outros instrumentos e dados
também utilizados; 2 A pesquisa de campo é associado à pesquisa bibliográfica por meio
da realização de levantamento de estudos e pesquisas sobre saneamento, sustentabilidade
urbana e segregação social em cidades amazônicas; 3. Pesquisa documental levantando-
se e analisando-se os seguintes materiais para interpretação e cruzamentos: o Estudo de
Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental do PROMABEM (EIA/RIMA);
a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Saneamento; a Política
Nacional de Resíduos Sólidos; Plano Nacional de Saneamento; Estatuto da Cidade; o
Plano Diretor Urbano de Belém, e; a Lei Orgânica do Município de Belém.
Os resultados obtidos e conclusões preliminares indicam que os serviços de
saneamento são ofertados de forma seletiva e desigual na cidade e na área pesquisa.
Enfatize-se, o presente texto apresentar os resultados parciais da pesquisa sobre
PROMABEN realizada por meio do apoio institucional e financeiro da Faculdade Ideal
(FACI). Este estudo se iniciou em 2011, todavia logística e financiamento só foi possível
a partir da aprovação do projeto de pesquisa após se submeter a um processo seletivo em
2013. Ela envolve um grupo de pesquisadores, que a conta com a participação dos alunos
de graduação e pós-graduação do Curso Tecnológico em Gestão Ambiental e com o
Núcleo de Meio Ambiente/NUMAFI. O grupo investigarem o PROMABEN, desde o ano
de 2011. Nesta fase do estudo já é possível demonstrar e analisar as relações entre o acesso
dos moradores da área aos serviços de saneamento básico e o exercício do direito à cidade.
Diante dos estudos, infere-se: uma população que não tem acesso à água potável,
esgotamento sanitário, tratamento de aguas pluviais, gestão de resíduos sólidos,
iluminação pública pavimentação drenagem; está tendo o seu direito à cidade enquanto
direito à vida urbana usurpado (Lefebvre, 2009). Esta dinâmica resulta na constituição de
espaços de segregação socioambiental. As cidades estão cada vez mais fragmentadas, em
diferentes territórios, divididas em diferentes partes, separadas, por limites tênues. Cria-
se a sensação de que se vive numa cidade, na qual existem “micro cidades” e “territórios
das elites”, contrastando com os territórios dos segregados.
2. Belém, o lócus do Projeto pesquisado, e o PROMABEN.
Belém ao longo dos quase 400 anos passou por intensas transformações sociais,
econômicas, culturais e ambientais. Uma cidade posicionada às margens da Baia do
Guajará e do Rio Guamá teria todas as características de uma cidade ribeirinha, mas ao
longo desses anos sua dinâmica socioeconômica foi alterada, embora guarde traços e
atividades de um passado recente, contudo não mais hegemônico. Belém assume a função
de base logística para a ação do capital, em seu projeto de expansão e modernização
econômica da Amazônica materializada no Projeto de Integração Nacional (PIN), nos
Planos de desenvolvimentos da Amazônia (PDAs).
Trata-se de uma cidade que no início do século XX (1920) tinha 206.331
habitantes, sendo que no início do século XXI, ano 2010 têm 1.393.399 habitantes. Essa
expansão populacional não acompanhou um adequado processo de urbanização.

Figura 1 – Crescimento do Município de Belém
Fonte: Souza, 2013.
Belém está conectada a uma rede globalizada de circulação de mercadorias. Pode-se
afirmar que em Belém está a logística institucional de suporte às ações e negociações do
capital, com destaque para a rede de instituições financeiras, governamental e de
planejamento estatal: BASA/SUDAM, Banco do Brasil, Ministérios, sede das instituições
governamentais, das instituições bancárias e sede das empresas privadas. No entanto,
atividades e territorialidades herdadas de uma cidade fluvial, coexistem com as atividades
e instituições da “cidade metrópole”, conforme Trindade, apud Silva (2006).
Fotografia 1 – Orlada de Belém: trecho do Ver-o-Peso
Fonte: Alves, 2013
218.184206.331254.949
402.170
649.545
949.545
1.246.6891.280.614
1.393.399
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010
Crescimento do Município de Belém entre os anos de 1920 à
2010

De cidade ribeirinha a “cidade metrópole”, a construção da rodovia Belém-Brasília é
uma demonstração da intervenção do estado criando novos espaços. Becker (1993) chama
atenção para o fato de que a Amazônia, suas cidades, suas urbanidades, costumes, modos
de viver, estilos de vidas, perspectivas de vida, convivem com a pobreza material e a
riqueza, em particular de recursos naturais, em um contexto de mercantilização da
natureza, processo pelo qual elementos da natureza estão se transformando em
mercadorias fictícias.
Fotografia 2 - Orlada de Belém: trecho das feiras do bairro do Jurunas
Fonte: Andrade, 2013
Ao longo da orla, no bairro do Jurunas - Porto do Açaí - observa-se entrepostos de
venda de açaí, oriundos das ilhas. Trata-se de produção do tipo familiar, desenvolvidas
na porção insular, e comercializada na porção continental do município de Belém, em
“feiras ao ar livre” sem infraestrutura e zelo pelas regras sanitárias, mas que mobiliza um
continente expressivo de pessoas conforme se observa nas imagens acima.
No porto da Palha, observa-se uma intensa e diversificada atividade comercial:
comercialização de bebidas, de gêneros alimentícios em supermercados, mercearias,
bares, além de “boutiques” de roupas, venda de gás de cozinha, oficinas de reparos de
embarcações, estâncias de madeiras, entre outras. A “população ribeirinha” utiliza como
transporte pequenas embarcações, por meio da quais navegam das ilhas e de outros
municípios desembarcando na orla para comercializar e abastecer Belém, em particular
com a oferta de açaí. A comercialização do açaí gera emprego e renda. Outra parte é
ocupada por portos de comercialização de madeira.
A área do PROMABEN, onde correr a rotina descrita anteriormente, foi ocupada
também por empresas como a COPALA, comércios de médio porte e hotéis. A população
não tem direito a usufruir de sua orla, pois está privatizada pela diferentes atividades
comerciais e industriais. Como parte da área constituída de uso público destacam-se a

Universidade Federal do Pará e Universidade Federal Rural do Pará, mas uma porção
significativa da orla está privatizada por atividades econômicas privadas.
Nas relações sociais existentes ao longo da Orla do rio Guamá observa-se um intenso
e conflitivo processo de transformação material e simbólica do espaço social. A estratégia
de modernização do espaço adequando-o aos interesses do capital imobiliário, por
exemplo, traz pelo menos duas dimensões a material e a simbólica, por meio da
desestruturação de lugares e símbolos, valores e identidades. As representações que os
diferentes atores sociais têm do espaço social é um campo em disputa, sendo assim o
PROMABEM, por se constituir por ações de modernização do espaço, caracteriza-se pela
seletividade do acesso aos serviços urbanos.
3. O Programa de Macrodrenagem.
Diante deste contexto o Programa de Macro drenagem é constituído de obras de
recuperação e implantação dos sistemas de drenagem, abastecimentos de água, coleta e
disposição de águas servidas, construção de vias, educação sanitária e ambiental. Trata-
se de uma ação do poder público que está sendo realizadas na bacia hidrográfica da
Estrada Nova.
O Programa de Macrodrenagem da Estrada Nova atenderá aproximadamente 242.
462 mil pessoas, sendo que os dois maiores bairros atingidos são do Guamá (94.510) e
Jurunas (64.478), seguidos do bairro do Condor (42.758), Cremação (31.268), Batista
Campos (19.136). A população (242. 462) dos bairros discriminados, é duas vezes
superior à população atual do município de Altamira localizado na Transamazônica.
Figura 2 – Representação da primeira etapa da Macrodrenagem
Fonte: Souza, 2013.
As obras da Bacia da Estrada Nova executadas pelo PROMABEN fazem parte de
um projeto da Prefeitura Municipal de Belém, contando com recursos próprios e
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio de
empréstimo contraído pela PMB. O PROMABEN possui quatro diretrizes: Melhoria

Ambiental e Habitacional; Infraestrutura Viária; infraestrutura Sanitária, e;
Sustentabilidade Social.
Fotografia 3 – Representação da primeira etapa da Macrodrenagem
Fonte: Santos, 2013.
O PROMABEN visa atingir sete bairros de área de várzea localizados à margem
do rio Guamá, sendo que os mais populosos são o Guamá e o Jurunas. Aproximadamente
300 mil habitantes ocupam a área do Projeto. Atualmente as obras estão localizadas nos
bairros do jurunas.
Foto 4 - Parte da obra concluída no bairro do Jurunas.
Fonte: Santos, 2013.

A Bacia Hidrográfica da Estrada Nova é uma das mais populosas bacias que
compõem o Município de Belém, sua ocupação se deu de forma desordenada para uso
residencial por famílias de baixa renda.
O PROMABEN teve suas obras iniciadas em 2007, sendo que a previsão de
conclusão é para 2013, no entanto é perceptível que a obra se encontra em acentuado
estágio de atraso. Pode-se classificar a execução das obras em três estágios: obras
concluídas obras em execução, obras não iniciada.
4. Considerações
Por que é a população pobre que vive em áreas periféricas, suscetíveis às inundações,
desmoronamento, secas, erosão, vulneráveis e aos efeitos da degradação? Porque as
cidades, inclusive as amazônicas estão subordinadas a lógica do capital. Nesse contexto
o direito à cidade, e a vida urbana, ainda está por ser conquistado.
Embora o PROMABEN obedeça à lógica do capital; as obras estão sendo
realizadas em bairros cuja população é pobre formada por trabalhadores assalariados e
ocupados em atividades precarizadas. É nesse espaço que se encontra em curso um
processo de disputa por território. O um grande desafio garantir à manutenção desta
população na área após a conclusão das obras, pois o capital imobiliário investirá de forma
ofensiva no sentido de se apropriar dos espaços doravante dotados de saneamento básico.
A população atingida nesse processo corresponde a 242.462 habitantes, que
corresponde aos bairros já discriminados, é duas vezes superior à população atual do
município Altamira localizado na Transamazônica. O direito à cidade – na Amazônia -
como um direito à vida urbana ainda é algo que está por ser conquistado. Pois, ainda não
conquistamos o direito aquilo que já existe como direito básico, ou seja, ainda não temos
nem mesmo o básico.
O município de Belém está posicionado entre as dez cidades com o pior serviço
de saneamento básico, acompanhada de Ananindeua e Santarém, segundo o Instituto
Trata Brasil. Essa pesquisa teve como base dados de 2009 fornecidos pelo Sistema
Nacional de Informações relativas aos serviços de saneamento básico do Ministério das
Cidades, correspondendo a 81 municípios com população superior a 300 mil habitantes.
Considerando que a capital do estado do Pará, Belém, está entre os piores desempenhos,
pode-se deduzir que os demais municípios paraenses se encontram em situação igual ou
pior a de Belém, Ananindeua e Santarém.

5. Referências
BECKER, Bertha. A Amazônia pós Eco-92. In: BURSZTYN, Marcel. Para pensar o
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993.
______. A (des)ordem global, o desenvolvimento sustentável e a Amazônia. In:
Geografia e meio ambiente no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995.
______. EGLER, Cláudio. A.G. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo.
2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994.
BRASIL, Estatuto da cidade. Estatuto da Cidade: Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001,
que estabelece diretrizes gerais da política urbana. – Brasília: Câmara dos Deputados,
Coordenação de Publicações, 2001.
DARVEY, David. Liberdade da cidade. In GEOUSP – Espaço e tempo, São Paulo, No
26, pp. 09-17, 2009.
ENGESOLO Engenharia Ltda. Processo de Licenciamento Ambiental da Bacia
Hidrográfica da Estrada Nova no município de Belém. Belo horizonte, 2007.
IBGE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável; Doenças Relacionadas ao
Saneamento Ambiental Inadequado. Brasil, 2004.
htp://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/atlas_saneamento/publicacao.html
LEFF, Enrique. Sociologia e Meio Ambiente. In Leff, E. (Coord.). Ciências Sociais e
Formação Ambiental. 5ª ed. São Paulo; Cortez 1994.
____________(Coord.). Complexidade Ambiental. São Paulo; Cortez; 2003.
LEFEBVRE, Henri (1968). In Le droit à laville, Ed. Economica, 3ième édition, 2009,
p108.
PHILIPPI, JR.; ROMÉRO, A. M; BRUNA, C.G. Curso de Gestão Ambiental (coleção
ambiental). 1ºEd. São Paulo: Manole, 2004.
PINHEIRO, J. ; GIRARD, L. Metodologia para gerenciamento integrado dos resíduos
sólidos da bacia da Estrada Nova do município de Belém (PA). Belém, 2009.19f. Artigo
Científico (Centro Tecnológico, Campus Universitário Federal do Pará) Belém, 2009.
Disponível em: www.estudostecnologicos.unisinos. br/pdfs, acesso em 26/09/2011 ás 07:
28 hs.
P.M.B- Secretaria municipal de assuntos jurídicos – SEMAJ. Lei nº 8.655, de 30 de julho
de 2008. Dispõe sobre o Plano Diretor Belém e dá outras providências. Belém, 2008.
SILVA, Manoel Alves. Arranjos Políticos Institucionais: A Criação de novos municípios,
novas estruturas de poder e as lideranças locais - A divisão territorial de Marabá na década
de 1980. Tese de doutorado, NAEA/UFPa, 2006.

FLORESTAS ESTADUAIS E AS CONCESSÕES
FLORESTAIS: obrigação do órgão gestor da destinação não
onerosa como medida preliminar a realização da concessão
florestal.
Syglea Rejane Magalhães Lopes1
1Faculdade Ideal –(FACI)
Abstract. This meta-paper describes the style to be used in articles and short
papers for Facientífica. For papers in English, you should add just an abstract
and for the papers in Portuguese, we also ask for an abstract in Portuguese
(“resumo”). In both cases, abstracts should not have more than 10 lines and
must be in the first page of the paper.
Key Words: Indigenous Peoples. Environment. Cultural and environmental
heritage. Fox Mountain Range the Sun.
Resumo: Este estudo aborda a temática gestão de florestas públicas com o
objetivo de analisar os procedimentos legais necessários quando da presença
de povos e comunidades tradicionais em áreas onde se deseja realizar as
concessões florestais. Para isso, utilizaram-se, além de levantamentos
bibliográfico, doutrinário e legislativo, estudos técnicos preliminares
realizados nas florestas públicas estaduais da Canha Norte – Trombeta e Faro.
Os resultados indicam a destinação não onerosa como uma forma de gestão
que deverá preceder a concessão florestal objetivando destinar a povos e
comunidades tradicionais os territórios que lhes são garantidos legalmente.
Contudo, as questões políticas e econômicas ainda colocam a eficácia desse
instrumento como um desafio.
Palavras-chave: Povos Indígenas. Meio Ambiente. Patrimônio ambiental
cultural. Raposa Serra do Sol.
1. Introdução
A Lei no. 11.284, de 02 de março, de 2006, regulamentou a gestão das florestas públicas
no Brasil (BRASIL, 2006). A partir de sua publicação as áreas públicas cobertas por
florestas passaram a ser gerenciadas por meio de um sistema específico, cujo órgão gestor,
na esfera federal é o Serviço Florestal Brasileiro – SFB e no caso específico do estado do
Pará o Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará – Ideflor (PARÁ, 2007).
Referida Lei trouxe também três modalidades de gestão de florestas públicas: a
gestão direta, a concessão florestal e a destinação não onerosa. Abaixo, segue uma
descrição de cada uma dessas modalidades.
A gestão direta ocorre quando o governo assume a exploração florestal
diretamente, contratando serviços de terceiros, se precisar. Nesse caso, é o próprio Poder
Público que gerencia a atividade.

A concessão de florestas públicas está definida na Lei no 11.284/06, em seu art.
3o, inciso VII, como (BRASIL, 2006):
[...] delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de
praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e
serviços numa unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa
jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do
respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
E a destinação não onerosa, que será trabalhada em maior detalhe, objetivando
esclarecer a relação existente entre a gestão florestal e os povos e comunidades
tradicionais. Trata-se de mecanismo que obriga o órgão gestor das floretas públicas quer
na esfera federal, estadual, ou municipal, antes de realizar as concessões florestais,
identificar e destinar as floretas públicas ocupadas ou utilizadas por comunidades locais
a essas comunidades, bem como lhes auxiliar com atividades de fomento e extensão
(BRASIL, 2006).
Ressalte-se que mesmo a lei se referindo a comunidades locais, seu significado
deverá ser compreendido de forma mais ampla. Por exemplo, não tem como se realizar
concessão florestal em terras indígenas ou de remanescentes de quilombolas. Aqueles,
pelo direito a posse permanente de seus territórios, e estes, pelo direto de propriedade,
ambos reconhecido na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
A Lei 11.284/06 (BRASIL, 2006) reforça essa interpretação ao prevê no art. 11
que o Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF deverá excluir as: terras indígenas, áreas
ocupadas por comunidades locais, Reservas Extrativistas - Resex e Reserva de
Desenvolvimento Sustentável - RDS, todas consideradas territórios pertencentes a povos
e comunidades tradicionais.
E quanto aos territórios quilombolas ainda que não tenha feito referência, por
tratar-se de áreas privadas, estas estão incluídas na obrigação do Poder Público de
identificá-las para destiná-las de forma não onerosa, porquanto são consideradas
pertencentes a povos e comunidades tradicionais.
Da leitura do art. 6º, vê-se, que o legislador deu ênfase as demais comunidades
tradicionais, as quais, na atualidade, podem ser resguardadas de três formas: Resex, RDSe
Projetos de Assentamento Agroextrativista - PAE.
E ainda, inseriu como parte das modalidades de gestão não onerosa o Projeto de
Assentamento de Desenvolvimento Sustentável – PDS, cujo público alvo é agricultor
familiar. Portanto, incluiu categoria que mesmo não sendo comunidade tradicional,
também poderá ser beneficiada com a destinação não onerosa. E há uma lógica para isso,
pois essa categoria de projeto de reforma agrária obriga o uso da floresta em pé, só
permitindo atividade de agricultura em um percentual mínimo da área.
Nota-se que o papel do órgão gestor é identificar previamente povos e
comunidades tradicionais e agricultores familiares, para realizar a destinação não onerosa.
Para isso, o órgão gestor das florestas públicas deverá provocar os órgãos competentes
pela regularização do acesso a esses territórios.
Por exemplo, se estiver se tratando de povos indígenas há que se provocar a
Fundação Nacional do Índio – FUNAI; se forem comunidades remanescentes de
quilombolas há que provocar o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
caso a área seja federal, ou, no caso específico do Pará, há que se comunicar o Instituto
de Terras do Pará – Iterpa, se a área pertencer ao Estado; ou ainda, o órgão municipal,
para áreas pertencentes aos municípios.

Outro exemplo se refere as demais categorias de comunidades tradicionais, que
poderão ter direito ao território tanto por meio da criação de unidades de conservação,
nas categorias de Reserva Extrativista – Resex, ou Reserva de Desenvolvimento
Sustentável – RDS; ou ainda, por meio de projetos de assentamento agroextrativistas -
PAE.
Os dois primeiros encontram-se classificados como unidades de conservação, cuja
competência para criá-las na esfera federal foi repassada ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; na esfera estadual e municipal a
competência ainda permanece com os órgãos ambientais.
Referente aos assentamentos a competência é do INCRA e no Estado do Pará do
Iterpa, conforme a área seja federal ou estadual, respectivamente.
O presente trabalho objetiva analisar os procedimentos legais necessários quando
da presença de povos e comunidades tradicionais em áreas onde se deseja realizar as
concessões florestais. Para isso, se utilizou estudos técnicos preliminares realizados nas
Florestas Públicas estaduais da Calha Norte – Trombetas e Faro.
2. Arranjos institucionais objetivando preparar ás primeiras concessões
florestais no estado do Pará As áreas a serem disponibilizadas para concessão incluem unidades de conservação nas
categorias de: Florestas Nacionais – FLONAS e Áreas de Proteção Ambiental – APA;
inclui também áreas públicas com florestas, que ainda não foram destinadas.
Nos estados o processo é similar. Por exemplo, no Pará se tem as Florestas
Estaduais – Flotas e APAs, e áreas públicas estaduais com floresta ainda não destinadas.
Aqui, interessa, em particular, concentrar nas FLOTAs do Pará, mais precisamente
naquelas localizadas na Região da Calha Norte.
Importante, informar que a Lei de gestão obriga como procedimento preliminar à
concessão das floretas públicas a elaboração do plano de manejo da unidade de
conservação onde deseja realizar a concessão florestal. Esse plano é definido na Lei no
9.985/00 como: [...] documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à
gestão da unidade.
Das quatro FLOTAs criadas no Estado do Pará, a época, nenhuma dispunha de
plano de manejo. Objetivando cumprir essa exigência imposta pela própria Lei no.
9.985/00, que obriga, no seu art. 27, que as unidades de conservação disponham de plano
de manejo, inclusive impondo prazo de cinco anos a partir da data de sua criação,
conforme estabelece o parágrafo 3o. desse artigo.
No sentido de cumprir essa obrigação legal a Sema firmou em 05 de junho de
2007 Termo de Cooperação Técnica no 006/2007, cujo objeto é a cooperação e o apoio
técnico entre Sema, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - Imazon,
Conservação Internacional do Brasil - CI, e Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG para
elaboração dos planos de manejo de três florestas estaduais (Paru, Faro e Trombeta),
tendo incluído também a estação ecológica de Grão Pará e a Reserva Biológica do
Maicuru. Esse termo passou a ser referido pelos seus membros como consórcio.
Posteriormente, com a criação do Ideflor, órgão gestor das florestas públicas no
estado do Pará, este demandou sua participação no referido consórcio, que foi atendida

por meio de termo aditivo ao Termo de Cooperação. A partir daí, o Ideflor passou a
compor os trabalhos de campo, principalmente as expedições realizadas nas FLOTAs de
Paru, Trombeta e Faro.
Oportuno informar que o Consórcio promoveu reuniões onde apresentou relatos
de algumas das expedições realizadas. Porém, ainda se aguardava pelo relato de outras
expedições, bem como e principalmente, pelos relatórios oficiais a serem encaminhados
a Sema que coordena o processo e esta encaminha aos demais membros do consórcio.
Esses dados são relevantes para condução da gestão florestal, principalmente
aqueles referentes a povos e comunidades tradicionais. Por isso, como parte dos
procedimentos internos do Ideflor, os técnicos eram orientados a produzirem relatórios
sobre as viagens onde deveria constar o máximo de informações.
Ressalte-se que uma vez identificadas ações cuja competência pertence ao Ideflor,
como parte dos procedimentos prévios à concessão florestal, o mesmo está obrigado por
lei a tomar as providências cabíveis.
Os resultados da última expedição indicaram a presença de povos e comunidades
tradicionais nas FLOTAs Trombeta e Faró. A lei obriga ao órgão gestor antes de realizar
a concessão florestal que este realize primeiro a destinação não onerosa.
Tal exigência, quando devidamente seguida, garante a povos e comunidades
tradicionais, direito aos seus territórios, bem como a clientes de reforma agrária em áreas
com floresta, caso se interessem em trabalhar a maior parte de suas atividades com a
manutenção das florestas em pé, nesse caso terão direito a terra, com limitações
específicas.
3. Expedições as Flotas Trombetas e Faro e a presença de povos e
comunidades tradicionais Nos dias 23 de agosto a 08 de setembro de 2008 foi realizada expedição a FLOTA
Trombetas, a qual se estendeu também a FLOTA Faro. De acordo com dados dos
relatórios apresentados pelos técnicos do Ideflor foi identificada presença de povos e
comunidades tradicionais tanto na FLOTA Trombetas quanto na Faro.
3.1. FLOTA Trombetas
Na expedição realizada à FLOTA Trombetas houve relato da presença de comunidades
remanescentes de quilombolas, as quais já haviam demandado junto ao Iterpa, ainda em
2005, o reconhecimento de seu território, trata-se da Comunidade Remanescente de
Quilombo Ariramba localizada em Oriximiná-Pa. Abaixo, registro fotográfico feito pelo
técnico do Ideflor da presença de quilombolas (Figura 1).
Figura 1. Quilombola

Durante a expedição foram georreferenciados os castanhais utilizados pelas
comunidades quilombolas. No Ideflor, fez-se uma simulação de mapa a partir das áreas
georreferenciadas de castanhais, a fim de identificar a possível área de uso dos castanhais
pela comunidade quilombola. O que indica possíveis sobreposições com as FLOTAs
Trombeta e Faró (Figura 2).
Observa-se que o Decreto no. 2607, de 04 de dezembro de 2006 que criou a
FLOTA Trombetas, previu que caso viessem a ser identificadas comunidades
remanescentes de quilombolas na área destinada a FLOTA, as mesmas seriam
regularizadas por meio de concessão de direito real de uso, na forma prevista no art. 6o
da Lei no. 11.284/06. Essa previsão indica que o Poder Público deveria saber da existência
dessa comunidade, caso contrário não haveria sentido essa previsão.
O Decreto supracitado deu aos quilombolas tratamento similar aos demais povos
e comunidades tradicionais, para os quais inexiste previsão do direito de propriedade. E
logo em seguida, no art. 5o. do referido Decreto possibilita a comunidade quilombola
opinar pelo exercício do direito de reconhecimento de domínio previsto no art. 68 da
ADCT, nesse caso diz que as áreas serão excluídas por lei. Art. 22, § 7.º da lei 9.985/00
(BRASIL, 2000).
Referente à FLOTA Faro os relatos descrevem situação ainda mais grave,
porquanto informam a presença de povos indígenas e comunidades remanescentes de
quilombolas. Abaixo o mapa com pontos coletados pela equipe técnica de aldeias
indígenas e das áreas utilizadas pelos quilombolas, inclusive parte da Reserva Biológica
do Trombetas (Figura 2).

Figura 2. Reserva Biológica do Trombetas.
Durante a expedição, técnicos realizaram registros fotográficos de pedras com
desenhos que chamam a atenção, bem como de utensílio indígenas (Figuras 3 e 4).

Figura 3. Pedras e artefatos indígenas.
Houve também relato por parte da técnica da SEMA, Cláudia Leitão, de ter
recebido materiais arqueológicos entregues a eles durante a expedição.
Depoimentos nos dão conta de que povos indígenas teriam sido retirados daquele
local no passado, em razão de interesses minerários na área e agora estariam retornando,
contudo no local encontraram comunidades remanescentes de quilombolas.
O fato mais grave foi a existência de sério conflito entre povos indígenas e
quilombolas, incluindo o depoimento de que índios e quilombolas estariam colocando
armadilhas uns para os outros. Segundo, os técnicos os povos indígenas estariam exigindo
dos quilombolas uma quantidade das castanhas que coletam para terem direito de passar
pelo seu território.
Há registro de acordo formal firmado entre povos indígenas e comunidades
quilombolas em relação à delimitação de seus territórios (Figura 5).

Figura 4. Termo de acordo legal entre as partes.
Mais um relato polêmico, foi que parte do território quilombola, estaria incidindo,
além da FLOTA Faro, com parte da área da Rebio do Trombetas.
Diferente do Decreto de criação da FLOTA Trombetas, o Decreto de criação da
FLOTA Faro nada previu referente à possibilidade de identificação de quilombolas e
regularização de suas áreas.

4. Pretensões minerárias nas Flotas Trombetas e Faro Lançando mão dos dados levantados o Ideflor realizou o cruzamento das pretensões
minerarias em relação a essas áreas, que indica inúmeras solicitações de autorização e
pesquisa na área. Veja mapa abaixo produzido pelo Ideflor (Figura 6).
Esse mapa exige uma análise minuciosa, pois se essas áreas pertencem aos povos
indígenas e aos quilombolas o acesso aos recursos minerais se dará por meio de
procedimentos específicos. No caso dos povos indígenas, só com o seu consentimento e
após autorização do Congresso Nacional.
No caso dos quilombolas, como bem explanado por Andrade (2013, p. 2), ao se
reportar ao direito à consulta livre, prévia e informada referente aos quilombolas, também
afirma a necessidade do consentimento de quilombolas, conforme previsão da Convenção
169, art. 6o. que impõe aos governos a obrigação de: Consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e,
particularmente, através de suas instituições representativa, cada vez que
sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de
afetá-los diretamente.
Além disso, a exploração mineral gera renda tanto para o Poder Público, por meio
dos royalties e demais tributos incidentes sobre a produção, como também para o setor
privado, em especial para os proprietários das terras (superficiários) onde ocorre a
extração mineral. Esse benefício se estende tanto ao proprietário quanto ao posseiro que
prove sua situação juridicamente.
Nota-se que o proprietário da terra onde houve a exploração mineral, nas fases de
pesquisa ou de lavra, terá direito a cinqüenta por cento do valor dos royalties
(Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CEFEM) recolhidos aos cofres
públicos. Sendo os quilombolas proprietários e os índios “posseiros permanentes”, caso
a mineração venha a incidir em seus territórios estes deverão receber royalties.
Além disso, terão direito a uma renda pela ocupação de seus territórios, bem como
a indenização por danos e prejuízos que por ventura venham a ser causados pela pesquisa
e pela exploração mineral.

Figura 5. Situação da mineração na área dos quilombolas.

5. Análise jurídica a partir dos casos relatados
5.1.Flota Trombetas
No que se refere à FLOTA Trombetas verifica-se que o Decreto de criação pode ser
considerado inconstitucional, porque em 2006 quando foi promulgado já havia processo
para o reconhecimento da comunidade remanescente de quilombola do Ariramba.
Segundo Treccani (2006, p. 180-181) a Constituição Federal de 1988 ao se reportar a
essas comunidades utiliza a expressão reconhecer, isso: [...] significa que existe um direito pré-existente e que o Poder Público
tem a obrigação de expedir o título definitivo de propriedade. Os atos que
criam novas unidades de conservação, sem levar em conta o direito dos
quilombolas, deverão ser considerados inconstitucionais, enquanto os
atos que antecederam à constituição, não foram recepcionados pela
mesma.
Referido Decreto é inconstitucional porque os territórios das comunidades
tradicionais não podem ter outra destinação a não ser a titulação da área para as próprias
comunidades, nesse caso específico, aos quilombolas. Por isso, quando o Estado destinou
território pertencente a quilombola, ainda que esse não estivesse titulado, ele já sabia de
sua existência.
Os dois artigos (4o. e 5o.) do Decreto de criação da FLOTA Trombetas inseridos
como sendo uma “cautela” objetivando garantir aos quilombolas seus territórios, são
inconstitucionais. O art. 4o, por trazer previsão quanto à possibilidade dos quilombolas
virem a firmar contrato de direito real de uso com o Poder Público, quando a Constituição
Federal de 1988 lhes garantiu o direito de propriedade, sendo este indisponível.
Ressalte-se que o instrumento utilizado pelo Poder Público para agasalhar o
direito dos quilombolas, contrato de direito real de uso, este jamais substituirá o direito
de propriedade garantido constitucionalmente por meio do ADCT, no. 68, sendo, portanto
direito indisponível.
E, o art. 5o., também é inconstitucional porque previu a possibilidade do
quilombola “optar” pelo direito indisponível da propriedade. E que essa opção, uma vez
feita, para que se concretize, só mediante lei. Ou seja, o que é direito indisponível e
meramente declaratório está posto no Decreto como disponível e não mais declaratório,
porque passou a precisar de lei.
5.2. Flota Faro Nesta FLOTA os estudos demonstraram: a) a presença de povos indígenas e comunidades
quilombolas; b) sobreposição de territórios quilombolas com territórios indígenas; c)
sobreposição de territórios quilombolas com unidade de conservação de proteção integral
– Rebio Trombetas; d) presença de grileiros e e) demanda mineraria sobre as mesmas.
Verificou-se, à época, que como o Poder Público estaria impossibilitado de
realizar a destinação não onerosa como medida preliminar às concessões florestais, o
mesmo teria que resolver todas as pendências jurídicas para depois disponibilizar as
FLOTAs Trombetas e Faro à concessão florestal.
Os relatos permitiram indicar: a) o desrespeito a Convenção 169, da qual o Brasil
é signatário, cujo art. 13 garanti o acesso ao território por parte de povos e comunidades
tradicionais, e ao princípio do pluriculturalismo garantido tanto nos artigos 215 e 216
quanto no caso específico dos povos indígenas retratados também nos art. 231 e 232, bem
como ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT no. 68, no que se
refere aos quilombolas.

Diante de flagrante desrespeito a Constituição Federal restou ao Ideflor, na
condição de órgão gestor das florestas públicas estaduais, e em cumprimento ao que
dispõe a lei de gestão em seu art. 6o. solicitar aos órgãos competentes a promoção de
medidas objetivando garantir aos povos e comunidades tradicionais localizados em suas
florestas o reconhecimento aos seus territórios.
6. Considerações Finais O trabalho demonstra a importância da destinação não onerosa como instrumento que
visa garantir a povos e comunidades tradicionais o direito a seus territórios. Contudo,
verifica-se tratar-se de um trabalho árduo, uma vez que ao buscar aplicação prática os
cenários encontrados serão os mais variados possíveis, como o encontrado nas FLOTAs
Trombetas e Faro.
O resultado da expedição indicou a presença de povos e comunidades tradicionais
nas FLOTAs Trombetas e Faro, impondo ao órgão gestor das florestas públicas – o Ideflor
-, a realização de diligências junto aos outros órgãos, a fim de que pudessem promover a
destinação não onerosa. Não há como o órgão gestor tratar do tema de forma isolada, a
questão exige ação por parte de vários órgãos. Por isso, a sugestão mais forte após a
expedição e a análise jurídica dos dados foi no sentido de trabalhar de forma
interdisciplinar buscando o máximo de informações possíveis antes de deliberar sobre as
áreas a serem disponibilizadas às concessões florestais. Nesse caso, a época sugeriu-se:
a) a composição de um Grupo de Trabalho, no qual deveriam tomar parte: Iterpa,
Ideflor, Sema e PGE, a fim de indicar a melhor solução jurídica referente ao
reconhecimento do direito dos quilombolas na FLOTA Trombetas;
b) que o Iterpa deveria comunicar a FUNAI sobre o conflito existente solicitando
providências imediatas, inclusive, informando ao Estado do Pará, se já existe
processo de reconhecimento de povos indígenas nessas áreas. Caso não haja que
sejam iniciados os estudos necessários para identificação;
c) que o Iterpa deveria informar ao ICMBio a sobreposição de parte da REBio
com as comunidades remanescentes de quilombolas.
d) que fosse formalizado por parte do Governo do Estado junto a Comissão Pró-
Índio a solicitação de estudos específicos para analisar o conflito existente entre
povos indígenas e comunidades quilombolas, objetivando a indicação de
alternativas para resolução do conflito.
e) que Ideflor providenciasse a retiradas dos grileiros das suas áreas.
Destarte verifica-se que a destinação não onerosa é um instrumento
imprescindível às concessões florestais e exige trabalho interdisciplinar prévio, como
forma de garantir os direitos dos povos e comunidades tradicionais a seus territórios. E,
ainda diante de interesses políticos e econômicos fazer valer a normas jurídicas ainda é
para a realizada amazônica brasileira um grande desafio.

7. Referências Bibliográficas
ANDRADE, Lúcia M. M. O Direito à consulta livre, prévia e informada: os limites da
“consulta aos quilombolas. Disponível em: <
http://www.cpisp.org.br/acoes/upload/arquivos/Artigo%20-
%20Consulta%20Quilombola.pdf >. Acesso em 27 nov. 2013.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988a.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso
em: 27 nov. 2013.
BRASIL. Lei no. 11.284, de 02 de março, de 2006. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 mar. 2006. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11284.htm > Acesso em:
27 nov. 2013.
BRASIL. Lei no. 9.985, de 18 de julho, de 2000. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 19 jul. 2000. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
> Acesso em: 27 nov. 2013.
BRASIL. Decreto n.o 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 fev. 2007. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040>. Acesso
em: 27 nov. 2013.
PARÁ. Lei nº. 6.963 de 16 de abril de 2008. Diário Oficial [do] Estado do Pará.
Belém, . disponível em: <..................>. Acesso em: 17 junho 2009.
TRECCANI, Girolamo Domenico. Terras de quilombo: caminhos e entraves do
processo de titulação. Girolamo Domenico Treccani. Belém: Programa Raízes, 2006.