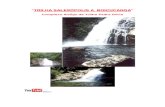MULTIFAAL · MULTIFAAL , Limeira, v.1, p. 7-8, 2013 | 7 EDITORIAL A busca inteligente e...
Transcript of MULTIFAAL · MULTIFAAL , Limeira, v.1, p. 7-8, 2013 | 7 EDITORIAL A busca inteligente e...
A D M I N I S T R A Ç Ã O
A R T E S V I S U A I S
D E S I G N I N T E R I O R E S
D E S I G N D E M O D A
D E S I G N D E P R O D U T O
D E S I G N G R Á F I C O
G E S T Ã O A M B I E N TA L
M A R K E T I N G
M AT E M Á T I C A
P R O C E S S O S G E R E N C I A I S
R E C U R S O S H U M A N O S
CA
DE
RN
O
MU
LTID
ISC
IPL
INA
R
DA
F
AC
UL
DA
DE
D
E
AD
MIN
IST
RA
ÇÃ
O
E
AR
TE
S
DE
L
IME
IRA
Artigos
Mídia social: o blog, um forte aliado das empresas no relacionamento com os clientesEliana Pedron
Adriana Pessatte Azzolino
Arquitetura da informação aplicada à interface do bilhete de passagem rodoviárioMichel Gomes de LiraSamara Pereira TedeschiFabiane Fernandes Rodrigues
A história da arte na educação infantil: desenvolvimento de um livro paradidático para crianças de quatro a sete anos de idadeLivia Riani Costa CazonattoSamara Pereira Tedeschi
O olhar de uma licencianda sobre o ensino de matemática na educação infantil: um enfoque à estocásticaLuciana Regina Pereira MacedoEliane Matesco Cristovão
A importância da pesquisa de clima organizacionalPaula Olivier DoriguettoJorge Henrique da Silva
A importância da liderança na empresa modernaMaria Alice Gomes Jorge Henrique da Silva
Os impactos comportamentais da empresa júniorLucas SanchesPaulo Roberto Benegas de Morais
O espaço na arte moderna e contemporâneaBeatriz Batistela PeliFlávia de Almeida Fábio Garboggini
1 V OL U M E N º 1
A N O 2 0 1 32013
MU
LTIF
AA
L
EDITORES
Profa. Dra. Adriana Pessatte AzzolinoProf. Dr. Jorge Henrique da Silva
CONSELHO CIENTÍFICO
Prof. Dr. Antonio Carlos Vian - USPProfa. Dra. Célia Regina Orlandelli Carrer - USPProf. Dr. Celso da Costa Carrer – USPProf. Dr. Ivan Santo Barbosa-UNICAMPProfa. Dra. Mara Jaqueline de Oliveira - ELLProfa. Dra. Odaléia Telles Marcondes Queiroz – USPProfa Dra. Priscila Rossinetti Rufinoni - UnBProf. Dr. Romualdo Dias - UNESPProfa. Dra. Sandra Regina Giraldelli Ulrich – FAM
COMITÊ CIENTÍFICO
Profa Dra. Adriana Pessatte Azzolino - FAALProf. MSc. Décio Henrique Franco- FAALProf. MSc. Fernando Jerônimo - FAALProfa. MSc. Flávia de Almeida Fabio Garboggini - FAAL Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva - FAALProfa MSc. Julita Del Bianco - FAALProf. MSc. Nilvo Aparecido Colucci - FAALProfa. MSc. Renata La Rocca - FAALProfa MSc. Samara Tedeschi - FAALProfa. MSc. Tatiane Dechen - FAALProf. MSc. Tomas Guner Sniker - FAAL
CAPA
Amanda Caroline Rodrigues (Aluna do Curso de Design Gráfico - FAAL)Imagem: www.shutterstock.com
PROJETO GRÁFICO
Profa. Esp. Fabiana Grassano Jorge - FAAL
Profa. MSc. Flávia Fábio Garboginni - FAAL
DIAGRAMAÇÃO
Profa. Esp. Fabiana Grassano Jorge - FAALCarolina M. F. Leal (Aluna do Curso de Artes - FAAL)
REVISÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA E INGLESA
Profa. MSc. Julita Del Bianco - FAAL
FICHA CATALOGRÁFICA
Cristiane Armbruster Marson - CRB 5478
DIREÇÃO GERAL
Profa. Msc. Silvia Helena Orlandelli da Silva
DIREÇÃO ACADÊMICA
Profa. Dra. Adriana Pessatte Azzolino
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Reinaldo Fernandes
SECRETARIA ACADÊMICA
Kênia de Souza Lyra Silva
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
Os manuscritos deverão ser enviados seguindo as diretrizes de publicação descritas no final. A responsabilidade pelos manuscritos é exclusiva dos Autores, não refletindo, necessariamente, o pensamento dos Editores e/ou do Comitê Científico.
CONTATOS
End.: Av. Eng. Antonio Eugênio Lucatto, n. 2515 / Vila Camargo / Limeira - SP / CEP 13.486-083 Fone: (19) 3444 3239 / 0800 [email protected]
MULTIFAAL: CADERNO MULTIDISCIPLINAR DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E ARTES DE LIMEIRA. Vol. 1, 2013. Limeira, FAAL, 2013.
Anual.ISSN: 2318-888X
1. Administração de empresas. 2. Artes visuais. 3. Design de interiores. 4. Design de moda. 5. Design de produto. 6. Design gráfico. 7. Gestão ambiental. 8. Marketing. 9. Matemática. 10. Processos gerenciais. 11. Recursos humanos.
Pede-se permuta. We ask for exchange.
ISSN 2318-888X
Apresentação .................................................................................................................... 5Silvia Helena Orlandelli da SilvaAdriana Pessatte Azzolino
Editorial ............................................................................................................................ 7Adriana Pessatte Azzolino e Jorge Henrique da Silva
Artigos
Mídia social: o blog, um forte aliado das empresas no relacionamento com os clientes ....... 9Eliana Pedron e Adriana Pessatte Azzolino
Arquitetura da informação aplicada à interface do bilhete de passagem rodoviário ............. 26Michel Gomes de Lira, Samara Pereira Tedeschi e Fabiane Fernandes Rodrigues
A história da arte na educação infantil: desenvolvimento de um livro paradidático para crianças de quatro a sete anos de idade. .................................................................... 35Livia Riani Costa Cazonatto, Samara Pereira Tedeschi
O olhar de uma licencianda sobre o ensino de Matemática na educação infantil: um enfoque à estocástica ....................................................................................................... 44Luciana Regina Pereira Macedo e Eliane Matesco Cristovão
A importância da pesquisa de clima organizacional ............................................................ 55Paula Olivier Doriguetto e Jorge Henrique da Silva
A importância da liderança na empresa moderna ............................................................... 68Maria Alice Gomes e Jorge Henrique da Silva
Os impactos comportamentais da empresa júnior ............................................................... 82Lucas Sanches e Paulo Roberto Benegas de Morais
O espaço na arte moderna e contemporânea ...................................................................... 102Beatriz Batistela Peli e Flávia de Almeida Fábio Garboggini
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 1-124, 2013
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 5-6, 2013 | 5
APRESENTAÇÃO
Esta primeira edição do MultiFaal é a realização de um sonho antigo. Ao longo desses treze anos de existência, passaram por esta Instituição de Ensino, Alunos e Mestres que dedicaram seu tempo a pensar sobre problemas, os mais diferentes, e suas possíveis soluções. Iam muito além daquilo que era exigido, iam atrás dos ras-tros deixados pelo caminho por outros e conseguiam produzir novos saberes. Não se furtaram as dificuldades, a falta de tempo, a falta de respostas. O espírito investigati-vo e a vontade de “chegar lá”, sem saber muitas vezes onde iria dar, falavam mais alto e forte do que as dificuldades.
Essa publicação é fruto dessa dedicação e dessa produção que precisa ser pre-miada e valorizada. Num mundo em que a cópia e a massificação de ideias parecem ganhar força, queremos dar margem, ampla margem, a autonomia intelectual, que muda, transforma a mesmice.
Os textos aqui partilhados cumprem essa função de tornar público que isso é possível. Mesmo em cursos de curta duração, como os tecnológicos superiores, a pesquisa e o método científico iluminaram o pensamento e encurtaram cami-nhos daqueles que estão voltados à construção de um mundo melhor. Assim, de-sejamos que funcione como estímulo a outros alunos, que mergulhem em suas formações profissionais e encarem a pesquisa como eixo norteador de qualquer trabalho a ser realizado.
Não foi tarefa fácil, por outro lado, selecionar em poucos artigos que este espaço permite os tantos talentos da Instituição e suas produções acadêmicas. Com certeza, muitos ficaram de fora, mas desejamos que esta seja a primeira de muitas outras publicações que virão. E que venham muitas outras mesmo, com novos nomes, com novas motivações, porque o conhecimento é infinito.
Agradeço a todos os Coordenadores, Mestres, Alunos e Funcionários que tor-naram essa publicação possível e, em especial, aos envolvidos na sua organiza-ção, que se debruçaram na tarefa de recuperar a produção acadêmica dos últi-mos anos de nossa Instituição.
É com orgulho que apresento o MultiFaal.
Profa. MSc. Silvia Helena Orlandelli da SilvaDiretora Geral – FAAL
6 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 5-6, 2013 Apresentação
Trata-se da preocupação constante de todo professor aproximar um discurso ampa-rado na ciência ao da realidade do aluno e da sociedade da qual participa. O exercício da atividade teórico-prática tem sido capaz de produzir um conhecimento válido cien-tificamente, com elaborações teóricas surgidas das observações realizadas no trabalho empírico dos alunos e seus professores. Tem introduzido os alunos para o campo prático da pesquisa a partir do preparo teórico em sala de aula. Entretanto, esse procedimento torna o trabalho do professor no cenário atual da educação superior um grande desafio.
A sala de aula é um desafio, por exemplo, quando da necessidade de readequar o conteúdo programático de uma disciplina redimensionando-o de acordo com o tipo de conhecimento necessário ao perfil do grupo, e do esforço para aproximar a teoria necessária ao exercício de determinada prática.
Neste sentido, o exercício da investigação que se prática nas instituições de ensino superior no Brasil não se leva adiante, sem antes saber e conhecer em profundidade as condições nas quais ocorrem, com 75% (setenta e cinco por cento) de alunos em instituições de ensino privadas e com aulas no período noturno, sendo que a prática da pesquisa, no sentido strictu do termo e da atividade assim compreendida, tem pouca expressão nos quadros institucionais no Brasil.
Mas, o impulso em transformar de forma significativa a realidade da sala de aula, seus conteúdos e propostas de atividades proporcionam aos alunos, oriundos dessa realidade a oportunidade de pesquisarem temas relacionados, de alguma forma, ao seu cotidiano e, de imediato, ao campo profissional que optaram. Neste processo os alunos observam e documentam, orientados pelos seus professores, situações e proces-sos concretos, dinâmicos e contínuos de transformação da realidade, acompanhados e devidamente registrados conforme os referenciais teórico-metodológicos da ciência.
Um trabalho de investigação, de iniciação à ciência, que se pretenda ser diferen-ciado em cursos de graduação deve se preocupar em aumentar a nossa acuidade em perceber e propor situações onde os alunos possam estar exercitando o “trabalhar inte-lectualmente” dentro de formas as mais ricas possíveis..
Neste cenário da produção científica, o MultiFAAL, Caderno Multidisciplinar da Fa-culdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL), vem contribuir com a difusão dos saberes com o compromisso de elevar os padrões de qualidade do fazer e apreender conhecimentos.
Profa. Dra. Adriana Pessatte AzzolinoDiretora Acadêmica - FAAL
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 7-8, 2013 | 7
EDITORIAL
A busca inteligente e significativa do conhecimento se trilha por um caminho que implica em certo treino e disciplina do aluno, que organiza seu material de trabalho a partir de formulações de questões, observações, anotações, gravações, testemu-nhos, retorno ao campo, esclarecimentos de dúvidas, permitindo elaborar opiniões próprias, comparando-as e sistematizando-as.
Neste primeiro volume, compartilhamos os resultados de alguns trabalhos de in-vestigação desenvolvidos ao longo dos últimos anos em nosso ambiente acadêmico.
Este percurso se inicia colocando em foco o avanço das redes sociais disponíveis na web e sua capacidade de ampla comunicação com milhares de internautas ao mesmo tempo, assim, no artigo intitulado “Mídia social: o blog, um forte aliado das empresas no relacionamento com os clientes”, destaca-se a importância que as empresas devem dar à sua comunicação nas redes sociais, afinal, com o avanço da tecnologia e da internet, o consumidor está cada vez mais exigente, daí, a necessida-de das empresas fortalecerem seus relacionamentos nesse novo cenário.
Em “Arquitetura da informação aplicada à interface do bilhete de passagem rodoviário”, é possível entender a importância a ser dada para a organização das informações, em um mundo que se mostra cada vez mais tecnológico. A arquitetura da informação traz a busca de soluções ao pensar a reorganização das informações a partir de uma interface gráfica, uma vez que o momento mais importante entre usuário e produto é o da leitura do mesmo.
Em “A história da arte na educação infantil: desenvolvimento de um livro pa-radidático para crianças de quatro a sete anos de idade” a contribuição se dá a partir da preocupação dos autores em pesquisar sobre a importância da arte na vida de uma criança antes mesmo da aquisição da fala e da alfabetização, uma vez que a arte é meio de expressão e modo de entendimento e representação da realidade. É leitura imprescindível e referência para profissionais que atuam junto à formação dos futuros cidadãos.
Mas, ensinar pequenos cidadãos vêm sendo o grande desafio, principalmente àqueles que lecionam matemática, enfoque que trata o artigo “O olhar de uma licencianda sobre o ensino de matemática na educação infantil um enfoque à estocástica”. As dificuldades encontradas no cotidiano escolar motivaram os autores a investigar quais conceitos matemáticos poderiam ser abordados em atividades diárias, enriquecendo o ambiente educativo. Porém, retrata o artigo,
8 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 7-8, 2013 Editorial
a riqueza dessas informações passa, muitas vezes, despercebida por professores, ou monitores, envoltos em suas tarefas rotineiras.
Nos últimos anos, uma grande mudança de mentalidade das organizações vem colocando as pessoas em lugar de destaque. Neste aspecto, o artigo “A importância da pesquisa de clima organizacional” ressalta que, as organizações que almejam conquistar bons resultados, precisam oferecer algo mais que uma remuneração atra-ente para deixar seus colaboradores comprometidos. Sendo essencial investir em atividades que visem à melhoria da qualidade de vida dos colaboradores e atitudes que busquem o aperfeiçoamento do ambiente de trabalho.
No artigo intitulado “A importância da liderança na empresa moderna”, os au-tores citam diversos aspectos relacionados à liderança e sua importância na empresa moderna. Ressaltando o papel crucial que os líderes têm nas organizações, enfati-zando que se identificar o tipo de liderança mais adequado a cada organização ou situação é o que faz a diferença no resultado final. Pois é o líder quem, geralmente, aponta a direção em relação ao alcance dos objetivos.
A compreensão da importância do uso de metodologias práticas, em uma em-presa júnior, para se produzir, não apenas a fixação de conhecimentos teóricos, mas, também, o ensinamento do comportamento empreendedor de alunos graduan-dos é apresentado em “Os impactos comportamentais da empresa júnior”.
Por fim, a afirmação “o espaço atua sobre a obra de arte” fundamenta o percurso investigativo do artigo “O espaço na arte moderna e contemporânea”, onde os movimentos abordados para tal compreensão são a arte moderna e a contempo-rânea, mais especificamente no minimalismo, land art e site-specific. Com base nas obras de arte produzidas nesse período, neste é discutido as variações e aplicações no uso do espaço, seja nas alterações sofridas durante o processo criativo, nas mu-danças ocorridas à adaptação da obra ao espaço inserido ou à fruição estética.
Profa. Dra. Adriana Pessatte Azzolino Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva
Editores do MultiFAAL
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 9
MÍDIA SOCIAL: O BLOG, UM FORTE ALIADO DAS EMPRESAS NO RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES
SOCIAL MEDIA: THE BLOG, A STRONG PARTNER FIRMS IN CUSTOMER RELATIONSHIP
Eliana Pedron1 Adriana Pessatte Azzolino2
Resumo
O presente trabalho3 busca analisar a importância das empresas juntamente com os seus de-partamentos na divulgação frente às redes sociais. Com o avanço da tecnologia e da internet, o consumidor está cada vez mais exigente e assim as empresas passam a investir mais no re-lacionamento com o cliente. Na elaboração deste trabalho foi diagnosticado sobre o avanço das redes sociais disponíveis na web e sua capacidade de ampla comunicação com milhares de internautas ao mesmo tempo tendo o blog como um dos meios de comunicação grátis e de fácil acesso com a sua ampla interatividade. Avaliou-se também que este canal é de rela-cionamento mais aberto podendo assim clientes e usuários se expor sobre as suas opiniões.
Palavras-chave: Marketing. Redes sociais. Blog.
Abstract
This is paper seeks to analyze the importance of companies with their departments before the dis-closure to social networks. With the advancement of technology and the internet, consumers are increasingly demanding and so the companies start to invest more in customer relationship. In preparing this report was diagnosed on the progress of social networks available web wide and its ability to communicate with thousands of internet users at the same time having the blog as a means of free communication and easy access to its extensive interactivity. We also evaluated this channel is more open relationship and thus can expose customers and users about their opinions.
Keywords: Marketing. Social net. Blog.
1 Aluna do Curso de Gestão em Marketing e Vendas da Faculdade de Administração e Artes de Limeira – FAAL. e-mail: [email protected].
2 Profa. Dra. (Orientadora) do Curso de Gestão em Marketing e Vendas da FAAL. e-mail: [email protected].
3 Nota do Revisor: Este artigo foi escrito em 2011, considerar que algumas informações podem ter sofrido alterações devida à natureza do tema.
10 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
1 INTRODUÇÃO
Com o avanço da tecnologia pode-se notar novas habilidades, novos conceitos, e mais facilidade e em todos instantes novos produtos e métodos vem se destacan-do nesta era digital. Houve um tempo em que a máquina de escrever e até mesmo um rádio portátil não poderia ser substituído por algo que fosse mais revoluciona-do e hoje as empresas junto com os seus departamentos de marketing vem se des-tacando em suas participações no mercado junto a esta modernidade. O consumo está em alta, em um ambiente de diversas mudanças onde a concorrência é imensa o consumidor a cada dia passa a buscar novos produtos e fornecedores, com isso os clientes passam a ser o foco das atenções de uma empresa.
Para sobreviver, às empresas têm se inovado frente a esta tecnologia e ao mer-cado, ampliando assim o seu conhecimento e acreditando mais na divulgação pela internet, pois este passa a ser o canal de melhor preferência do consumidor, princi-palmente dos mais jovens. As empresas através da internet abrangem novas expec-tativas de oferta e a procura por parte dos consumidores faz com estas ofereçam algo a mais e que façam mais pelos seus clientes onde estes por sua vez, se tornem fiel a sua marca. Com toda essa participação junto ao mercado as empresas vêm em busca do aperfeiçoamento das técnicas de marketing, projetando a atender os consumidores de forma positiva.
A internet criou a possibilidade de ampliação de novos negócios e com isso uma nova forma de comunicação e entretenimento, onde hoje se torna indispensável este meio de comunicação na vida das pessoas e no seu dia-a-dia, pois 1,4 bilhão4 de pessoas, ou 21% da população da terra, é o número com acesso à internet e na-vegar na rede virtual, atualmente, se tornou hábito de vida. Assim, e segundo Vaz (2008), a informação passa realmente a ser verdadeira protagonista de mobilidade social.
Esta tendência na vida cotidiana é presença constante, seja em sites de rela-cionamento, de pesquisa em busca de relacionamentos, fazendo da participação on-line grande parte do tempo de uma pessoa tomando assim mais gosto pela internet. Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE5 Nielsen), há aproximadamente 6 bilhões de usuários da web, desses 62,3 milhões se encontram no Brasil.
4 Disponível em: <www.internetworldstats.com>. (Site que rastreia as tendências dos usuários na web). Acesso em: 14 nov. 2010.
5 Disponível em: <www.abellaeduarte/projeto/conceituação/conceituação1/>. Acesso em: 14 nov. 2010.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 11PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
A comunicação, os negócios, os serviços on-line é um meio de comunicação e um canal importante para uma empresa e seu cliente, sendo estes peça funda-mental para uma empresa onde força-a a dotar um papel de atuação estratégica. Os departamentos dentro de uma empresa investem na necessidade do bom rela-cionamento deixando para trás o antigo modelo de comunicação e interatividade com o cliente, onde o marketing de uma empresa se encarrega em desempenhar este bom papel.
Com este avanço tecnológico e a participação constante de usuários, as redes sociais ganham força e a informação se integra a esta. Conforme afirma Castells (1999), as novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade, onde a comunicação mediada por computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais.
As empresas têm buscado e desenvolvido o seu potencial nestes meios de co-municação através das redes sociais, preferencialmente o blog, onde cada depar-tamento segue com um desafio, um novo modo de aplicação do marketing digital junto a este canal. O blog permite ao usuário e a empresa maior interatividade, onde ela passa a oferecer e a propor aos clientes muito dos seus serviços atraindo assim a confiança e credibilidade por parte dos seus usuários, com o intuito de au-mentar as suas vendas e a capacitação de novos clientes. A internet tem o potencial de mudar ou reforçar as atitudes em relação às marcas, bem como o comporta-mento de consumo (LIMEIRA, 2007).
A partir de tais considerações, o presente trabalho tem como principal objetivo abordar o blog como uma ferramenta de marketing, para melhor comunicação das empresas e seus respectivos departamentos junto aos seus clientes. Desta forma, na introdução a questão é apresentada, assim como os objetivos gerais e especí-ficos são colocados, identificando-os junto ao leitor, desde o início, para melhor compreensão do tema.
Na segunda parte, o presente texto aborda os referenciais teóricos, presentes na discussão. Tais referenciais ancoram-se nas diversas abordagens de marketing voltadas aos negócios contemporâneos, refletem sobre a tecnologia e suas inter-faces com os negócios, ou seja, o panorama de mercado que se desenha desde então. A web 2.0, bem como a importância das redes sociais e o perfil do consu-midor, não poderiam deixar de serem abordados, uma vez que são protagonistas importantes nesse cenário.
Na terceira e última parte, o assunto é abordado através da análise de alguns cases considerados blogs de sucesso no uso para os negócios.
12 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
2 REFERENCIAIS TEÓRICOS
2.1 Definições de Marketing
Churchil e Peter (2011) definem marketing como sendo o processo de planejar e executar a concepção estabelecimento de preços, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacio-nais. E, ainda, segundo os autores, o desenvolvimento de trocas entre clientes e or-ganizações que visam benefícios mútuos é a essência do marketing, essas trocas são realizadas tanto com clientes organizacionais que são aqueles que compram para as suas próprias empresas, como também com os consumidores, que são indivíduos e família a procura de satisfazer suas necessidades e desejos.
Para Sandhusen (1998) marketing é um sistema total de atividades de negócios que direciona o fluxo de bens e serviços de produtos para os consumidores ou usuá-rios a fim de satisfazê-los e realizar os objetivos da empresa. Desta forma as empresas são beneficiadas quando atendem as necessidades de seus clientes e assim a satis-fazem, pois quando estas satisfações são atendidas o retorno é garantido e assim o lucro certamente também.
O marketing, em seu papel, também ajuda a aumentar os níveis de atividades de negócios, as oportunidades para investimentos e o nível de emprego. Pois, como afirma Sandhusen (1998, p. 10) o processo de marketing como principal força na cria-ção de mercados, produção e distribuição em massa.
Na visão de Kotler (2000, p. 30) marketing não é apenas uma arte de vender pro-dutos, mas sim, de compreender o cliente e oferecer um produto que se adapte as suas necessidades de maneira que este se venda praticamente sozinho.
O marketing em seu perfeito desempenho utiliza-se de diversas ferramentas mer-cadológicas que faz com que se possibilite a ter o conhecimento do mercado alvo e suas necessidades. Ainda, segundo o pensamento de Kotler (2000, p. 30), existem diversos tipos de trabalhos e técnicas a serem feitos na administração de marketing, que o autor define como “a arte e a ciência da escolha de mercados alvo e da cap-tação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente.”
Com o passar do tempo, as definições para o marketing e suas funções mudaram para que possam realizar desejos positivos aos seus clientes e as empresas. Se pen-sarmos que antes a preocupação era vender em maior quantidade e atrair novos clientes, a concorrência fez com as empresas se atentasse na construção e perma-nência de relações duradouras devido à variedade de produtos, preços, prazos, e a facilidade que hoje os consumidores têm de comprar de qualquer empresa, contudo a importância do marketing de relacionamento.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 13PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
2.2 Marketing de relacionamento
Para uma empresa, é importante o relacionamento com um cliente, que de acor-do com Kotler (2000, p. 72)
[...] o marketing de relacionamento deve ter início nos possíveis clientes, ou seja, aqueles que poderão vir a consumir o produto oferecido, a empresa deve então determinar quais são os clientes potenciais, que são os que têm grande interesse em consumir o produto e condições de pagar por ele.
O objetivo da empresa se dá em transformar os clientes potenciais em clientes eventuais e depois em clientes regulares, mas ainda esses continuarão comprando da concorrência, portanto a empresa deve agir no intuito de fazer dos clientes regu-lares clientes preferenciais. Estes sim são os clientes que a empresa trata excepcional-mente bem e com conhecimento.
Para Nickels e Wood (1999, p. 5) o marketing de relacionamento é o processo de estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo mutuamente benéficos entre organizações e seus clientes, empregados e outros grupos de interesse.
Segundo Kotler (2000, p. 72) o melhor marketing de relacionamento atualmente em prática é impulsionado pela tecnologia. O autor ressalta ainda que através da tecnologia é possível estar cada vez mais próximo do cliente, conhece-los cada vez mais e assim poder oferecer um produto ou serviço que vá de encontro com os seus desejos e necessidades.
Os desafios de uma empresa para manter-se junto as seus clientes são enormes, devido a grande concorrência, por isso, criar o relacionamento e manter-se único é de extrema importância. Neste contexto, as empresas que fazem marketing inteli-gente melhoram seu conhecimento sobre o cliente e sobre as tecnologias de cone-xão com ele. Convidam o consumidor a participar do design do produto, integram comunicações de marketing, às tecnologias, estão a disposição de seus clientes per-manentemente e os associam aos seus canais de distribuição. Em suma, oferecem um valor superior (KOTLER, 2009).
2.3 Marketing de relacionamento e a tecnologia
A tecnologia a cada dia se sobressai e, de acordo com Neves (2007, p.9), ainda não nos convencemos de que somos testemunhas, atores e expectadores da transição entre duas eras da história da humanidade.
Com o avanço da tecnologia, novas transformações ocorrem. Segundo Cobra (1992, p. 788) a transição da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial per-mitiu substanciais economias em métodos e processos de produção, como também abriram novos horizontes para a comunicação entre pessoas, países e instituições.
14 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
Kotler (1999, p. 16) afirma que a tecnologia configura não apenas a infra-estrutura da sociedade, mas também os padrões conceituais humanos, por isso dentem-se a entender que tudo acontece de forma mais rápida.
Neste aspecto, Neves (2007, p.10) ressalta, também, que uma revolução vem acontecendo na vida produtiva de todos os países, bem como no estilo de vida das pessoas. O marketing como muitas outras áreas foram intensamente afetadas pela transformação trazida pela tecnologia, que segundo Mckenna (1999, p. 10)
[...] num mundo de produção em massa, a contrapartida era o marketing de massa. Em um momento de produção flexível a contra partida é o marketing flexível. O marketing desse novo ambiente, orientado para a tecnologia e para o cliente, deve-se transformar-se em um diálogo entre empresa e consumidor. Se quiserem sua fidelidade, as empresas precisam aprender a serem fiéis aos seus clientes. Esses clientes podem estar no mundo inteiro ou no quarteirão ao lado.
2.4 Marketing e a internet
Com a evolução das redes e da tecnologia trouxe as empresas novas formas de co-municação. Nos diversos canais existentes é possível realizar grandes transações que levam o consumidor desde a fazer uma simples transferência até uma compra on-line.
Tudo isso, de acordo com Kotler (2000 p. 681), envolve fazer negócios no espaço de mercado, em vez de mercado físico. E ainda, segundo o autor, os serviços on-line oferecem três grandes benefícios para os consumidores: conveniência, informação, maior comodidade. As pessoas compram de onde tem a maior vantagem de não se deslocar e ganham maior tempo. Comparar, buscar novos preços e produtos e além de avaliar pesquisas em lojas virtuais podem ser feitas ao mesmo tempo.
Devido a essa mudança, o processo de troca na era da informação passou a ser iniciado e controlado pelo cliente (KOTLER, 2000, p. 682). Desta forma podemos dizer que é o cliente quem convida as empresas e participar e podem com isso ditar regras, definindo quais informações precisam, que ofertas lhes interessam e qual preço es-tão dispostos a pagar.
De acordo com Cavallini (2008, p. 27) o consumidor vai de passivo a ativo passan-do a tomar a iniciativa no relacionamento e ter voz ativa.
Essas mudanças só foram possíveis devido ao crescimento do uso da internet. Onde o consumidor tem ganhado mais poder, exige um melhor atendi-mento, requer mudança nas propostas de valor e aos seus esforços de marketing. Cavallini (2008, p. 27), explica, ainda:
[...] estamos em uma era de transformações que tem na internet...o consumidor já cobiçava tais modificações em seu cotidiano. Havia uma demanda de desejos e necessidades reprimida por falta de um meio de que a entendesse e a acolhesse... esse meio era a internet.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 15PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
Conforme afirma Vaz (2008, p.25) devido a estas facilidades geradas pela internet para o consumidor, as empresas para poderem competir devem oferecer cada vez mais atrativos buscando assim ganhar competitividade com esses novos canais.
Mais do que ter um site ou estar nas redes sociais, o marketing também está revo-lucionando na forma de fazer novos relacionamentos com o cliente e seus negócios. As empresas se expressam através da internet, em suas redes, 24 horas por dia, com o mundo inteiro. Nesta relação os clientes têm buscado informações ou produtos, sabem como o mercado está reagindo ao produto de uma determinada empresa, comparam preços ou fazem uma compra a qualquer hora do dia, sem a ajuda ou intervenção de uma pessoa.
2.5 Marketing Digital
Presença constante em empresas, o marketing digital6 são ações de comunicação que as empresas podem se utilizar por meio da internet e outros meios digitais para divulgar e comercializar seus produtos, conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos. Através deste canal as empresas além de avaliar podem ampliar seus negócios, fortalecer sua marca, conquistar e prospectar novos clientes, criar um relacionamento de fidelidade gerando assim mais negócios e investimentos. A busca de estar em colaboração com o cliente, apresentar informações relevantes com constantes inovações e não bombardear com propagandas abusivas faz com que a empresa seja transparente e alinhada com o cliente. Por isso se faz necessário que o marketing na internet redirecione a visão de mercado, que posicione frente às suas ações e segmente os quais deseja atingir para sempre estar em competitividade.
Segundo Moraes (2006), planejando adequadamente as estratégias a serem ado-tadas e implementando-as de forma segmentada os custos para conquistar clientes se tornam menores. O autor, afirma ainda que, para se ter sucesso, as empresas de-vem oferecer uma experiência on-line superior com o cliente, oferecendo conteúdo relevante, interagindo em tempo real, tomando decisões mais rapidamente e aper-feiçoando o desempenho dos negócios.
Vaz (2008, p.54), neste contexto, explica queo bom e velho marketing continua valendo, no entanto, precisa adaptar conceitos e rever paradigmas”. Acrescenta ainda, “o marketing destes novos tempos interage com o consumidor de maneira completa e faz dele, em tempo real, seu objetivo de estudo e de direcionamento de suas táticas.
A internet, atualmente, é indispensável na vida das pessoas, e estar na rede é ga-rantir um lugar no mundo virtual, passando ser essencial a comunicação das em-presas. Moraes (2006) considera que esta ferramenta é o primeiro passo para uma compra.
6 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_digital>. Acesso em: 15 nov. 2010.
16 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
De acordo com Vaz (2008, p. 78)a internet pode finalmente cumprir a promessa da customização em massa em que cada consumidor se sentirá especial e transmitirá essa percepção positiva para a marca da empresa [...] na internet a propaganda dá lugar à publicidade, o marketing de interrupção dá lugar ao marketing de relacionamento e de permissão, a forma dá lugar ao conteúdo, a via de mão única dá lugar ao diálogo e a participação, o corporativo ao flexível e orgânico, a campanha à ideia, o marketing de massa ao relacionamento com o indivíduo, os segredos da instituição a transparência absoluta e a empresa cede lugar ao consumidor.
Existe um bombardeio de ideias de estar on-line e os seus canais, onde o presente trabalho aborda o blog como tendo este canal. Ponto para o marketing, mais pontos ainda para a internet, que trouxe uma infinidade de possibilidades para nós, afirma Reina7 (2009).
2.6 Tecnologia e Mercado
Com o surgimento da internet,8 do avanço da tecnologia, da popularização do uso do computador, do fácil acesso aos meios de comunicação, possibilitaram a expan-são da internet criando novos conceitos de divulgação de marca ou produto, facili-tando a busca pelo conhecimento, bem como todos os serviços e redes sociais das mais variadas espécies e finalidades.
No Brasil, segundo as pesquisas IBOPE Nielsen9 (2010), a internet cresceu 5,9% em agosto de 2010, onde o número de usuários ativos cresceu de 39,3 milhões para 41,6 milhões e, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE,10 2010), o número de pessoas, com dez anos ou mais de idade, que declararam no ano passado, em 2009, ter utilizado a internet, somou 67,9 milhões. Um salto de 21,5%, em relação a 2008, o quê representou um acréscimo de 12 milhões de novos usuários da web no período.
7 Disponível em: <www.hsmglobal.com>. Acesso em: 16 nov. 2010.8 Em 1969 surge nos Estados Unidos a internet, interligava os laboratórios de pesquisa ao governo americano,
pois durante a Guerra Fria, os cientistas queriam uma rede que não pudesse ser bombardeada pelo inimigo. No Brasil foi liberada a exploração comercial em 1995.
9 Almanaque IBOPE – Pesquisa de Mídia, Mercado e Opinião. Disponível em: <http://www.almanaqueibope.com.br/asp/busca_docInfo.asp>. Acesso em: 11 nov. 2010.
10 Estadão – Pesquisa de Mídia. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ibge-total-de-internautas-cresce-112-em-4-anos,606750,0.htm>. Acesso em: 11 nov. 2010.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 17PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
E ainda, ao se comparar o número de usuários de internet de 2005, que era consi-derado em cerca de 31,9 milhões de internautas, com o número de usuários após 4 anos, em 2009, houve um aumento de 112% no número de pessoas que declararam ter utilizado a internet para quaisquer fins (IBGE,11 2010).
Assim, a internet passa ser o canal de comunicação preferido da geração atual, que a usam para fazer uma consulta ou pesquisa de estudo, efetuar uma compra, fa-zer transações bancárias, visitas virtuais a uma empresa, para se relacionarem e para trabalharem. Tornando-se essencial para as empresa como meio de comunicação.
Com a interatividade entre uma empresa e um cliente, é possível descrever e co-nhecer as suas necessidades e desejos, melhor divulgação de seus produtos, redução de custos, gerarem novas tendências de mercado e até mesmo criar oportunidades de novas formas de negócios entre ambos considerando, assim, algo revolucionário e até mesmo quebra de paradigmas onde fornecem-lhes os próprios empresários se relacionam diretamente com os clientes e as suas informações. Vaz (2008, p. 63), ressalta, neste aspecto, que a informação passa realmente a ser verdadeira protago-nista, se tornando cada vez mais presente em nosso dia-a-dia.
Com a força da internet e seu alcance, as empresas e seus departamentos estão diariamente utilizando estas inovações, buscando pleno conhecimento deste meio para mais investimentos. Segundo Vaz (2008, p. 76) a internet é um meio com ampla riqueza de informações o que facilita qualquer ação de planejamento, pesquisa e levantamento de dados.
Para esta riqueza de informações, ainda, segundo o autor, os departamentos das empresas desabilitam antigas práticas reestruturando em novos conceitos e conhe-cimentos.
Vaz (2007, p. 93) considera que a internet tem o potencial de mudar ou reforçar as atitudes em relação às marcas, bem como o comportamento de consumo. Assim, acredita-se que, desde o surgimento da internet as empresas estão buscando conhe-cimento para se adaptarem a nova realidade de mercado.
É de suma importância que as empresas se fortaleçam para esta nova realidade, tecnologia e para as ferramentas resultantes desta transformação. Buscando assim, reunir a necessidade de melhor relacionamento entre seus clientes com as mais di-versas facilidades que a internet lhes proporcionam.
11 IBOPE. Disponível em: <http://www.tribunadopiaui.com.br/noticia/pesquisa-do-ibge-diz-que-total-de- internautas-cresceu-112-em-4-anos-2885.html>. Acesso em: 14 nov. 2010.
18 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
2.7 Web 2.0
No início do século XXI surgiu à web 2.0, um novo conceito na trajetória de intera-tividade entre usuários e distribuição de livre conteúdo de qualquer participante. As redes sociais ou de relacionamentos foram ganhando espaço. E quando se falam de internet deparamos com um universo amplo e para melhor entendê-las há a neces-sidade de estarmos atentos a ela. A internet ocupa um lugar de destaque na vida das pessoas, seja na sociedade de consumo como também nas empresas e precisamos cada vez mais conhecê-la a fim de habituarmos a ela para melhor usufruí-la.
Tim O’Reilly12 (2010) tem como conceito de web 2.0a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva.
No universo da internet os canais existentes são imensos, cada um deles com uma dinâmica própria. Cada canal contribui com informações ou atos de acordo com o perfil de cada empresa, formando opiniões dos diversos participantes, construindo mais conhecimento sobre o assunto.
O impacto nesta relação de internet e cliente são significantes, com maior impac-to em massa. Neste sentido, Lévy (1998) afirma que a internet está baseada em uma estrutura de comunicação que denomina para todos.
Sendo assim, podemos classificar que a opinião de um consumidor descrita on-line tem o poder de maior alcance que de a qualquer outro veículo. Fato que é ressaltado pela pesquisa realizada pelo IBOPE13 Nielsen (2009). Os resultados desta pesquisa mostraram que a credibilidade dos relatos e apreciações de consumidores publicados via internet é bastante elevada, inclusive sendo maior que os já existem em jornais e revistas. Portanto, com um simples “click” é possível ter o acesso a qual-quer tipo de informação a se comparar preços, produtos e até mesmo escolhendo a melhor opção de compra.
Para Kotler e Keller (2006, p. 532) a comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores (direta ou indi-retamente) sobre os produtos e marcas que comercializam. Para estes autores, é a voz da marca.
12 O termo Web 2.0 foi criado por Tim O’Reilly. Disponível em: <http://web2.0br.com.br/conceito-web20/>. Acesso em: 14 nov. 2010.
13 Disponível em: <www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php>. Aceso em: 16 nov. 2010.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 19PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
2.8 A importância das redes sociais
Para estar presente na internet, é preciso dar o primeiro passo, que é se expor. Etzel (2001, p. 447) diz que a comunicação é a transmissão verbal ou não-verbal de informações entre alguém que deseja expressar uma ideia e uma outra pessoa que receberá ou deverá receber a mesma. Portanto, seja qual gênero e grau os que estão presentes na internet estão vulneráveis a críticas, sejam elas boas ou más, de grande ou pequena aceitação para uma empresa, das quais podem aumentar o valor per-cebido pelos seus clientes, por isso a importância de se ser transparente. Ter uma boa identificação e comunicação de um produto ou marca, neste conceito podemos classificar ao composto do marketing,14 indiferente da empresa só acontecerá se as suas publicações estiverem coerentes com a divulgação exposta e contudo as ações dos internautas brasileiros é relatar e auxiliar as empresas, onde estes ajudam as em-presas a criarem novas campanhas, a se atualizarem com as que já são existentes e serem coerentes com o mercado.
De acordo com Hessel15 (2009), 91% dos internautas usam a rede para se relacio-nar. No Brasil,16 o crescimento da internet é intenso, conforme relato do gerente do IBOPE/NetRatings Alexandre Sanches Magalhães, e com o acesso mais fácil as classes C e D tiveram seu poder de compra aumentado. O Brasil17 é o sétimo no mercado em internautas no mundo, ficando a frente de países como Austrália, Canadá e até mesmo a Itália.
E, dando continuidade, no internauta brasileiro, aos poucos as empresas vão des-cobrindo quem é o internauta típico, descobre-se que a faixa etária varia de 29 a 49 anos, das quais 84% pertencem às classes A e B, com nível superior completo, repre-sentando 20 milhões de brasileiros, ou seja, 11% da população (VAZ, 2005).
Ainda, o TGI/IBOPE18 apontou que os brasileiros investem 34% do tempo em blog ou redes sociais. A cada segundo,19 um novo blog é criado e, de acordo com estudos realizados, os brasileiros passam três vezes mais tempo, por semana, conectado a internet que em qualquer outro meio de mídia.
14 Produto, Preço, Praça e Promoção, compõem o chamado 4P’s do Marketing.15 Disponível em: <www.portalexame.abril.com.br>. Acesso em: 24 nov. 2010.16 Disponível em: <www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php>. Acesso em: 24 nov. 2010.17 Disponível em: <www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php>. Acesso em: 24 nov. 2010.18 Disponível em: <www.oslodigital.com.br/blog/tag/branding/>. Acesso em: 24 nov. 2010.19 Pesquisa sobre novos blogs criados. Disponível em: <http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php>.
Acesso em: 24 nov. 2010.
20 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
Portanto, a finalidade de adentrarmos a estas redes e estarmos ativos na internet pode classificar o ganho da liberdade com os clientes. Pois, os mesmos irão indicar novas mudanças em vários segmentos da empresa. Além, de considerar que as em-presas podem se beneficiar, com as contribuições dos clientes, no processo de reso-lução dos problemas que possam surgir.
De fato, os departamentos da empresa têm a finalidade de relacionar-se bem com os clientes daí a maior responsabilidade do marketing digital que é bastante seme-lhante às redes sociais. Este departamento cria um maior diálogo e parceria com os clientes e seu público-alvo fazendo que ao longo do processo com a comunicação fique mais alinhado ao interesse dos internautas.
2.9 O perfil do consumidor
O perfil do consumidor tem se tornado muito exigente, e com as mudanças trazi-das pela internet se dá a possibilidade de busca por novos clientes. As propagandas on-line tem se mostrado cada vez mais amplas e “ferozes” se alastrando a cada instan-te pelo universo virtual. Do departamento de tecnologia a área de marketing, a web está em toda a parte como peça que pode ser considerada essencial (REINA, 2009).
Pode-se, assim, até afirmar que o meio tradicional de comunicação, como rádio e televisão, nos dias atuais, não se popularizou tanto, como a internet como um canal de informação, entretenimento e pesquisa. Ela atende as necessidades de crianças, jovens e adultos que são bombardeados por uma vasta variedade em produtos e afins onde a oferta e publicidade são de forma mais fácil.
O marketing digital torna-se, assim, uma ferramenta de grande importância para as empresas e seus serviços, na busca de resultados que possam atrair mais e mais clientes mostrando assim as mais diversas variedades de produtos e possibilidades. Muito embora existam outras redes sociais, como o twitter, que também permitem o relacionamento instantâneo e isso abre novas possibilidades além dos sociais tam-bém para os negócios. Entretanto, conforme já destacamos, o blog, foco deste traba-lho, é uma ferramenta que vem se mantendo com grande potencial para os negó-cios, mesmo aparecendo, recentemente, outros ambientes virtuais nas redes sociais.
As empresas, dentro deste canal de comunicação, o blog, criam um acesso à in-formação por parte de seus clientes, no intuito de colher informações tanto positivas como negativas, ou seja, feedback20 por parte dos leitores. Neste cenário, reafirma-mos, portanto, a importância de se considerar o blog como uma ferramenta adequa-da e potencial para dialogar com os clientes ou, identificar potenciais clientes para os negócios de qualquer empresa.
20 Feedback é a resposta obtida sobre uma determinada ação.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 21PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
2.10 Blog e o seu poder de comunicação
Atualmente, o blog constitui como uma ferramenta de informação e comunica-ção, que, juntamente com os departamentos de uma empresa, dissemina a infor-mação, servindo como alternativa à mídia tradicional, como por exemplo, o site. Se-gundo Wright (2008, p. 02), permite junto aos seus clientes e usuários o poder de ouvi-los, descrever comentários e informações.
As empresas têm investido cada vez na comunicação, e um dos canais de fácil acesso e interatividade a este serviço disponível na internet é o blog. Conforme ressal-ta Vaz (2008 p. 274) os blogs e as comunidades virtuais fornecem farto material para empresas e consumidores sobre os mais diversos produtos e serviços.
O espaço virtual dos blogs não pára de crescer,21 segundo dados da Technorati, em março de 2006 havia mais de 35 milhões de blogs, sendo impossível se saber, ao acerto, o número de pessoas que realmente leem os blogs (WRIGHT, 2008).
O blog atua como uma ferramenta para compartilhar conhecimento e ainda con-siste em outros itens que, para Wright (2008) contribuem para o relacionamento e informação.
Todavia, os canais de blogs têm sido mais utilizados para expressar opiniões, apre-sentar novas informações, realizar algum tipo de promoção ou marketing e, princi-palmente, para comunicar idéias e informações, sendo que uma das mais importan-tes ações é a interatividade com o cliente. As empresas revelam através deste canal seus produtos e serviços, os clientes e leitores lêem e comentam, os autores e outros leitores respondem aos comentários e, assim por diante a comunicação e interação ocorrem. A quantidade de insersões de blogs, a cada 6 meses, é dobrada e, a cada dia, são criados cerca de 75 mil novos blogs (TECHNORATI, 201022). Estes números destacam o sucesso desta ferramenta, o que sugere entender, também, que há uma crescente necessidade pela busca e comunicação.
Estudos23 mencionam o poder das informações em que 1,2 milhões delas são colocados nos blogs diariamente, quase 50 mil por hora. A produção dos blogs requer uma relação de troca, que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum.
21 Evolução da blogosfera. Disponível em: <http://technorati.com/>. Acesso em: 05 dez. 2010.22 Disponível em: <http://technorati.com/>. Acesso em: 05 dez. 2010.23 Disponível em: <www.espacoacademico.com.br> e <http://technorati.com/>. Acesso em: 05 dez. 2010.
22 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
A força dos blogs está segundo Muller24 (2006) em possibilitar que qualquer pes-soa, sem nenhum conhecimento técnico, publique suas idéias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, crian-do um grande debate aberto a todos.
3 METODOLOGIA
A fim de refletir sobre o tema proposto e atender os objetivos estabelecidos, ado-tou-se a abordagem qualitativa nessa investigação, que tem na pesquisa explorató-ria seu aporte e, que mais se adequa ao propósito do assunto em questão.
Para que os assuntos de marketing fossem abordados e atender os objetivos es-tabelecidos, foi necessário realizar uma pesquisa exploratória em diversas fontes bibliográficas. Assim, foi realizada uma pesquisa pelo site de busca Google, no intui-to de identificar o tempo de navegação de um internauta e quais as mais variáveis consultas. Ainda, ressaltando a observação junto a um blog onde tivesse um grande número de seguidores, podendo ele ser de cultura, entretenimento, esporte entre outros.
Contudo, a proposta deste trabalho aponta para a necessidade de identificar blogs que pertencem às empresas que os utilizam com a finalidade de se aproxima-rem com seu público-alvo e neste caso os blogs da Nike Corre e da Starbucks foram os escolhidos, onde estas empresas, além de trazer notícias, mantêm seus blogs atu-alizados com informações de treinamento de atletas do mundo todo diariamente.
4 CASES POSITIVOS EM MÍDIA SOCIAL: NIKE E STARBUCKS
4.1 Nike Corre
Uma empresa que destacou como case25 de sucesso nesse segmento das redes sociais, com seu blog, foi a Nike Corre. A empresa chamou a ação com o slogan “um blog feito por você”, onde os internautas podiam interagir e fazer parte do universo da Nike Corre. Um canal de fácil acesso onde os internautas enviam suas sugestões de um tema que gostariam de ler no blog e a empresa faz um post com o determinado assunto proposto. Com esta interatividade, o blog, logo, tornou-se um sucesso entre os esportistas internautas.
24 TERRA, C. F. Blogs corporativos como estratégia de comunicação. Disponível em: <http://www.rp-bahia.com.br/rpemrevista/edicao15/blogs_corporativos_como_estrategia_de_comunicacao.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2010.
25 Disponível em: <www.slideshare.net/rkiso/cases-positivos-e-negativos-em-mdias-sociais>. Acesso em 24 dez. 2010.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 23PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
Criado em 200626 o Nike+ é um revolucionário sistema wireless que permite ao corredor registrar diversas informações a partir de um chip instalado na entressola do tênis para o iPod nano. Afinal este espaço além de divulgar matérias faz com que os corredores dividem as suas opiniões e experiências. A empresa conseguiu formar, rapidamente, uma das maiores comunidades virtual de corredores de todo o plane-ta. A comunidade agregou neste período cerca de 1,2 milhão de esportistas de mais de 160 países, que só no Brasil somavam, em agosto de 2008, cerca de 34 mil pes-soas. Reunindo, aproximadamente, 780 mil corredores a Nike agregou um excelente banco de dados que permite conhecer o perfil do seu cliente e de seus produtos. Assim, a empresa, estrategicamente, transformou o seu produto em serviço, abrindo um canal27 de comunicação com seus clientes. E foi ainda mais longe, criando uma parceria com a empresa Apple, possibilitando aos clientes, ao adquirirem o Nike Plus, um kit da Nike composto de um sensor que se instala no tênis e outro para iPod, os mesmos puderam passar a medir sua performance e registrá-lo no site de relaciona-mento criado e mantido pela própria Nike.
Com este sistema, a Nike realizou o sonho de toda a empresa, com forte apelo de marketing, o de transformar o conceito que existe por trás de um produto em algo muito maior que o produto em si. Ainda, pode-se afirmar que os dados arquivados nesta comunidade virtual permitiram aos corredores e, entre eles, criar bases de in-formação. O que permitiu aos usuários saber e socializar, por exemplo, qual dia é melhor para a prática esportiva da corrida, qual a duração ideal dos treinos, quais as melhores trilhas, entre outros.
4.2 Starbucks
Outra empresa a se destacar neste segmento foi a Starbucks. Fundada em 1971, teve sua primeira loja inaugurada na cidade de Seattle, nos EUA. Chegando a Europa em 1998, na cidade de Lisboa, Portugal.
Em 2011, a empresa chegou a atingir 50 mil lojas em mais de 15 países, concei-tuando assim, a maior rede de cafeterias do mundo. Com mais de 15 mil fãs,28 7.500 seguidores e quase 2.500 amigos inscritos através das redes sociais.
26 Disponível em: <www.slideshare.net/rkiso/cases-positivos-e-negativos-em-mdias-sociais>. Acesso em: 19 nov. 2010.
27 Disponível em: <inside.nike.com/blogs/nikerunning_news-pt_BR>. Acesso em: 29 nov. 2010.28 Disponível em: <www.slideshare.net/BrunoCardoso3/starbucks-um-caso-de-sucesso>. Acesso em: 30 nov.
2010;
24 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 Mídia social
A empresa permite que seja feito grande interação por parte dos clientes, os mes-mos acompanham a marca Starbuck podendo-se utilizar dos vídeos institucionais a qualquer outro local que pretenda. A empresa permite, ainda, aos clientes a partilhar conceitos, onde que incentivados opinam e colaboram nas estratégias da empresa. Pensando na interatividade com o cliente permitiu, também, que o blog fosse escrito por eles, fazendo desta parceria um canal de ideias.
Além de informar sobre os novos pontos relacionados às matérias faz com que aumente a fidelização à marca. A Starbuck, com grande foco29 no cliente passou, as-sim, a acompanhar, em tempo real, as opiniões das pessoas sobre a empresa.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As empresas, através dos seus meios de comunicação, aprimoraram os seus depar-tamentos para que através do marketing criam-se um novo canal de comunicação com os seus clientes. Neste contexto, muitas são as possibilidades para o uso da internet através das redes sociais, onde os blogs se destacam. O marketing digital, descrito aqui, permite identificar o comportamento dos consumidores em relação à empresa e seus serviços. Contudo, a estas facilidades que hoje a web 2.0 disponibiliza, as empresas tem se preparado para um melhor atendimento e relacionamento, pois hoje, mais do que nunca, o comprador se mostra mais exigente, sabe o que quer e não aceita qualquer conteúdo ou informação que seja inadequada, pois também se dá uso a internet para expor seus desagrados. A internet deixou de ser apenas um meio de diversão, tornou-se um ambiente virtual que representa um avanço importante para as marcas. As em-presas cada vez mais, percebendo esse avanço junto à tecnologia estão procurando se inserir mais as redes sociais, prova disto é o aumento no número de blogs nos quais há a constante troca de informações entre as empresas e os consumidores.
Portanto, diante dos avanços tecnológicos, da exigência do consumidor, da co-municação e interavitidade entre as empresas a capacidade interativa da internet revela inúmeras oportunidades para empresas se desenvolverem ou se aperfeiço-arem, tornando-se mais competitivo ao mercado. Sendo assim, tanto o marketing de relacionamento como outros canais de relacionamento dentro de uma empresa, buscam novas maneiras de comunicação com o cliente através de meios interativos, que se conceituam na mais elevação de valor e de fidelidade à marca. As informações apresentadas neste estudo, com certeza, sofrerão profundas mudanças no decorrer dos anos futuros, afinal, a dinâmica desse segmento cresce exponencialmente. No entanto, a contribuição desse estudo é no sentido de considerar que o advento das novas tecnologias e seu uso em rede veio para configurar uma nova sociedade.29 Starbucks Gossip - Blog. Disponível em: <starbucksgossip.typepad.com>. Acesso em: 05 dez. 2010.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 9-25, 2013 | 25PEDRON, E.; AZZOLINO, A.P.
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CASTELLS, M. Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CAVALLINI, R. O marketing depois de amanhã: explorando novas tecnologias para revolucionar a comunicação. (2º Ed.) São Paulo, Editora do Autor, 2008.
CHURCHILL, G.A; PETER JR, J.P. Marketing: criando valor para o cliente. (2º Ed.) São Paulo: Saraiva, 2011.
COBRA, M. Administração de marketing. (2º Ed.) São Paulo: Atlas, 1999.
ETZEL, M. J.; WALKER, B. J.; STANTON, W. J. Marketing. São Paulo: Makron Books, 2001.
HESSEL, D. Os brasileiros e a internet. Disponível em: <www.portalexame.abril.com.br>. Acesso em: 24 nov. 2010.
KOTLER, P. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. (5º Ed.) São Paulo: Futura, 1999.
_______. Administração de marketing: a edição do novo milênio. (10º Ed.) São Paulo, Prentice Hall, 2000.
_______. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. São Paulo: Ediouro, 2009.
KOTLER, P.; KELLER, K. Administração de marketing. (12º Ed.) São Paulo: Pearson, 2006.
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
_______. A revolução contemporânea em matéria de comunicação. Porto Alegre: FAMECOS, nº 9. p. 37-49, dez. 1998.
LIMEIRA, T. M. V. E-marketing: o marketing na internet com casos brasileiros. (2º Ed.) São Paulo: Saraiva, 2007.
MCKENNA, R. Marketing de relacionamento. São Paulo: Publifolha, 1999.
NEVES, R. O novo mundo digital: você já esta nele - oportunidades, ameaças e as mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2007.
NICKELS, W. G; WOOD, M. B. Marketing: relacionamentos, qualidade, valor. Rio de Janeiro: LTE, 1999.
REINA, V. Marketing on-line: ponto pra quem? Disponível em: <www.hsmglobal.com>. Acesso em: 16 nov. 2010.
SANDHUSEN, R. L. Marketing básico. São Paulo: Saraiva, 1998.
VAZ, C. A. Google marketing: o guia definitivo de marketing digital. (2º Ed.) São Paulo, 2008.
WRIGHT, J. Blog marketing. São Paulo: M Books do Brasil, 2008.
26 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 Arquitetura da informação aplicada à uma interface...
ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO APLICADA À INTERFACE DO BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
INFORMATION ARCHITECTURE APPLIED TO THE INTERFACE OF THE TICKET ROAD
Michel Gomes de Lira1 Samara Pereira Tedeschi2
Fabiane Fernandes Rodrigues3
Resumo
A arquitetura da informação (AI) é o campo do design que estuda a organização das informa-ções existentes em um suporte, auxiliando na melhoria da interface entre usuário e produto. O objetivo desta pesquisa é apresentar uma nova proposta de bilhete de passagem rodoviá-rio intermunicipal, baseado na AI, através da reorganização das informações em sua interface gráfica, uma vez que o momento mais importante entre usuário e produto é o da leitura do mesmo. O projeto foi desenvolvido através dos conceitos da AI, utilizando os elementos de comunicação, como os aspectos tipográficos e cromáticos, além do grid. Diante da aplicação de questionários, para verificar a aceitação da nova proposta de bilhete de passagem rodo-viária, a maior parte dos usuários demonstrou satisfação em relação à clareza e objetividade das informações para utilizá-lo.
Palavras-chave: Arquitetura da informação. Bilhete de passagem rodoviário. Interface gráfica.
Abstract
The Information Architecture (IA) is the field of Design studying the organization of existing infor-mation on a support, helping to improve the interface between user and product. The objective of this research is to present a new proposal for road intercity passenger ticket, based on AI by reorga-nizing the information in your graphic interface, since the most important moment between user and product is the reading of it. The project was developed through the concepts of AI, using the elements of communication, such as typographical and chromatic aspects, beyond the grid. Be-fore the questionnaires to verify acceptance of the proposed new road passenger ticket most users were satisfied in relation to the clarity and objectivity of the information to use it.
Keywords: Information architecture. Travel ticket road. Graphic interface.
1 Aluno) do Curso de Design da Faculdade de Administração e Artes de Limeira – FAAL. e-mail: [email protected].
2 Professora (Orientadora) do Curso de Design da FAAL. e-mail: [email protected] Professora (Co-orientadora) do Curso de Design FAAL. e-mail: [email protected].
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 | 27LIRA, M. G.; TEDESCHI, S. P.; RODRIGUES, F. F.
1 INTRODUÇÃO
A essência da Arquitetura da Informação é ordenar de forma sistemática toda in-formação que se encontra aleatoriamente disposta dentro de um conjunto ou supor-te, quando se percebe que na sua concepção houve atributos que por algum moti-vos atrapalharam a objetividade dessa organização, ou seja, não se pode classificar um projeto como sendo organizado e preocupado em informar se este já em sua idealização é deficiente quanto à própria estrutura formativa e informativa (MORAES & SANTA ROSA, 2012).
A literatura não apresenta uma história ou relatos que corroboram precisamente para a origem do bilhete de passagem rodoviário, apenas se sabe que este veio de-senvolvendo-se ao longo da história paralelamente ao transporte público em meio aos acontecimentos dos grandes centros urbanos. O que se pode apresentar são indícios registrados pela história que colaboraram para sua composição, onde tais fragmentos foram pouco a pouco modelando o grid para encaixar os elementos ne-cessários tanto para o atendimento informativo como fiscal e entre os demais ao qual ele se encontra ligado nos dias de hoje (MILBUS, 2012).
Portanto, percebe-se quão grande podem ser as contribuições da arquitetura da informação (AI) para uma concepção organizada e sistemática da informação, onde a interface além de ser este canal desempenha o papel esclarecedor, objetivo e cola-borador no que diz respeito a comunicar seu usuário.
Foram desenvolvidas duas propostas de bilhete rodoviário, tomando como obje-to de estudo o bilhete de passagem rodoviário atual da empresa Viação Bona Vita e posteriormente aplicados questionários para verificar a eficácia do desenvolvimento e identificar possíveis falhas.
O designer tem como papel solucionar problemas ou necessidades das pessoas que utilizam os produtos gráficos ou tecnológicos, visando satisfazer esses usuários, através de um produto que lhe atenda da melhor forma possível e, isso quer dizer, que o produto deve permitir que o usuário atinja o seu objetivo da forma mais efi-ciente possível. A AI ajuda o designer a desenvolver projetos gráficos que permita que a informação seja passa de forma clara e efetiva.
1.1 Descrição do problema
É comum o fluxo variado de pessoas dentro de uma rodoviária, pois este sistema se baseia em apenas enviar e receber pessoas que saem apenas para trabalhar, bem como aqueles de outras regiões que estão a passeio ou até mesmo os que buscam uma nova oportunidade de vida. Entretanto o momento mais importante de inte-ração entre usuário e produto é o que antecede o embarque, logo após receber o
28 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 Arquitetura da informação aplicada à uma interface...
bilhete, onde se olha atentamente o bilhete e são exploradas suas informações a fim de ligeiramente se localizar e ir até o local indicado.
A partir da desconstrução do bilhete de passagem rodoviário intermunicipal, foram observadas variáveis que podem influenciar na organização e consequente-mente na comunicação das informações, como: o aspecto tipográfico (letra pequena e desprovida de hierarquia), aspecto cromático (cor depositada de modo aleatório onde apenas sinaliza, mas não identifica, pelo simples fato da respectiva tipografia não colaborar para este fim), e o grid (estrutura com campos que não direcionam o usuário ao embarque).
1.2 Justificativa
Segundo Agner (2009), o foco da arquitetura da informação (AI) é projetar estrutu-ras (ambientes informacionais) que forneçam, aos usuários, recursos necessários para transformar suas necessidades em ações e para atingir seus objetivos com sucesso.
A AI se constitui de três elementos básicos e fundamentais para a comunicação que são: contexto, conteúdo e usuário. Assim, o bilhete como um todo pode ser tido como o contexto – por isso deve-se explorá-lo e entendê-lo porque trata toda aquela situação, ou seja, os vários elementos informativos sobre aquele suporte.
O conteúdo é o resultado da interpretação do contexto transfigurado em infor-mação, onde tais nichos informativos precisam ser selecionados de modo que a in-formação trabalhe em sentido colaborativo entre si e a responder as intenções do usuário; por isso, deve ser compreendida numa perspectiva minimalista que con-verta as poucas informações em maior possibilidade de clareza sendo somente o necessário o único objetivo.
E, por fim, o usuário, que passa a assumir um papel basilar junto à concepção de qualquer produto e também junto ao design e ao designer, mediando às expectati-vas e os valores a serem aplicados ao projeto (MENDONÇA, 2006).
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Geral
Desenvolver uma nova proposta de bilhete de passagem rodoviário intermunici-pal, aplicando conceitos de arquitetura da informação (AI) para a reorganização das informações em sua interface gráfica na parte frontal.
1.3.2 Objetivos específicos
• Analisar o objeto informação do bilhete de passagem rodoviário intermunicipal e sistematizá-lo, simplificando e ordenando todos os elementos que compõem
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 | 29LIRA, M. G.; TEDESCHI, S. P.; RODRIGUES, F. F.
esta interface gráfica da parte frontal para sua melhor compreensão, bem como os aspectos tipográficos, cromáticos e o grid;
• Aplicar o conceito de “Design Centrado no Usuário” (D.C.U.), observando e ou-vindo as necessidades do seu usuário através da aplicação de questionários;
• Aplicar os conhecimentos da AI e usabilidade, que atenda à praticidade de seu usuário, visando converter as informações encontradas num conhecimento que o direcione com segurança até onde ele quer chegar.
2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a condução desta pesquisa é a exploratória e des-critiva, incluindo análises qualitativas. Desta forma, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre Arquitetura da Informação (AI) e os elementos de comunicação, como os aspectos tipográficos e cromáticos, além do grid.
Posteriormente, no terminal rodoviário da cidade de Limeira, no interior do Estado de São Paulo, foi feito uma observação informal, na qual se acompanhou a interação entre usuário e objeto, anotando as dificuldades percebidas. Em segui-da, foi aplicado um questionário qualitativo, abordando aleatoriamente usuários para coletar sugestões e reclamações que circundam a estrutura do bilhete. Para esta pesquisa tomou-se como objeto de estudo o bilhete rodoviário intermunicipal da empresa Bona Vita.
Num segundo momento, e com o material coletado em campo, foi realizada uma análise mais apurada do mesmo, adotando a análise do suporte visual de Munari (2000), que consiste em analisar a mensagem visual por uma ótica dissociativa, divi-dindo-a em suporte e informação, para melhor identificar e conter o problema.
A partir disso, o bilhete foi segregado em vinte e quatro campos (Figura 1).
Figura 1 – Bilhete de passagem rodoviário da empresa Viação Bona Vita
Fonte: os autores (2013).
30 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 Arquitetura da informação aplicada à uma interface...
Posteriormente teve início a desconstrução do bilhete e a eliminação de alguns campos sinalizados pelos usuários como “desnecessários”, de acordo com o questio-nário aplicado. Assim, de acordo com a pesquisa, os campos desinteressantes para o bilhete de passagem rodoviário intermunicipal seriam: 1, 3, 5, 6, 9, 15, 16, 18,19, 21, 22, 23 e 24 (Figura 2).
Figura 2 – Desconstrução completa do bilhete e retirada de alguns campos
Fonte: os autores (2013).
Intrínseco à análise descrita anteriormente foi aplicado o cardsorting, cujo con-ceito é transcrever as informações em cartões para a clara e objetiva visualização de todo o contexto que deve ser retrabalhado, permitindo montar, posicionar e vi-sualizar conteúdo de forma mais adequada para a criação de uma nova arquitetura informativa (Figura 3).
Contando com a colaboração de dois voluntários, o processo iniciou-se com a entrega de 24 cartões contendo nestes o conteúdo das 24 partes fragmentadas no processo anterior, onde de forma aleatória e sem qualquer estrutura pré-estabele-cida, foi pedido para que eles montassem um novo conjunto o qual julgassem ter a melhor disposição dos componentes, independente da adição ou subtração das informações, para uma clara e objetiva comunicação daquela interface (Figura 3).
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 | 31LIRA, M. G.; TEDESCHI, S. P.; RODRIGUES, F. F.
Figura 3 – Processo de montagem do cardsorting
Fonte: os autores (2013).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao manusear o mix de informações e opiniões distribuídas pelos usuários pesqui-sados, e tendo em vista os resultados do processo anterior e abstraindo estes para o campo do Design, iniciou-se a fase de reconstrução, utilizando softwares de desenho vetorial, como o Adobe Illustrator CS e Corel Draw, que permitiu aplicar os elementos conceituais estudados a fim de estruturar e encaminhar todos os elementos da inter-face gráfica chegando a uma composição que oferecesse clareza e objetividade nas informações transmitidas ao usuário.
Desta forma foram desenvolvidas duas proposta de bilhete, como mostram as figuras 4 e 5.
Figura 4 – Proposta de bilhete rodoviário - 01
Fonte: os autores (2013).
32 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 Arquitetura da informação aplicada à uma interface...
Figura 5 – Proposta de bilhete rodoviário – 02
Fonte: os autores (2013).
Os elementos de comunicação, indicados inicialmente, foram trabalhados sob os aspectos: tipográfico; cromático e construção do grid.
Em relação ao aspecto tipográfico, aumentou-se e melhorou a tipografia já inseri-da no grid, bem como a impressa no ato da compra do bilhete. Optou-se por fontes cujo corpo e por se tratar das informações mais relevantes chegam aos 20 pontos, nas propostas 01 e 02 e de modo geral temos em seus conjuntos uma variável que parte dos 6 pontos indo até aos 20 pontos, sendo estas articuladas conforme sua importância e conteúdo de informação.
Na elaboração do conteúdo tipográfico e já cogitando novas possibilidades de clareza e comunicação, variaram-se as fontes mecânicas da impressão para um tipo sem serifa, justamente para padronizá-lo junto ao contexto dos demais títulos de informação contidos na arquitetura do bilhete, que por sinal nos levou a decidir pela fonte arial regular e arial bold variando apenas em alguns casos. Conservando o modo de impressão matricial optou-se pela fonte fake receipt com um tamanho maior a fim de melhorar a legibilidade da informação. Quanto ao logotipo ficamos com a mesma tipografia utilizada em sua em sua criação, onde apenas variamos em sua espessura com adobe garamond pro bold.
No aspecto cromático, o melhoramento da comunicação das informações se deu através das cores com o intuito de provocar o contraste que direcione o olhar do usuário para as informações de maior relevância. Para as características cromáticas pensou-se em criar um ligeiro contraste entre figura (informação) e fundo (cor e ele-
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 | 33LIRA, M. G.; TEDESCHI, S. P.; RODRIGUES, F. F.
mento que ressalta a informação) e só assim gerar uma comunicação intencional que desvie e desperte o usuário para o valor daquele determinado campo.
Desta forma, optou-se, também, por melhorar o logotipo da empresa para eluci-dar sua identidade visual. Isto gerou uma paleta de cores e garantiu a escolha de um tom (cor laranja) que serviu para estabelecer o contraste entre figura/fundo e apli-cá-lo junto aos campos mais consultados pelo usuário pelo seu grau de relevância;
Na construção do grid, com o auxilio da AI, buscou-se adaptar o conteúdo ao con-texto, reorganizando todas as informações em uma estrutura que seja clara e objeti-va ao comunicar o usuário. No grid de ambas as alternativas, foram articulados todos os elementos já mencionados, procurando refazê-los com base nos conhecimentos da AI, que preocupada em atender o usuário colaborou ao adaptar o conteúdo ao contexto para melhor informar gerando uma estrutura clara e objetiva em sua co-municação a este novo modelo. O único elemento conservado em relação ao novo modelo de passagem rodoviário foi a cor azul que já compunha seu grid, pois julgou-se ser apropriada tanto para a demarcação dos campos como no complemento junto às demais cores do conjunto.
E por fim, foi aplicado um novo questionário a fim de objetivamente comparar os novos protótipos junto ao atual modelo, e eleger a alternativa mais apropriada para estar atendendo ao público-alvo que pode ser melhor visualizada na Figura 6.
Figura 6 – Comparação dos elementos de comunicação entre o bilhete atual e as novas propostas
Fonte: os autores (2013).
Foram entrevistadas 28 pessoas e o resultado deste questionário mostrou que tanto a proposta 01 como a 02 tiveram grande aceitação entre os usuários. A pro-posta 02 com 15 pontos acabou se destacando por 2 pontos percentuais em rela-ção à proposta 01, com apenas 13 pontos. Outro fator para comentários entre as propostas apresentadas é que os usuários com um maior grau de instrução (com curso superior completo ou incompleto) sempre indicavam a proposta 02 como
34 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 26-34, 2013 Arquitetura da informação aplicada à uma interface...
sendo o mais interessante numa posição de 09 pontos, o que equivale a 32,14%, enquanto as pessoas menos instruídas (com ensino fundamental ou médio com-pleto ou incompleto) optavam pela proposta 01 num percentual de 11 pontos, o que equivale a 39,28% das amostras.
Ressaltamos que, apesar destas diferenças entre as propostas, a proposta 02 foi a mais votada, atingindo uma posição de 15 pontos, o que equipara a 53,57% das 28 pesquisas aplicadas. Enquanto a proposta 01 permaneceu com 13 pontos numa proporção de 46,42% em relação às entrevistas aplicadas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho a relação usuário-objeto, foi o foco. A fim de experimentá-la e en-tendê-la, para abstrair junto à sua desconstrução e compreender cada componente e a participação colaborativa dos usuários, fez-se uma seleção do que se considerou relevante e discriminou as informações desnecessárias ao usuário.
Desta forma, um redesign foi iniciado adotando a opinião do usuário como diretriz projetual adjacente as práticas conceituais da arquitetura da informação (AI) que caminhou corrigindo as possíveis falhas oriundas dos aspectos organi-zacionais e funcionais deste objeto, tornando a mensagem descomplicada de leitura e aprendizagem as diversas classes de viajantes.
A informação deve ser compreendida por seus usuários e por isso deve ser passa-da de forma clara, fazendo sentido ao usuário. Por isso, o uso da AI no “Design da Infor-mação” é primordial para se atingir esse objetivo e permitir que os usuários, como os dos bilhetes rodoviários, se sintam mais satisfeitos ao ter que fazer uso deste artefato.
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGNER, L. Ergodesign e arquitetura da informação: trabalhando com o usuário. (2a Ed.). Rio de Janeiro: Quartet. 2009.
MENDONÇA, R. M. L. O. II Workshop: Um olhar sociotécnico sobre a engenharia de software – WOSES. 2006. Faculdade de Design. Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais, 2006. Disponível em: < http://www.cos.ufrj.br/woses2006/pdf/02 >. Acesso em: 09 out. 2012.
MILBUS, Acessoria em Ônibus Ltda. História do ônibus no Brasil. 2004. Disponível em: < http://www.milbus.com.br/revista_portal/revista_cont.asp?140 >. Acesso em: 04 set. 2012.
MORAES, A.; SANTA ROSA, J. G. Avaliação e projeto no design de interfaces. (2a Ed.) Rio de Janeiro: 2AB - Série Oficina, 2012.
MUNARI, B. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 | 35
A HISTÓRIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO PARADIDÁTICO PARA
CRIANÇAS DE QUATRO A SETE ANOS DE IDADE
THE HISTORY OF ART IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: DEVELOPMENT OF A PARADICDATIC BOOK FOR CHILDREN FROM FOUR TO SEVEN YEARS OLD
Livia Riani Costa Cazonatto1 Samara Pereira Tedeschi2
Resumo
A Arte está presente na humanidade desde os primórdios, surgindo como forma de comuni-cação anteriormente à linguagem oral e escrita. Ela se faz necessária ao passo que é meio de expressão e modo de entendimento e representação da realidade. Assim como na humani-dade, a Arte se faz presente e importante na vida de uma criança antes mesmo da aquisição da fala e da alfabetização. A partir de conceitos apreendidos nos estudos de arte e educação, um livro infantil de História da Arte foi desenvolvido tomando por base características do público-alvo e parâmetros editoriais com a finalidade de colaborar com o aprendizado in-fantil a cerca do assunto. O mercado conta com poucas publicações com este propósito e se mostra promissor. Este projeto traz os estudos realizados para o desenvolvimento do livro assim como o processo criativo da solução do problema proposto.
Palavras-chave: História da arte. Livro infantil. Arte e educação.
Abstract
The Art is present in humanity since the beginning, emerging as communication even before the oral language and writing. It is necessary while it is a means of expression and way of understan-ding and representation of reality. Just as in humanity, the Art is present and important in a child’s life even before the acquisition of speech and literacy. From concepts learned in the study of art and education, a children’s book of Art History taking was developed based on characteristics of the target audience and editorial parameters in order to collaborate with the child learning about the subject. The market has few publications for this purpose and shows promise. This project brings the studies for the development of the book as well as the creative process of the solution proposed.
Keywords: History of art. Children’s book. Art and education.
1 Aluna do Curso de Design da Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL). e-mail: [email protected].
2 Profa. (Orientadora) do Curso de Design da FAAL. e-mail: [email protected].
36 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 A história da arte na educação infantil
1 INTRODUÇÃO
A introdução da atividade artística na primeira fase da vida pode representar a aquisição do equilíbrio entre o intelecto e a emoção e tornar a criança um ser hu-mano adaptado e feliz. A criança se expressa artisticamente desde que nasce com seus movimentos corporais. Aos dois anos de idade, a criança começa a rabiscar pa-péis como forma de dominar seus movimentos. Estes rabiscos vão tomando forma conforme estes movimentos vão sendo dominados, e com cerca de quatro anos, a criança começa a estabelecer uma relação de seus desenhos com a realidade. Assim, a criança passa a retratar fatos importantes de sua vida em seus desenhos e, através deles, pode compreender melhor sua realidade. Nesta fase, os desenhos começam a tomar formas identificáveis (LOWENFELD, 1977).
Tendo em vista a importância da Arte na educação infantil, este projeto tem por objetivo a criação do 1º volume de uma coleção de livros de História da Arte voltados ao público de 4 a 7 anos, desenvolvidos a partir de estudos e pesquisas referentes à necessidade do público-alvo e às carências do mercado, com atividades complemen-tares que acrescentem à educação da criança e layout didático, baseado nos princí-pios editoriais estudados.
O Design Editorial auxiliou, através de seus conceitos no desenvolvimento do pro-jeto gráfico do livro, que está além da elaboração do layout das páginas, mas tam-bém na garantia da apresentação das informações pretendidas da maneira mais ade-quada possível para o bom entendimento por parte do leitor (HASLAM, 2007). Assim, o projeto apresenta soluções que auxiliam na transmissão da mensagem pretendida pelo autor a partir da escolha de cada componente do projeto de forma coesa, em coerência com o assunto abordado e o público pretendido.
A coleção traz as aventuras de Bia pelo mundo das Artes através de uma viagem pelo tempo e cada volume apresentará um movimento artístico ou período da His-tória da Arte de maneira cronológica. Será composta por 24 volumes sendo que cada um tratará sobre um período/movimento e artístico/artista. Todavia, neste projeto será apresentado somente o primeiro volume.
1.1 Descrição do problema
A educação da Arte no Brasil, segundo Fusari e Ferraz (2006) tem sido feita de forma incompleta, quando não incorreta, uma vez que os educadores se esquecem, ou mesmo desconhecem, que o processo de aprendizagem do educando envolve aspectos múltiplos.
Diversas teorias foram desenvolvidas com a finalidade de colaborar com a edu-cação da Arte no Brasil e no mundo. Dentre os autores que teorizam o ensino da
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 | 37CAZONATTO, L. R. C.; TEDESCHI, S. P.
Arte, Lowenfeld (1977) traça diretrizes sobre como lidar com a produção artística infantil.
Barbosa (2010) apresenta a Proposta Triangular que contempla a arte-educação sustentada no tripé “contemplação da Arte - fazer artístico - contextualização” e de-fende que “a Arte deve ser a base da educação”.
1.2 Justificativa
Os livros infantis são ferramentas largamente usadas no processo educacional, pois revelam mundos de fantasia, acrescentando diversão ao aprendizado. Segundo Haslam (2007), o mercado de livros infantis teve uma grande expansão nas últimas duas décadas.
Há no Brasil, uma perceptível necessidade de publicações pensadas e estrutu-radas com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento da criança como ser humano.
No ensino escolar, os livros didáticos com conteúdos direcionados são fre-quentemente usados como guia de estudos, porém, hoje é crescente a utilização de livros paradidáticos, livros de histórias que cumprem o papel de aprofundar conceitos e complementar os estudos. A vantagem do uso dos livros paradidá-ticos, é que estes, sem a necessidade da abordagem de conteúdos completos e obrigatórios, apresentam as mensagens de forma lúdica, o que facilita o gosto pelo aprendizado (WEBEDUC, 2012).
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional de 71 inclui a Arte no cur-rículo escolar obrigatório com o título de Educação Artística, mas esta é considerada atividade escolar e não disciplina (MEC/SEF, 1997). Na nova LDB, que afirma a or-ganização do ensino em Parâmetros Curriculares Nacionais a partir do movimento arte-educadores, a Arte é reconhecida com maior importância e passa a fazer parte do currículo como área e não mais apenas como atividade, com conteúdos próprios e sob o título “ARTE”.
Tomando como foco a Arte, seja na educação escolar, seja na educação familiar, a literatura existente se mostra escassa e restrita ao passo que, o que se encontra no mercado, se vale de atividades que pouco acrescentam no desenvolvimento do público em questão.
2 OBJETIVO GERAL
Desenvolver um livro de História da Arte voltado ao público infantil com idade entre 4 e 7 anos contendo atividades que estimulam a criatividade e o desenvolvi-mento da criança.
38 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 A história da arte na educação infantil
2.1 Objetivos Específicos
• Transmitir informações e conteúdo sobre a História da Arte para o público in-fantil, que possui necessidades específicas;
• Aplicar os conceitos de Design Editorial, estrutura de grid, tipografia, cores, uso de imagens e processos de produção, a fim de tornar o processo mais funcional e profissional;
• Transformar a História da Arte em linguagem verbal e imagética de fácil com-preensão para uma criança a partir de pesquisas sobre os principais autores que desenvolveram propostas e métodos educacionais.
3 METODOLOGIA
No desenvolvimento deste projeto foi utilizado o método de Löbach (2001), que consiste em quatro etapas: a preparação, que engloba a análise do problema, a cole-ta de informações e a conceituação; a geração de alternativas, que consiste na cria-ção de possibilidades de soluções do problema; a avaliação das alternativas, que é a escolha e aperfeiçoamento da alternativa que melhor satisfaça o problema; e a reali-zação, que consiste na concretização do projeto.
Os livros infantis, por serem destinados a um público-alvo bastante específico, re-querem uma série de cuidados e planejamentos baseados nas análises deste público. Algumas características de editoração são pensadas especialmente para este tipo de livro, como o formato do livro, mancha de texto, grid, tipografia, ilustrações e cores.
O formato de um livro é definido de acordo com sua finalidade e é produzido levando em consideração o tamanho médio das mãos de um adulto a fim de proporcionar maior grau de comodidade. Os livros infantis devem ser produzidos levando em consideração o tamanho médio das mãos de uma criança que são menores que as de um adulto, do contrário causariam desconforto às crianças (TSCHICHOLD, 2007).
Para a composição da mancha gráfica e do grid, serviram de referência os estudos desenvolvidos pelo arquiteto Villard de Honnecourt.
Nos livros infantis, a fonte deve ser escolhida com cuidado, pois as crianças estão em fase de alfabetização e, portanto ainda têm certa dificuldade de reconhecer as letras. Devem além de proporcionar facilidade para a leitura, apresentar legibilidade. Sendo assim, as fontes têm tamanhos maiores que as de um livro adulto e são menos formais.
Para as ilustrações, além de livros analisados, alguns artistas e concept arts de tra-balhos realizados a cerca do tema foram tomados de referência. Assim, com a fina-lidade de ilustrar a história sem, no entanto, tirar o foco do conteúdo da narrativa,
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 | 39CAZONATTO, L. R. C.; TEDESCHI, S. P.
as ilustrações do livro foram feitas de maneira simples e pouco detalhistas. O cur-ta-metragem “Elia” do artista francês Matthieu Gaillard foi utilizado como referência, assim como o filme “The Croods”. As ilustrações foram criadas com a colaboração do designer gráfico Valdir Brito.
A cor é um elemento de especial importância na composição gráfica de um livro infantil, pois as crianças têm uma percepção muito intensa das cores. Segundo Farina et. al (2006), por sua expressividade, a cor tem a capacidade de liberar as reservas criativas. As crianças têm preferência por cores puras e brilhantes que, por serem mais vibrantes, são chamativas e estimulantes. Assim, além de comunicar, a cor pren-de a atenção da criança e auxilia no processo lúdico.
A escolha do tema Pré-História para o volume reproduzido se concretizou por ser o início cronológico da História da Arte, sendo então o 1º volume da coleção, volume este que irá introduzir a temática ao universo infantil. Além disso, a Arte Rupestre é próxima à arte infantil e de fácil identificação pelo público-alvo. Segundo Lins (2004), há um paralelo entre o desenvolvimento da civilização em geral com o desenvol-vimento individual de uma criança, uma vez que em ambos os casos, a expressão artística antecede a aquisição da linguagem oral e escrita.
4 RESULTADOS
A personagem principal, responsável por conferir uma unidade à coleção, é Bia, uma garotinha de 7 anos que gosta muito de Arte. A idade da personagem foi deter-minada para ser condizente com a do público-alvo, facilitando assim a identificação das crianças com a personagem (Figura 1).
Figura 1 – Personagem principal: Bia
Fonte: o autor (2013).
40 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 A história da arte na educação infantil
O personagem coadjuvante do volume 1 é Otto, um menino da mesmo idade da Bia, que possui características físicas arcaicas porque vive na Pré-História. Sua carac-terística mais importante e que marca o clímax do livro é o fato de Otto não saber desenhar (Figura 2).
Figura 2 – Personagem coadjuvante: Otto
Fonte: o autor (2013).
O livro foi impresso em Couché brilho 120 g/m², 4X4 cores. A escolha pelo papel Couché foi relevante em virtude de sua maior resistência em relação ao offset e pelo fato de ter brilho, sendo assim, mais atraente ao público-alvo. O texto original foi submetido a uma análise do público e algumas palavras foram substituídas, a fim de melhorar o entendimento do conteúdo.
Para a composição do grid, as dimensões do papel foram divididas em 9 colunas e 9 linhas, dividindo a página em 81 módulos diferentes, conforme estudos desenvol-vidos por Villard de Honnecourt. Cada módulo foi subdividido em 4, num total de 18 colunas, 18 linhas e 324 módulos. Três módulos em cada borda formam as margens.
As fontes foram escolhidas servindo ao projeto de duas maneiras diferentes. Para as crianças não alfabetizadas, as fontes servem de elementos gráficos, uma vez que o livro será lido por um adulto. Para as crianças em fase de alfabetiza-ção, além de elemento gráfico, as fontes servem como estímulo à leitura. Assim, as fontes selecionadas não possuem serifa, o que facilita o entendimento dos caracteres e, no corpo do texto, as letras são apresentadas em caixa alta para
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 | 41CAZONATTO, L. R. C.; TEDESCHI, S. P.
facilitar a leitura infantil porque a alfabetização acontece a partir das letras de forma maiúsculas.
A fonte Tempus Sans (Figura 3) foi utilizada na 1ª e 4ª capa e na folha de rosto para o título e nome do autor. Possui características informais e compõe com a temática. Para a descrição do livro, na 4ª capa e para os subtítulos foi utilizada a fonte Kozuka Gothic Pro.
Figura 3 – 1ª e 4ª capa do livro “1ª Parada: Pré-História”
Fonte: o autor (2013).
A fonte {¡Estoy Buono!} (Figura 4), utilizada no corpo do texto, possui caracterís-ticas informais, remetendo uma escrita com giz, com a finalidade de compor com o universo infantil e é neutra com relação à temática, pois será utilizada em todos os volumes, conferindo unidade à coleção.
O texto foi distribuído nas páginas de acordo com o ritmo de leitura, a fim de facilitar o entendimento da história. Assim, respeitando a mancha gráfica, o texto foi diagramado de forma a compor com as ilustrações. No corpo do texto, a fonte foi usada em tamanho 14 pt com entrelinha 21, tracking 30 e a distância entre palavras aumentada em 40%. As capitulares e o texto de atividades têm tamanho 20 pt e as palavras, as frases de destaque e os nomes dos personagens em 17 pt. O alinhamento do texto é espelhado, sendo à direita nas páginas pares e à esquerda nas páginas impares.
A palheta de cores foi escolhida de acordo com a temática do volume. Por se tra-tar da Pré-História optou-se por tons terrosos, de ocre, marrom e nude. Em alguns elementos chaves, que não tem características pré-históricas tão marcantes como a
42 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 A história da arte na educação infantil
roupa da personagem, foram utilizados cores e tons mais alegres em virtude de se tratar de um livro infantil, como ilustra a figura 5.
Figura 4 – Atividades do livro “1ª Parada: Pré-História”
Fonte: o autor (2013).
Figura 5 – Palheta de cores: páginas 16 e 17 do livro “1ª Parada: Pré- História”
Fonte: o autor (2013).
Assim, um livro paradidático de História da Arte para crianças de 4 a 7 anos foi projetado levando em consideração todos os aspectos aqui apreendidos a fim de suprir as necessidades do mercado.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 35-43, 2013 | 43CAZONATTO, L. R. C.; TEDESCHI, S. P.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil, que vai além dos espaços escolares, deve ser realizada em parceria com a família. Neste sentido, os livros auxiliam na obtenção de informação e conteúdo e são excelentes fontes de lazer. A partir do estudo da Arte na educação ao longo da História do Brasil e do mundo, foi possível observar que o movimento da arte-educação tem ganhado força e conquistado importante avanço na busca pela inserção da Arte no ensino escolar.
Diante do vasto repertório de História da Arte e da pretensão de expor todo este conteúdo às crianças, a criação de uma coleção é a melhor alternativa, uma vez que todo o conteúdo condensado em um único volume seria cansativo para uma criança.
O desenvolvimento do livro foi realizado em etapas. A conceituação dos persona-gens e o desenvolvimento do texto foram feitos conjuntamente com base em pes-quisas sobre a linguagem do público-alvo e a História da Arte para poder adaptar uma à outra. Então, os padrões gráficos e ilustrações foram criados para compor com o conteúdo.
A solução foi apresentada ao público-alvo e algumas adequações foram feitas, sendo por fim, desenvolvido o produto final que pretende ser o 1º exemplar de uma coleção de livros de História da Arte voltado para o público infantil.
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBOSA, A. M. A Imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 2010. 134 p.
FARINA, M. et. al.. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Blucher, 2006. 274 p.
FUSARI, M. F. R.; FERRAZ, M. H. C. T. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 2001. 157 p.
HASLAM, A. O Livro e o designer ll: como criar e produzir livros. São Paulo: Rosari, 2007. 256 p.
LINS, G. Livro Infantil?: projeto gráfico, metodologia, subjetividade. São Paulo: Rosari, 2004. 93 p.
LOBACH, B. Design industrial. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 206 p.
LOWENFELD, V. A Criança e sua arte: um guia para os pais. São Paulo: Mestre Jou, 1977. 224 p.
MEC/SEF. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares nacionais – Brasília : MEC/SEF, 1997.
TSCHICHOLD, J. A forma do livro: ensaios sobre tipografia e estética do livro. Cotia: Ateliê, 2007.
WEBEDUC. Livros didáticos e paradidáticos. Disponível em: <http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/impresso/imp_basico/pdf_eproinfo/e3_assuntos_a3.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2012.
44 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 O olhar de uma licencianda sobre o ensino de Matemática...
O OLHAR DE UMA LICENCIANDA SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
UM ENFOQUE À ESTOCÁSTICA THE LOOK OF A STUDENT TEACHER ON TEACHING OF MATHEMATICS IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION: AN APPROACH TO STOCHASTIC
Luciana Regina Pereira Macedo1 Eliane Matesco Cristovão2
Resumo
O presente artigo tem como objetivo relatar a pesquisa realizada por uma Licencianda em Matemática que é também monitora no Ensino Infantil Municipal na cidade de Limeira - SP. As dificuldades encontradas em seu dia a dia a motivaram a investigar que conceitos mate-máticos poderiam ser abordados em atividades diárias, tendo em vista que as monitoras as realizam com as crianças sem perceber a riqueza de conceitos matemáticos presentes em tais atividades. No campo da pesquisa qualitativa, a metodologia utilizada foi a da pesquisa participante. A pesquisa revelou que é possível, na Educação Infantil, discutir conceitos mate-máticos, especialmente os ligados à estocástica, por meio de atividades cotidianas.
Palavras-chave: Educação infantil. Ensino e aprendizagem de Matemática. Conceitos mate-máticos. Estocástica.
Abstract
This paper aims to report the research conducted by an undergraduated student in Mathe-matics which is also monitors the Municipal Teaching Children in the city of Limeira - SP. The difficulties encountered in her day to day motivated herself to investigate mathematical con-cepts that could be addressed in daily activities in order that monitors the conduct with chil-dren without realizing the wealth of mathematical concepts present in such activities. In the field of qualitative research, the methodology used was the research participant. The research revealed that it is possible, in kindergarten, discuss mathematical concepts, especially those related to stochastic through everyday activities.
Keywords: Child education. Teaching and learning Mathematics. Math concepts. Stochastic.
1 Aluna do Curso de Licenciatura em Matemática pela Faculdade de Administração e Artes de Limeira – FAAL. e-mail: [email protected].
2 Profa. (Orientadora) do Curso de Licenciatura em Matemática da FAAL. e-mail: [email protected].
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 | 45MACEDO, L. R. P.; CRISTOVÃO, E. M.
1 INTRODUÇÃO
O interesse sobre a temática surgiu devido à vivência dentro de um Centro Infantil Municipal, no qual trabalhei durante pouco mais de dois anos. Durante esse período, pude perceber que a matemática não vem sendo trabalhada de forma a estimular a criança a manifestar suas opiniões, formular perguntas e buscar soluções de proble-mas. A falta de um enfoque matemático nas atividades trabalhadas no dia a dia di-ficulta o desenvolvimento intelectual da criança e o desenvolvimento da percepção de que a matemática está presente em seu cotidiano.
As propostas curriculares de Educação Infantil tem se dividido entre as que produzem à escolarização dando ênfase a alfabetização e aos números e as que valorizam as brincadeiras como socialização e a recriação de experiências (LOPES e MOURA, 2003, p.07).
Segundo Lopes (2012), uma abordagem interessante para isso é a da estocás-tica. As inter-relações da matemática com a estatística originam a estocástica, que estuda a combinatória, a probabilidade e a estatística de forma interligada. Para a inserção da Educação Estocástica na Educação Infantil, é necessário que seja feito um trabalho voltado para as formas de raciocínio combinatório, proba-bilístico e estatístico.
Ao elaborar atividades de trabalho com as crianças com foco no raciocínio estocástico, o professor promoverá o desenvolvimento do pensamento estatístico, que se refere à capacidade de relacionar dados quantitativos com situações concretas, admitindo a presença da variabilidade e da incerteza. A exploração de processos investigativos, como pesquisas de opinião, permitirá às crianças exercitar a escolha adequada de ferramentas estatísticas. Adquirir essa capacidade também faz parte do pensar estatisticamente, assim como vivenciar todas as etapas do processo de investigação estatística, explorando os dados de forma a estabelecer relações que respondam a questão investigada ou gerem outros questionamentos (LOPES, 2012, p. 169).
A falta desta perspectiva no ambiente de trabalho motivou a realização de uma pesquisa que pudesse evidenciar que é possível sim trabalhar conceitos matemáti-cos desde o berçário e que podemos elaborar atividades de trabalho que incentivem o desenvolvimento do raciocínio estocástico.
A metodologia utilizada foi a pesquisa participante e seu desenvolvimento se deu através de uma observação assistemática. Para Gil (2002) “A pesquisa parti-cipante, assim como a pesquisa ação, caracteriza-se pela interação entre pesqui-sadores e membros das situações investigadas.” (p.55). A observação assistemá-tica, por sua vez, consiste em estabelecer relações entre os fatos do dia a dia, é espontânea, informal, acidental. Os fatos são registrados sem perguntas diretas ou meios especiais.
46 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 O olhar de uma licencianda sobre o ensino de Matemática...
A pesquisa de campo foi baseada na análise de fatos que aconteceram natu-ralmente e de atividades propostas intencionalmente, para uma análise de dados posterior.
2 O CONTEXTO DA PESQUISA
Centro Infantil Municipal, na cidade de Limeira-SP, onde a primeira Autora (Prof. Luciana) trabalha, atendando crianças em período integral e as turmas são dividas em setores de acordo com cada idade. A divisão é feita da seguinte forma:
• Berçário I (BI) – de 0 meses a 1 ano;• Berçário II (BII) – de 1ano a 2 anos;• Maternal I (MI) – de 2 anos a 3 anos;• Maternal II (MII) – de 3 anos a 4 anos;• 1ª Etapa (1ª ET) – de 4 anos a 5 anos;• 2ª Etapa (2ª ET) – de 5 anos a 6 anos.O Berçário I, Berçário II e Maternal I ficam o período integral com Monitoras. O
Maternal II, 1ª Etapa e 2ª Etapa, ficam meio período com a Monitora e meio período com a Professora (A primeira Autora - Luciana). Em muitas cidades da região, existem professores para Berçário I, Berçário II e Maternal I, onde se dividem meio período com a monitora e meio período com a professora o que seria ideal, visto que, para ser monitor é preciso ter apenas o Ensino Fundamental II concluído, portanto a parte pedagógica das etapas iniciais deixa muito a desejar.
Todos os Centros Infantis Municipais de Limeira seguem obrigatoriamente uma diretriz que é enviada pela Secretaria Municipal de Educação, as monitoras muitas vezes não entendem o que realmente está sendo proposto, simplesmente pelo fato de não ter a compreensão necessária para determinadas abordagens, sendo assim, recorrem a brincadeiras diárias sem um intuito pedagógico, apenas o brincar pelo brincar.
3 A CRIANÇA E A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Moura e Moura (2003) afirmam que “a atividade do aluno, na educação escolar do ensino infantil, é um jogo com intencionalidade, pois se trata de Educação. Sendo o objetivo ensinar Matemática, aprendizagem essa, que..., deve promover a apreensão de conceitos tipicamente matemáticos”.
O Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil destaca que:A seleção e a organização dos conteúdos matemáticos representam um passo im-portante no planejamento da aprendizagem e devem considerar os conhecimen-tos prévios e as possibilidades cognitivas das crianças para ampliá-los. Para tanto, deve-se levar em conta que:
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 | 47MACEDO, L. R. P.; CRISTOVÃO, E. M.
• aprender matemática é um processo contínuo de abstração no qual as crianças atribuem significados e estabelecem relações com base nas observações, expe-riências e ações que fazem, desde cedo, sobre elementos do seu ambiente físico e sociocultural;
• a construção de competências matemáticas pela criança ocorre simultanea-mente ao desenvolvimento de inúmeras outras de naturezas diferentes e igual-mente importantes, tais como comunicar-se oralmente, desenhar, ler, escrever, movimentar-se, cantar etc (BRASIL, 1998, p.217).
Devido ao avanço tecnológico dos últimos anos, nossa sociedade necessita de pessoas eficazes em leitura, raciocínio lógico e que sejam capazes de levantar hipó-teses e argumentar. Com essa necessidade, é fundamental a Educação Estocástica ser inserida já na Educação Infantil. O raciocínio combinatório, o raciocínio probabilísti-co e o raciocínio estatístico quando interligados, dão início ao raciocínio estocástico. Essas três formas de raciocínio são discutidas em Lopes (2012):
O raciocínio combinatório se refere aos fazeres da combinatória, a qual pode ser definida como um princípio de cálculo que envolve a seleção e a disposição dos objetos em um conjunto finito. Combinatória não é simplesmente uma ferramenta para cálculo de probabilidade, mas há uma estreita relação entre ambos os temas, razão pela qual Heitele (1975) incluiu combinatória em sua lista de dez ideias fundamentais da estocástica que devem estar presentes no processo de ensino e aprendizagem da matemática. O raciocínio probabilístico está atrelado ao raciocínio combinatório, ou seja, após a enumeração das possibilidades, pode-se analisar a chance e fazer previsões. Essa forma de raciocínio é essencial para que se analisem dados construídos a partir de um problema, o que direciona ao raciocínio estatístico; e este permite a compreensão de informações estatísticas que envolvem ligação de um conceito para outro, por exemplo, mediana e média, ou possibilita combinar ideias sobre dados e fatos. Raciocinar estatisticamente significa entender e ser capaz de explicar os processos estatísticos e plenamente capaz de interpretar os resultados destes, remetendo ao pensamento estatístico, que requer uma compreensão do porquê e do como são conduzidas investigações estatísticas. Isso inclui reconhecer e compreender todo o processo investigativo – desde a pergunta elaborada, passando pela escolha dos instrumentos para a construção dos dados, até o processo de interpretação análise (LOPES, 2012, p. 167).
4 DESCRIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO
No Berçário II desenvolveu-se duas atividades de culinária, uma com o título de “Docinho de Leite em Pó” e outra com o título de “Sanduíche de Ratinho”. No Mater-nal I desenvolveu-se uma atividade de geometria com o título de “Espaço e Forma”. Três Monitoras auxiliaram na aplicação das atividades.
Os diferentes eixos sugeridos a serem trabalhados com as crianças estão no Re-ferencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). São eles: Mo-
48 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 O olhar de uma licencianda sobre o ensino de Matemática...
vimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. A Secretaria Municipal da Educação de Limeira tem a incumbência de repassar esses eixos através de um semanário anual divido pó bimestre. Nesse se-manário é feito o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas onde as monitoras se alternam semanalmente no preenchimento e desenvolvimen-to das atividades.
É importante ressaltar que as escolhas das atividades ficam exclusivamente a cri-tério das monitoras que as escolhem de acordo com a faixa etária em que está tra-balhando durante o ano. A Coordenadora Escolar revisa o semanário preenchido e autoriza as aplicações das atividades. É feita uma avaliação geral e outra individual ao final de cada atividade.
A atividade a seguir foi aplicada no Berçário II. Na turma há 18 crianças com ida-des entre 1 e 2 anos. Atividades, como esta, que utilizam a gastronomia, valorizam a cooperação e a interação de uns com os outros e também do educador com a crian-ça, ajudam também na construção de sua identidade pessoal e coletiva. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) ressaltam que:
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010, p.18).
Com a atividade a seguir, possibilitamos a criança observar situações de incerte-zas e como ela organiza suas informações para achar uma solução, desenvolvendo assim, o raciocínio combinatório.
4.1 Aplicação da Atividade 1 - Docinho de leite em pó
Foi explicado que seria feito um docinho para comermos depois do almoço. Em uma mesinha adequada à altura das crianças, foram colocados todos os ingredientes: 200 gramas de leite em pó, 50 gramas de açúcar refinado e 200 ml de leite de coco. Com as mãos devidamente lavadas e com toca na cabeça, colocamos literalmente a mão na massa.
Primeiro misturamos o açúcar e o leite em pó, depois misturamos o leite de coco e colocado um pouco na vasilha, foram orientados a fazer bolinhas e então, começa-ram a mexer.
Como já era de esperar algumas crianças começaram a chorar, pois conforme a massa grudava em seus dedos, eles ficavam incomodados. A Aluna13 do Berçário II,
3 Para preservar o nome das crianças, optou-se por identificá-las com números.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 | 49MACEDO, L. R. P.; CRISTOVÃO, E. M.
vendo a situação e não querendo sujar as mãos, começou a misturar usando somen-te as pontas dos dedos. Pedimos para que fossem feitas bolinhas (já eram acostu-mados a fazer bolinhas com massa de modelar) e perceberam que não era possível, então a Aluna 2 do Berçário II questionou: “Tia Lú, não dá!”
A Professora (Luciana - a Autora) respondeu, perguntando: “Por quê?”. Neste momento o Aluno 1, fazendo muita força, exclamou: “Ai Tia Lú, está duro!”. Já outra, a Aluna 3 do Berçário II, contrapôs: “Não, está mole!”. Neste momento a Profa. indagou: “Crianças... A massa não está mole, ela está
dura. Não dá para fazer bolinhas com ela dura, o que será que podemos fazer?A Aluna 2 sugeriu: “Coloca mais desse!” – apontando para o leite de coco.Após entender o raciocínio da Aluna 2, a Profa. pegou a garrafa de leite de coco
e chamou a atenção das crianças para dar enfoque que quantidade de leite de coco, faria a mistura ficar mais mole. Envolvendo-os (os Alunos) em uma situação de ação em que era preciso acrescentar. Foi colocado mais um pouco de leite de coco, mis-turou-se e então, as crianças puderam fazer as bolinhas.
Depois de prontas, as bolinhas foram colocadas em um prato para ser feita a con-tagem. Como todos sabiam contar até o número dez, contou-se de dez em dez.
As anotações foram feitas em uma cartolina que estava colada na parede. No fim das anotações, tínhamos o número dez, escrito oito vezes e o número quatro, escrito uma vez.
A soma, então, foi feita juntamente que, em voz alta repetiam. Chegou-se, as-sim, à soma de oitenta e quatro docinhos. As crianças ficaram muito satisfeitas e, ao mesmo tempo, encantadas com o resultado de seu trabalho. Passados dois meses, desenvolveu-se, com as crianças, nova receita.
4.2 Aplicação da Atividade 1.1 - Sanduíche de Ratinho
Primeiramente, a Profa. (Luciana – Primeira Autora) e uma Monitora apresenta-ram a todos e colocaram em ciam de uma mesa os ingredientes (pão de cachorro quente, fatias de queijo branco, cebolinhas verdes, catchup e mostarda).
Após, cortou-se os pães ao meio deixando uma das pontas no formato triangular. O queijo foi cortado em fatias e em quadradinhos e a cebolinha bem pequeninhas, do mesmo tamanho.
Para colocarmos a mão na massa, as crianças, previamente com as mãos e com tocas nas cabeças, foram chamadas para mais perto.
Primeiramente, abria-se o pão e colocado duas fatias de queijo para o recheio, seis pedaços de cebolinha para simular um bigode, dois quadradinhos de queijo para simular orelhas, dois pingos de catchup para simular olhos e um pingo de mos-
50 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 O olhar de uma licencianda sobre o ensino de Matemática...
tarda para o nariz. A Profa. montou um modelo e cada criança, na sequência montou o seu sanduíche.
Nesse momento, A Profa. chamou a atenção das crianças e disse:“Vamos colocar duas fatias de queijo no pão (e contava em voz alta) uma, duas,
fatias de queijo. Agora vamos colocar duas orelhas (e contava em voz alta) uma, duas orelhas. Vamos colocar o bigodinho do ratinho, são três de cada lado.”
Num determinado momento a Profa. não fez a contagem em voz alta, proposital-mente para poder ter em um dos sanduíches duas cebolinhas de um lado e três ce-bolinhas do outro lado para ver qual seria a reação das crianças. Neste hora a maioria se manifestou.
Alguns diziam: “Tia, não... não...!”, outros diziam: “É um, dois, três Tia!” e alguns não falavam nada e só observavam sem terminar o sanduíche, ficaram inseguros, enquanto outros terminaram o sanduíche com a quantidade certa.
Depois de colocar a quantidade correta de cebolinha nos sanduíches, os “olhos” de catchup e o “nariz” de mostarda foram colocados, sempre contando em voz alta. Ao término da atividade, todos degustaram nossos lindos e saborosos “sanduíches de ratinho”.
É importante ressaltar que a utilização dessas receitas deu oportunidade para a criança trabalhar com conceitos de números, comparações, medidas convencionais, medidas não convencionais, propriedades de soma, subtração e multiplicação.
A vivência de experiências com conceitos matemáticos possibilita a criança uma maior compreensão e incentivará mudanças de atitude, contribuindo para uma me-lhor assimilação dos conceitos.
Com o objetivo de observar o quê as crianças entendem por espaço e forma, foi aplicado Atividade 2 com algumas crianças do Maternal I, Turma em que há 20 crian-ças, mas apenas 08 foram autorizadas a fazer a atividade.
4.3 Aplicação da Atividade 2
No chão do pátio do Centro Infantil, foi desenhado um grande círculo, um triân-gulo médio e um quadrado pequeno. Todos ficaram, em pé, observando as figuras desenhadas no chão. Neste momento foi estimulado estimar-se o número de crian-ças necessário para preencher o espeço interno de cada figura.
Começou-se com a figura menor, o quadrado, e obtivemos as seguintes respostas: • Apenas 1 criança, respondeu que seriam necessárias 3 crianças para preencher
o quadrado;• Apenas 1 criança, respondeu que seriam necessárias 4 crianças para preencher
o quadrado;
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 | 51MACEDO, L. R. P.; CRISTOVÃO, E. M.
• 2 crianças, responderam que seriam necessárias 5 crianças para preencher o quadrado;
• 1 criança, respondeu que seriam necessárias 10 crianças para preencher o qua-drado;
• 1 criança, respondeu que seriam necessárias 12 crianças para preencher o qua-drado, e;
• 2 crianças não responderam. Em seguida, as crianças foram se deslocando para o quadrado até serem preen-
chidos todos os espaços. Após preenchido, todos, juntos, começaram a contar para descobrir quantas crianças couberam dentro do quadrado. Percebeu-se então que foram necessárias 6 crianças para preencher o quadrado.
Neste momento, o Aluno1 (do Maternal I) estando de fora, tentou fazer com que as crianças de dentro do quadrado ficassem mais juntas para que ele coubesse tam-bém, mas não teve sucesso com sua tentativa e ficou esperando para entrar no tri-ângulo.
Neste caso, podemos ressaltar que, o fato de a próxima figura ser maior, fez com que as crianças concluíssem que quanto maior a figura, mais crianças seriam neces-sárias para preencher os espaços vazios, conforme relato da Aluna1: “ Tia Lú, essa figura é pequena e a outra é grande, você vai ter que colocar mais gente ali!”
Novamente, fez-se uma estimativa de quantas crianças seriam necessárias para preencher os espaços dentro da figura, o triângulo, e obtivemos as seguintes respostas:
• 3 crianças, responderam que seriam necessárias 7 crianças para preencher o tri-ângulo;
• 3 crianças, responderam que seriam necessárias 8 crianças para preencher o tri-ângulo, e;
• 2 crianças não responderam.Quando as seis crianças que preenchiam o quadrado foram para o triângulo, foi
um dos momentos mais interessantes da atividade. A Aluna1 ficou na ponta do triângulo e ficava movendo os pés para preencher a
ponta e sem tocar na linha, quando ela conseguiu uma posição que preenchia a pon-ta sobraram os lados, e então trouxe uma criança para cada lado da posição em que se encontrava, preenchendo a parte de cima do triangulo. Enfim, o Aluno1 entrou no triângulo e preencheu o espaço que sobrava.
Após preenchido o triângulo, todos juntos começaram a contar para descobrir quantas crianças couberam dentro do triângulo. Percebeu-se então que foram ne-cessárias 7 crianças para preencher o triângulo.
Para finalizar a atividade, fez-se uma estimativa de quantas crianças seriam ne-
52 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 O olhar de uma licencianda sobre o ensino de Matemática...
cessárias para preencher o espaço dentro da figura, o círculo, e obtivemos as se-guintes respostas:
• 6 crianças, responderam que seriam necessárias 8 crianças para preencher o círculo, e;
• 2 crianças não responderam.Ressalta-se que, novamente, neste momento, a Aluna1 se manifestou: “Tia Lú,
aqui tem que ser todos!”. Então a Profa. perguntou: “E quanto tem que ser todos?”. A Aluna 1, contando todas as crianças, respondeu: “Oito!
Logo após, todos foram para o círculo e observemos que não tiveram problemas para preenchê-lo, havia um único Aluno que ainda estava fora, mas logo o mesmo juntou-se aos demais, fechando a atividade como um todo.
Neste momento, todos, juntos, começaram a contar para descobrir quantas crian-ças couberam dentro do círculo. Percebeu-se então que foram necessárias 8 crianças para preencher esta última figura.
Ficamos surpresos pela resposta exata dada pela Aluna 1, entendendo que esta resposta poderia ser devido ao fato de oito ser o total de crianças que estavam pre-sentes na atividade. Aluna deve ter deduzido que ninguém ficaria de fora.
Podemos observar que, nessa atividade, foi possível trabalhar alguns conceitos matemáticos como: figuras geométricas, grandezas e medidas, comparações de quantidades, noções de grande e pequeno, dentro e fora e resolução de problemas.
Quando a criança é estimulada a pensar de maneira a encontrar soluções para seus problemas, a mesma está desenvolvendo seu raciocínio lógico. Podendo en-tão, associar suas observações do mundo real com suas interpretações e suas representações.
5 ANÁLISE DAS ATIVIDADES
5.4 Análise das Atividades 1 e 1.1
A atividade “docinho de leite em pó” foi desenvolvida em abril de 2012 e a “sandu-íche de ratinho” em junho de 2012. Devido à distância de tempo entre uma atividade e outra, a atividade “sanduíche ratinho” teve mais repercussão e discussão entre eles em relação às quantidades e posições, como colocar os “olhos” no local correto, que teriam que colocar dois pingos, por que temos dois olhos e no lugar do nariz colocar apenas um pingo.
Observamos, também, seu entendimento em relação à posição dos bigodes e orelhas colocando-os em simetria.
Uma discussão como foi na atividade “sanduíche de ratinho” só foi possível por
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 | 53MACEDO, L. R. P.; CRISTOVÃO, E. M.
que anteriormente já havia sido trabalhado o conceito de quantidades incertas com a atividade “docinho de leite em pó”, onde não havia a necessidade de ser colocada uma quantidade exata de leite de coco, diferentemente da atividade “sanduíche de ratinho”, que através da mesma obtiveram a compreensão do porque serem usadas medidas padronizadas, do porque colocar dois pingos para serem os olhos, do por-que colocar as orelhas e o bigode em simetria, passando a fazer relações da atividade com seu próprio corpo, sabendo a quantidade de olhos, nariz e orelhas.
5.5 Análise da Atividade 2
Podemos observar que na primeira figura, o quadrado, os Alunos chegaram a dis-cutir, pelo fato de não ser possível todas as crianças caberem dentro do quadrado. Ficaram bem próximos uns dos outros para as outras duas crianças poderem entrar, mas não foi possível. Eles tentaram encontrar uma solução para um problema, mas naquele momento, não foi possível.
Já na segunda figura, o triângulo, eles ficaram inseguros com a posição que de-veriam ficar, devido à forma geométrica da figura, alguns ficavam do lado esquerdo e depois viravam para o lado direito, outros ficavam de frente e outros de costas. A Aluna1 mudava de posição para os pés poderem preencher cada pedacinho do espaço.
Novamente, eles, diante de uma situação problema, tentaram solucionar esse problema e liderados pela Aluna1, desta vez conseguiram encontrar uma solução.
Segundo Lorenzato (1995) vale ressaltar que:a partir do momento em que consegue exercer algum domínio das relações dinâmicas que se estabelecem entre as partes do seu próprio corpo e/ou entre seu corpo e os demais ao nível do pensamento consciente [...] torna-se possível a aprendizagem de noções espaciais posicionais como as de direção, sentido, atrás, perto, em cima de etc. (LORENZATO, 1995, p. 3).
Na terceira figura, o círculo, acreditamos que as crianças não encontraram difi-culdade devido às duas experiências anteriores e também ao formato da figura. Elas perceberam também, que a cada figura se acrescentava mais uma criança.
Mesmo sem querer, obtivemos também respostas em relação à soma. Não imagi-návamos que alguma criança iria perceber, devido ao fato da pouca idade (são crian-ças de três anos) e realmente foi impressionante.
Podemos compreender que, se a matemática for trabalhada desde a infância, uti-lizando situações do cotidiano das crianças, mesmo que o nome “matemática” não seja citado, é possível trabalhar inúmeros conceitos matemáticos que os acompa-nharão por toda a vida.
54 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 44-54, 2013 O olhar de uma licencianda sobre o ensino de Matemática...
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os aspectos observados, podemos concluir que a criança, com sua criatividade, é capaz de fazer descobertas e compreender características mate-máticas do mundo a sua volta. Crianças pequenas têm condições de desenvolver diferentes processos do raciocínio matemático.
Smole, Diniz e Cândido (2007), afirmam que “enquanto vive em um meio ao qual pode agir, discutir, decidir, realizar e avaliar com seu grupo, a criança adquire condi-ções e vive situações favoráveis para a aprendizagem”.
Sendo assim, faz-se necessário compreender que a criança deve ter a oportunida-de a um desenvolvimento infantil cercado de situações de aprendizagem que sejam relevantes e ao mesmo tempo prazerosas e que lhes permitam, entre outras coisas, explorar a incerteza ou aleatoriedade dos dados, podendo compreender que não existe uma única solução.
Pode-se considerar, portanto, que atividades lúdicas, jogos, brincadeiras e ativi-dades de trabalho com foco no raciocínio estocástico, podem ser usadas como alia-das para o ensino da matemática e, que é possível sim, a Educação Estocástica ser inserida desde a Educação Infantil para a formação de cidadãos com atitude, senso crítico, e que sejam capazes de tomar decisões ou de realizar ações prevendo o que poderá acontecer.
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010. 36p.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. v.3. Brasília: MEC, SEF, 1998.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
LOPES, C. A. E.; MOURA A. R. L. As crianças e as idéias de número, espaço, formas, representações gráficas, estimativa e acaso: desvendando mistérios da Educação infantil. v.2. Campinas: Graf. FE/UNICAMP; CEMPEM, 2003.
LOPES, C. A. E. O desenvolvimento do pensamento estatístico e probabilístico na infância. Reveduc, São Carlos, v.6, n.1, p.160-174, maio 2012. Disponível em: <http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/issue/current>. Acesso em: 05 set. 2012.
LORENZATO, S. Por que não ensinar geometria? A Educação Matemática em Revista. v.4, p. 3-13 Blumenau SC: SBEM, 1995. Disponível em: <http://www.sbemrn.com.br/site/II%20erem/minicurso/doc/mc1.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2012.
MOURA, M. O; MOURA, A. R. L. Matemática na educação infantil: conhecer, (re) criar – um modo de lidar com as dimensões do mundo. Diadema SP: Secretaria de Educação, Cultura e Lazer. v.2 Campinas: Graf. FE/
UNICAMP; CEMPEM, 2003.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Brincadeiras infantis nas aulas de matemática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 | 55
A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
THE IMPORTANCE OF ORGANIZATIONAL CLIMATE SURVEY
Paula Olivier Doriguetto1 Jorge Henrique da Silva2
Resumo
Uma grande mudança de mentalidade das empresas coloca as pessoas em lugar de desta-que. Nenhuma empresa atinge o lugar de destaque se não tiver pessoas trabalhando satis-feitas, cada vez mais as empresas estão preocupadas com o bem estar das pessoas. O fator humano tem sido considerado o grande diferencial das empresas para vencer a competitivi-dade. Atualmente, para que as organizações consigam conquistar bons resultados é preciso oferecer algo mais do que uma remuneração atraente para deixar os colaboradores com-prometidos. É essencial investir em atividades que visem à melhoria da qualidade de vida dos funcionários e atitudes que busquem o aperfeiçoamento do ambiente de trabalho. Daí, a importância da avaliação do clima organizacional, tema que será abordado nesse artigo.
Palavras-chave: Clima organizacional. Pesquisas de clima. Satisfação. Motivação.
Abstract
Major changes in corporate environment put people at a notable place. There is no such a com-pany that achieves a prominent if employees are not engaged, more than ever companies are con-cerned about employees´ welfare. If a company wants to win the competition the human factor has to be considered as the major differential. Nowadays in order to achieve better performances Companies need to offer more than just good attractive salaries to let employees satisfied and mo-tivated. It is crucial to invest in activities that improve employees’ quality of life and attitudes that intend to improve the environment at work. That is the reason why is so important to evaluate the organizational climate, a topic that will be addressed in this article.
Keywords: Organizational climate. Climate research. Satisfaction. Motivation.
1 Aluna do Curso de Tecnologia em Gestão em Recursos Humanos da Faculdade de Administração e Artes de Limeira – FAAL. e-mail: [email protected].
2 Prof. Dr. (Orientador) do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da FAAL. e-mail: [email protected].
56 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 A importância da pesquisa de clima organizacional
1 INTRODUÇÃO
Diante de um mercado dinâmico e competitivo, as empresas devem se preocupar com o grau de satisfação, qualidade de vida e motivação no trabalho de seus cola-boradores. O lucro é uma questão de sobrevivência para as empresas, que buscam o incremento da produtividade, pois esses têm uma força propulsora que os auxiliam a atingir suas metas. Mas, muitas vezes, as empresas precisam auxiliar a manter essa força de vontade, incentivando os seus profissionais. A maneira mais comum é auxi-liar o profissional a se realizar ao executar as suas tarefas.
Como aumentar o comprometimento e a motivação no trabalho? O estudo de fa-tores de satisfação e motivação, bem como outros instrumentos, está disponível para embasar as decisões gerenciais e nortear os esforços da empresa no gerenciamento de suas pessoas. A motivação constitui um importante campo do conhecimento da natureza humana e da explicação do comportamento humano. Para compreender-se o comportamento das pessoas, torna-se necessário conhecer sua motivação.
Procurando entender o comportamento humano, a motivação, desde muito tempo, vem sendo um dos tópicos de maior importância e parece que ainda conti-nuará merecendo, no futuro, o mesmo grande destaque (BERGAMINE, 1990).
O presente trabalho tem como principal objetivo mostrar a importância da pes-quisa de clima organizacional.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Motivação
Compreender o comportamento humano é fundamental para o conhecimento da motivação humana. Motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma, isto é, tudo aquilo que dá origem a alguma propensão a um comportamento específico (CHIAVENATO, 1982).
Segundo Maximiniano (1995), a palavra motivação, derivada do latim: motivus mo-ver, que significa mover, indica o processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos que estimulam ou provocam algum tipo de ação ou comportamento humano.
A motivação é um processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta, ou seja, são os motivos que nos levam a ter ações. Vem de dentro de cada indivíduo, ninguém, senão ele próprio pode motivar-se.
Ou seja, depende do que cada indivíduo deseja, do que o motiva a comprar, a trabalhar melhor, a vender, entre outros. Motivar é uma forma de mudar a atitude de um indivíduo através de um estímulo. Para mudar uma pessoa, você precisa
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 | 57DORIGUETTO, P. O.; SILVA, J.H.
conhecer quais são seus ideais, planos de vida, etc. Dinheiro é um fator motiva-cional para equipe, mas não é o único e depende do quanto as suas necessida-des, respeitando a escala, foram saciadas. Existem outras formas de motivação melhores, como treinamentos, palestras, prêmios e metas.
Assim, se faz necessário ter paixão por aquilo que se faz. Suportar uma missão, ser empurrado a fazer algo, não é compatível com os auto motivados, que em geral são bem sucedidos, quer seja no trabalho, na vida social ou familiar. Neste caso, é neces-sário desenvolver a habilidade de trabalhar com as tendências emocionais que vão guiar ou facilitar o alcance de suas metas.
Estar motivado parece desejável, mas pode significar coisas diferentes. Limitar a definição de motivação ao comportamento no trabalho energizado, direcionado e sustentado reduz parte da incerteza associada a esse conceito (KRUMM, 2005, p. 112).
Para Chiavenato (1995), a motivação é importante em todos os aspectos do am-biente de trabalho. Os empregadores querem contratar os trabalhadores mais moti-vados e, também, manter os níveis de motivação, nas alturas, entre seus empregados. A motivação permite aos trabalhadores melhorar o grau de satisfação e interesse em seu trabalho, pois um trabalhador motivado gera atitudes positivas, alegria, confian-ça, entusiasmo, engajamento, participação e melhor desempenho.
Segundo Maximiniano (1995), a motivação constitui um importante campo do conhecimento da natureza humana e da explicação do comportamento da pessoa. Motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma, pelo menos a origem de um comportamento específico.
Atualmente, o mercado de trabalho está muito competitivo, exigindo que as pes-soas estejam em constante inovação. E para que isso ocorra, é preciso estar sempre motivado, pois o desempenho de cada pessoa é a garantia de sua permanência. O ser humano motivado cria condições para realizar grandes feitos, utilizando o melhor de sua energia dentro da empresa em que atua.
Neste contexto, com um mercado cada vez mais competitivo e com consumido-res cada vez mais exigentes, torna-se necessário satisfazer os desejos dos clientes e atendê-los com eficiência, para isso, os funcionários devem estar motivados para trabalhar. Assim, a motivação se invoca com frequência para explicar as variações de determinados comportamentos e, sem dúvida, apresenta uma grande importância para a compreensão do comportamento humano, um estado interno resultante de uma necessidade que desperta certo comportamento.
Estar motivado é trabalhar produzindo mais e melhor, é atuar de forma mais com-pleta, atendendo aos clientes como eles desejam serem atendidos, sem que haja má vontade ou sentido de obrigação em estar ali (MAXIMINIANO, 1995).
58 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 A importância da pesquisa de clima organizacional
Não é novidade o conceito de que ninguém pode motivar ninguém, no entanto, o que se observa nos ambientes organizacionais é que, tanto os administradores, quanto os profissionais de recursos humanos desperdiçam tempo e recursos tentan-do inutilmente motivar os trabalhadores. Para alcançar altos níveis de satisfação no cargo, fatores motivacionais devem, também, estarem presentes. Estes têm relação com o conteúdo do próprio trabalho e com os resultados desse trabalho, incluem a realização, o reconhecimento, o próprio trabalho, a responsabilidade e o progresso.
2.1.1 Motivação no ambiente de trabalho
Segundo Chiavenato (1982), a motivação no ambiente de trabalho é determinada por vários fatores que evidenciam em diferentes situações e em diferentes contextos. Integrar pessoas e departamentos dentro de uma organização tornou-se um grande desafio para as empresas, pois além de qualquer fator motivacional que possamos descrever, existe a motivação que tem raízes no indivíduo, no ambiente externo da organização e, até mesmo na própria situação econômica do país e do mundo. A satisfação no trabalho é o que define o grau de comprometimento do colaborador com suas atividades diárias. A organização deve ter foco na sua missão e visão, pro-porcionando oportunidades de crescimento para seus colaboradores.
Para Bergamini (1997, p.32)[…] os aspectos motivacionais surgem, essencialmente, do próprio sujeito, como resultado de sua história de vida suas necessidades de encarar desafios, do lugar reservado ao trabalho em sua vida, o modo como constrói as relações interpessoais, a disponibilidade para construir a carreira e o modo como este se organiza frente a situações não planejadas…a motivação surge a partir da personalidade do indivíduo […]
Chiavenato (1989) ressalta que as pessoas são diferentes no que tange a moti-vação. As necessidades variam de indivíduo para indivíduo, produzindo diferentes padrões de comportamento, os valores sociais são diferentes. Assim, as capacidades para atingir os objetivos são igualmente diferentes.
Chiavenato (2005, p.244), ainda, revela que:o que motiva alguém hoje pode não motivar amanhã [...] a motivação do indivíduo ao fazer uma escolha depende de três fatores: do valor que ele atribui ao resultado advindo de cada alternativa, da percepção de que a obtenção de cada resultado está ligada a uma compensação, da expectativa que ele tem de poder obter cada resultado.
Motivar uma equipe é um trabalho árduo e contínuo. As pessoas precisam de uma liderança forte, motivada e vibrante. Ninguém motiva pessoas: elas são motiva-das para agir e obter um resultado. Quem faz alguma coisa faz por duas razões: Obter resultado desejável ou evitar um resultado indesejável. São as pessoas que devem
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 | 59DORIGUETTO, P. O.; SILVA, J.H.
desejar o sucesso. As pessoas são motivadas pela vontade de satisfazerem seus dese-jos e necessidades. O segredo da motivação é identificar o que motiva o profissional. A motivação é diferente em pessoas diferentes: as pessoas pensam e agem de acordo com seus valores e experiências.
De acordo com Aguiar (1981, p. 144), Maslow foi um teórico que muito contribuiu no estudo da motivação humana. Sua abordagem tem origens no funcionalismo, no holismo da psicologia gestáltica e no dinamismo psicanalítico, considerando assim o ser humano em sua totalidade, com ênfase à integração dinâmica dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais.
2.2 Teoria da hierarquia das necessidades
A hierarquia das necessidades de Maslow, também conhecida como pirâmide de Maslow, é uma divisão hierárquica proposta por Abraham Maslow, em que as ne-cessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Cada um tem de “escalar” uma hierarquia de necessidades para atingir a sua autorrealização.
De acordo com Bergamini (1990, pg.139) as necessidades de nível baixo são ne-cessidades que são satisfeitas externamente. As necessidades de nível alto são ne-cessidades que são satisfeitas internamente.
Maslow define um conjunto de cinco necessidades descritas na pirâmide, são elas:• Necessidades fisiológicas (básicas), tais como a fome, ao sono, o sexo, a excre-
ção, o abrigo;• Necessidades de segurança, que vão da simples necessidade de sentir-se segu-
ro dentro de uma casa a formas mais elaboradas de segurança como um empre-go estável, um plano de saúde ou um seguro de vida;
• Necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos tais como os de pertencer a um grupo ou fazer parte de um clube;
• Necessidades de estima, que passam por duas vertentes, o reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o reconhecimento dos outros, face à nossa capa-cidade de adequação às funções que desempenhamos;
• Necessidades de autorrealização, em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser. Os seres humanos devem ser verdadeiros com a sua própria natureza.
2.3 Satisfação no cargo
Segundo Chiavenato (2005), a maioria das pessoas relaciona a satisfação no cargo à felicidade no cargo. Essa ideia associa-se a definição que chamamos de satisfação no cargo, que diz respeito à relação ao trabalho e a situação no trabalho.
60 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 A importância da pesquisa de clima organizacional
A satisfação no cargo é e sempre foi um componente importante na melhoria da motivação. Embora existam fatores como baixos níveis de satisfação no cargo, baixo rendimento, tenha sido vinculado a resultados negativos, a motivação ajuda a contribuir para a melhoria destes fatores na organização. A satisfação no cargo está relacionada aos resultados de desempenho, da rotatividade, do absenteísmo, do compromisso organizacional e do envolvimento no cargo.
Minicucci (1992, p.228) ressalta que em uma sociedade de produção em massa, o empreendimento de motivar as pessoas a trabalhar não constitui uma tarefa fácil, visto que muitos obtêm pouca satisfação pessoal em seus empregos e auferem pou-co senso de realização e criatividade.
Segundo Robbins (2005) o envolvimento dos funcionários define-se como sendo um processo participativo que utiliza toda a capacidade dos colaboradores e tem por objetivo estimular um comprometimento crescente com o sucesso da organi-zação. Através deste envolvimento com a organização, os funcionários se tornarão mais motivados, mais comprometidos com a organização, mais produtivos e mais satisfeitos com o emprego.
2.4 Clima organizacional
Segundo Chiavenato (1995), clima organizacional é o nome dado ao conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento, formais e informais, existentes em uma organização, que afetam a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras e com a própria organização.
Para Bennis (1996), clima significa um conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras, tais como sinceri-dade, padrões de autoridade, relações sociais, etc.
A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta para coleta destes dados, fornecendo informações importantes sobre a percepção dos colaboradores em re-lação aos diversos fatores que afetam os níveis de motivação e desempenho dos mesmos. Além da identificação destes problemas, a pesquisa, enquanto meio de comunicação, possibilita ainda a utilização do conhecimento tácito dos colabora-dores para a resolução dos problemas com os quais os mesmos lidam diariamente. A pesquisa, portanto, possibilita que a organização avalie seu momento atual e planeje ações, em um processo de melhoria contínua.
2.4.1 Pesquisa de clima organizacional
Segundo Luz (2003) ao se analisar o ambiente de trabalho e as variáveis que o influenciam, positiva ou negativamente, além da satisfação dos colaboradores da or-ganização em relação a diversos fatores, como ambiente de trabalho, comunicação,
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 | 61DORIGUETTO, P. O.; SILVA, J.H.
liderança, motivação, relacionamento interpessoal e outros, possibilita a identifica-ção e a resolução dos diversos problemas.
Na opinião de Chiavenato (1994), o clima organizacional é favorável quando pro-porciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes, produzindo eleva-ção do moral interno. É desfavorável quando proporciona frustração daquelas ne-cessidades.
Nesse sentido, torna-se cada vez mais relevante o estudo da qualidade do clima organizacional, por sua influência sobre a produtividade, a competitividade empre-sarial, e a consequente qualidade de vida no trabalho. A identificação de causas que possam interferir negativamente no comportamento dos empregados, em relação ao seu trabalho ou à organização, permite que ações corretivas possam ser adota-das atuando-se sobre as referidas causas, com base em dados concretos, coletados através das pesquisas de clima organizacional, que passam a ser uma importante ferramenta gerencial para a gestão dos recursos humanos.
Os objetivos específicos da pesquisa de clima organizacional, de acordo com Luz (2003), são:
• Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores em relação à organização;• Criar canal de comunicação direta entre os colaboradores e a direção da organi-
zação, onde possam manifestar suas opiniões com garantia do anonimato;• Permitir melhoria do clima organizacional onde for constatado o maior grau de
insatisfação no ambiente de trabalho;• Identificar, avaliar e monitorar o impacto das intervenções contempladas na
pesquisa de clima organizacional no decorrer do tempo, e;• Criar meio, junto aos colaboradores, para o aperfeiçoamento da comunicação.
2.4.1.1 Produtos esperados sobre a pesquisa de clima organizacional
Luz (2003), através da avaliação e correção dos problemas identificados, ressalta que a pesquisa deve produzir os seguintes resultados, de acordo com as possibilida-des de realização, conforme os passos a seguir:
• Melhoria contínua da qualidade no ambiente de trabalho, proporcionando de-senvolvimento pessoal e profissional aos colaboradores e ganhos para a orga-nização;
• Oferecer condições de segurança adequadas para o trabalho;• Melhorar a comunicação na organização;• Proporcionar um bom relacionamento entre os diferentes níveis hierárquicos;• Criar um ambiente saudável de trabalho através da manutenção do bom rela-
cionamento interpessoal;• Aprimoração das políticas de responsabilidade social adotadas pela organiza-
62 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 A importância da pesquisa de clima organizacional
ção, gerando resultados satisfatórios aos seus grupos de interesses, como: clien-tes internos e externos, colaboradores, fornecedores e a sociedade;
• Possibilitar uma adequada gestão do conhecimento;• Melhorar o comprometimento e conhecimento dos colaboradores em relação
aos objetivos da organização;• Desenvolver e capacitar lideranças;• Possibilitar o desenvolvimento profissional dos colaboradores;• Identificar os pontos fortes e fracos da organização na visão dos colaboradores,
permitindo assim a melhoria do nível de satisfação destes;• Melhoria das condições de infraestrutura para o trabalho;• Oferecer condições para o desenvolvimento e a inovação, e;• Oferecer condições satisfatórias de trabalho, de acordo com os interesses dos
colaboradores.Kaplan & Norton (1989), reforçam, ainda, que fornecer uma base de dados que
retrate de forma detalhada o clima organizacional e construir planos de ação para tornar o clima organizacional mais satisfatório, se faz necessário. Os autores, tam-bém, ressaltam, que amplitude dos planos de ação estará condicionada ao quanto a empresa está disposta a investir na gestão do clima organizacional, podendo minimi-zar problemas como desperdícios, absenteísmo, conflitos no trabalho, desmotivação e até mesmo a criação de equipes de alta performance e um ambiente propício para a inovação.
2.5 Cases em pesquisa de clima organizacional
2.5.1 Pesquisa de clima organizacional em uma agência bancária
A combinação dos recursos disponíveis com a gestão dos mesmos resulta no de-sempenho organizacional. Para que uma organização alcance bons resultados, não basta dispor dos recursos necessários, é preciso que as pessoas que nela trabalham saibam geri-los, queiram e possam fazê-lo. O “querer fazer” pode revelar o grau de sa-tisfação dos recursos humanos, e boa parte do sucesso ou fracasso das organizações.
Ouvir a voz do cliente interno constitui mais que um simples processo, um indicador eficaz de mudança de mentalidade empresarial. Desta forma, torna-se fundamental para a gestão o pleno conhecimento do ambiente de trabalho (MACHADO & GOULART, 2013).
Respaldado por esta compreensão, e com base no referencial teórico, Machado & Goulart (2013) desenvolveram um estudo, com o objetivo de avaliar o clima or-ganizacional e a qualidade de vida no trabalho no ambiente de uma agência ban-cária, e mais especificamente, verificar a percepção dos funcionários (superiores e
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 | 63DORIGUETTO, P. O.; SILVA, J.H.
subordinados) em relação às variáveis que compõem o clima organizacional, ou seja, imagem da empresa, política de recursos humanos, sistema de assistência e benefí-cios, organização e condições de trabalho, relacionamento interpessoal, liderança, satisfação pessoal e motivação, processo decisório e comunicação.
Os resultados do estudo revelaram um quadro bastante positivo, segundo a per-cepção de seus empregados, com um índice de aprovação bastante alto para as afir-mativas propostas, o que mostra um grau de satisfação elevado de toda a equipe. Pode-se inferir, pelos resultados encontrados, que existe um clima bastante favorável e propício ao desempenho profissional de seus colaboradores, bem como uma alta qualidade de vida.
Entretanto, foram observadas algumas deficiências que devem receber, por par-te dos gestores, uma atenção especial. São elas: a falta de reuniões, melhoria do trabalho em equipe e melhoria no aspecto de segurança interna. Estes são fatores importantes que precisam ser supridos rapidamente. O fator realização profissional também foi mencionado, e merece ser revisto. Remanejamento de funções dentro da própria agência para contribuir para a melhoria desta variável.
Ao final do estudo realizado, Machado & Goulart (2013) consideraram que pes-quisa de clima organizacional é uma ferramenta poderosa e muito importante e que, se usada da maneira adequada poderá contribuir para um melhor desempenho, não só dos colaboradores e dos grupos de trabalho como da organização como um todo.
2.5.2 Pesquisa de clima organizacional numa agência de viagem e turismo
Medani (2013) realizou um estudo com o objetivo de desenvolver e validar um instrumento para se investigar a qualidade do clima organizacional na BB Turismo - Viagens e Turismo Ltda.
O estudo foi realizado por meio da análise da percepção dos funcionários sobre diversos aspectos relacionados ao seu ambiente de trabalho. O modelo conceitual foi composto por duas dimensões: a psicossocial e a organizacional. E sete fatores de clima: carga de trabalho; condições de trabalho; clareza organizacional; padrão de desempenho; estilo de gerência; comprometimento organizacional; trabalho em equipe e reconhecimento.
O estudo buscou, então, mapear as percepções dos funcionários sobre aspectos objetivos e subjetivos presentes no ambiente de trabalho (MEDANI, 2013).
A análise fatorial realizada no estudo mostrou que o instrumento proposto é adequado para a investigação do clima organizacional. As análises estatísticas apon-taram, ainda, que, para a população pesquisada, os fatores referentes à dimensão psicossocial são os mais influentes na percepção das condições do ambiente organi-
64 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 A importância da pesquisa de clima organizacional
zacional. Dentre os sete fatores pesquisados, o fator estilo de gerência, reproduzindo os resultados de outros trabalhos realizados sobre o tema, revelou-se como o mais relevante na percepção do clima organizacional.
Diante destes resultados, os autores afirmam que os aspectos subjetivos do am-biente de trabalho, tais como, o relacionamento interpessoal, o envolvimento com o trabalho, a identificação com a empresa, o sentimento de amizade, pertencimento e valorização pelo grupo e superiores, são elementos determinantes na formação do clima organizacional na organização estudada.
A análise dos resultados demonstrou, também, que o clima organizacional foi per-cebido de forma bastante satisfatória pelo conjunto de respondentes, ressaltando-se o fator comprometimento, que apresentou a melhor avaliação dentre os fatores. Por outro lado, o fator carga de trabalho, que verifica a percepção dos funcionários sobre as retribuições oferecidas pela empresa, apresentou a avaliação menos satisfatória.
Uma das características mais peculiares detectadas por este estudo foi a disso-nância apresentada na relação entre o elevado grau de comprometimento dos fun-cionários versus às percepções menos satisfatórias sobre as práticas de reconheci-mento, valorização e retribuições oferecidas.
De acordo com os autores, esta situação mostrou-se preocupante, pois, ao longo do tempo, caso não sejam implantadas ações para aprimorar os pontos de insatis-fação detectados, o comportamento do corpo funcional poderá ser afetado nega-tivamente quanto ao desempenho, a satisfação, a motivação e a própria percepção favorável do clima organizacional da empresa como um todo.
Apesar de este estudo ter sido realizado com uma população significativa de tra-balhadores do segmento de agência de viagens, representativa nas diversas regiões do país, os resultados obtidos não podem ser generalizados, ficando restritos à Em-presa objeto do estudo, porque seus resultados são baseados em percepções indivi-duais sobre as características de um ambiente organizacional específico.
Apesar desta limitação, acredita-se que o instrumento desenvolvido nesta pesquisa, apropriadamente adaptado e validado (semântica e estatisticamen-te), possa contribuir eficazmente na investigação do clima organizacional. Além disso, representa uma tentativa na compreensão, ao menos de parte, dos incontáveis componentes que influenciam, positiva e negativamente, o comportamento humano nas organizações.
3 METODOLOGIA
No primeiro momento, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Não existe regra fixa para a realização de pesquisas bibliográficas, porém, seguiu-se o se-
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 | 65DORIGUETTO, P. O.; SILVA, J.H.
guinte roteiro de trabalho: exploração das fontes bibliográficas; leitura do material; elaboração de fichas com os resumos de partes relevantes do material consultado; ordenação e análise das fichas de acordo com o seu conteúdo, conferindo sua confia-bilidade e; considerações obtidas a partir da análise dos dados (GIL, 2009).
Segundo Marconi & Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de “toda” a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o mes-mo na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Portanto, ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica.
Neste aspecto, para que este trabalho tomasse forma e fosse fundamentado, fo-ram consultadas várias literaturas relativas ao assunto em estudo, como livros e arti-gos científicos publicados na internet .
O presente trabalho, ainda, apresenta, num segundo momento, dois cases que mostram a aplicação da pesquisa de clima e seus resultados. O primeiro case apresentado é o de uma agência bancária e o segundo, o de uma agência de viagens e turismo.
Segundo Almeida (1996), o estudo de caso consiste em coletar e analisar infor-mações sobre determinada organização, a fim de estudar aspectos de acordo com o assunto da pesquisa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tendência que hoje se verifica é a administração com as pessoas, que signifi-ca administrar a urbanização juntamente com os colaboradores e parceiros internos que mais entendem dela e de seu futuro. As organizações estão tomando consciên-cia do imenso valor que as pessoas, se bem motivadas e satisfeitas com o seu traba-lho, agregam à empresa.
Portanto, as pesquisas de clima são muito importantes para saber como as pesso-as se sentem na organização. A partir do momento em que existe o mapeamento do ambiente interno da empresa, é possível atacar efetivamente os principais focos do problema, melhorando o clima do trabalho das pessoas. Além de atingir o principal objetivo da pesquisa de clima, que é obter o conhecimento real dos problemas, ela aponta também os pontos fortes da empresa.
Na realidade, se cada um fizer a sua parte, a empresa pode ter um bom ambiente de trabalho. Não depende só da empresa, depende das pessoas que nela trabalham. É fundamental o espírito de equipe, a comunicação aberta e a confiança entre todos os membros da equipe. Equipes só funcionam quando têm um objetivo claro, uma
66 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 A importância da pesquisa de clima organizacional
causa comum a todos. O que pode se observar também é que a liderança tem um pa-pel fundamental na criação de um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas têm prazer em trabalhar, pois os líderes são responsáveis pela integração da sua equipe de trabalho e pelo reconhecimento e valorização das pessoas.
Um clima agradável no trabalho é vantajoso para ambas às partes, funcionários e empresa, e o resultado é menos estresse, mais prazer na empresa, mais envolvimento com o trabalho e melhores desempenhos e resultados.
O desafio colocado às empresas em geral é o de investir em um clima organizacio-nal positivo e sadio para que os resultados qualitativos e quantitativos aconteçam.
Ambientes onde há um clima organizacional ruim, onde predomina a desmotiva-ção da equipe, a ausência de objetivos individuais e coletivos, a falta de comprome-timento das pessoas com o negócio, a falta de respeito do ser humano, a ausência de transparência na gestão, a comunicação deficiente, a rotatividade elevada, são enormes geradores de problemas e de custos invisíveis para o negócio.
A felicidade de um ambiente organizacional produz resultados significativos e termos de produtividade do negócio e das pessoas, e com isso, acaba agregando valor ao negócio. O ganho financeiro e não financeiro do negócio passa necessaria-mente pela melhoria do clima organizacional interno. Apenas é necessário que seus fatores estejam incorporados aos princípios modernos da gestão da organização e que todos dentro da mesma tenham a responsabilidade na sua implantação, desde a alta administração, gerentes, líderes, e todos os colaboradores.
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, M. L. P. Tipos de pesquisa. In:_______. Como elaborar monografias (4a ed.). Bélem: CEJUP. 1996, cap. 4, 101-110p.
AGUIAR, A. F., Psicologia aplicada à administração: uma introdução à psicologia organizacional. São Paulo: Atlas, 1981.
BENNIS, W. A Formação do Líder. São Paulo: Atlas, 1996.
BERGAMINE, C.W. Motivação nas organizações. Editora Atlas, 1997.
CHIAVENATO, I. Administração de empresas: uma abordagem contingencial. São Paulo: McGraw-Hill, 1982.
_______. Recursos humanos na empresa. São Paulo: Atlas, 1989.
_______. Gerenciando pessoas. São Paulo: Makron Books, 1994.
_______. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. São Paulo: Campus, 2005.
GIL. A. C. Como elaborar projetos de pesquisa (4a ed.). São Paulo: Atlas, 2009.
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação. São Paulo: Atlas, 1989.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 55-67, 2013 | 67DORIGUETTO, P. O.; SILVA, J.H.
KRUMM, D. Psicologia do trabalho. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
LUZ, R. Gestão do clima organizacional. Rio de Janeiro: Qualymark, 2003.
MACHADO. A. G. Análise de clima organizacional: estudo de caso em uma agência bancária. Disponível em: < http://www.aedb.br/seget/artigos05/289 >. Acesso em: 11 abr. 2013.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1992.
MAXIMINIANO, A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 1995.
MEDANI, M.; Clima organizacional: investigação e diagnóstico: estudo de caso em agência de viagens e turismo. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870350X200600030001>. Acesso em: 05 jun. 2013.
MINICUCCI, A. Psicologia aplicada à administração. São Paulo: Atlas, 1992.
OLIVEIRA, M. A. Pesquisas de clima interno nas empresas: o caso dos desconfiômetros avariados. São Paulo: Atlas. 1995.
ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
68 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p 68-81, 2013 A importância da liderança da empresa moderna
A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NA EMPRESA MODERNATHE IMPORTANCE OF LEADERSHIP IN THE COMPANY MODERN
Maria Alice Gomes1 Jorge Henrique da Silva2
Resumo
Em qualquer relação numa organização, sempre haverá um dinamismo para o desempenho das funções, graças às constantes mudanças no cenário de atuação da maioria das empresas, criando a necessidade de adequação das mesmas e suas equipes às novas situações, novas oportunidades, novas exigências e novos tipos de problemas. Essa adequação depende em grande parte, do comando da equipe, da função da liderança e da forma como ela é exercida. Neste contexto, o presente estudo cita diversos aspectos relacionados à liderança e sua im-portância na empresa moderna. Ressalta que a liderança tem um papel crucial. Porém, não é uma ciência exata, isto é, não existe modo único, ou uma única melhor forma de liderar, pois envolve pessoas, e as pessoas são diferentes entre si. Identificar o tipo de liderança mais ade-quado a cada organização ou situação é o que faz a diferença no resultado final de cada em-presa, pois é o líder quem geralmente aponta a direção em relação ao alcance dos objetivos.
Palavras-chave: Líder. Liderança. Equipe. Organizações.
Abstract
In any relationship in an organization, there will always be a dynamism for the performance of functions, thanks to constant changes in the scenario where the majority of companies, creating the need for adequacy and their teams to new situations, new opportunities, new demands and new types of problems. This adequacy depends in no small part, of the charge of the team, the leadership role and the way it is exercised. In this context, the present study cites several aspects related to leadership and its importance in the modern enterprise. Stresses that leadership plays a crucial role. However, it’s not an exact science, that is, there is no single mode, or a single best way to lead, because it involves people, and people are different from each other. Identify the type of leadership best suited to each organization or situation is what makes the difference in the final result of each company, as is the leader who usually points the direction in relation to the achieve-ment of objectives.
Keywords: Leader. Leadership. Teams. Organizations.
1 Aluna do Curso de Tecnólogo de Processos Gerenciais da Faculdade de Administração e Artes de Limeira – FAAL. e-mail: [email protected].
2 Prof. Dr. (Orientador) do Curso de Tecnólogo de Processos Gerenciais da FAAL. e-mail: [email protected].
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 68-81, 2013 | 69GOMES, M. A.; SILVA, J. H.
1 INTRODUÇÃO
O mundo vive em constante evolução. Nada é estático, principalmente no que se refere ao meio empresarial hoje. Em qualquer relação dentro de um determinado se-guimento, sempre haverá um dinamismo para o desempenho das funções, graças às constantes mudanças no cenário de atuação da maioria das empresas, criando a neces-sidade de adequação das mesmas e suas equipes às novas situações, novas oportunida-des, novas exigências e novos tipos de problemas. Essa adequação depende em grande parte, do comando da equipe, da função da liderança e da forma como ela é exercida.
A liderança tem um papel crucial, pois é o líder quem geralmente aponta a dire-ção em relação ao alcance dos objetivos. Pode ser ensinada e aprendida. Porém lide-rança não é uma ciência exata, isto é, não existe modo único ou uma única melhor forma de liderar, pois se trata de pessoas e as pessoas são diferentes entre si. Identi-ficar o tipo de liderança mais adequado a cada organização ou situação é o que faz a diferença no resultado final de cada empresa.
Este trabalho tem como objetivo citar aspectos relacionados à liderança e a sua importância na empresa moderna.
2 REFERENCIAIS TEÓRICOS
2.1 Gestão e Liderança
Gestão é ação ou efeito de gerenciar, administrar uma instituição ou grupo a ser gerido ou administrado, com o objetivo de crescimento pelo esforço comum. É um conjunto de tramites com o objetivo de resolver algo ou realizar um projeto. Geren-ciar é obter resultados através de pessoas (RODRIGUES, 2005. p. 103).
A liderança não deve ser confundida com direção nem com gerência. Lide-rança é a capacidade de influenciar e motivar pessoas, orquestrar mudanças em direção ao futuro. Para Chiavenato (1999, p. 558), é uma influencia interpessoal, exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação visando o alcance de um ou mais objetivos.
A princípio, gestores deveriam ser também líderes, mas isto nem sempre ocorre. A posição de gestor oferece a oportunidade de liderança e essa capacidade pode fazer a diferença entre ótimos gestores e gestores medianos. A liderança envolve fatores que vão além dos fatores gerenciais básicos.
Enquanto a gestão envolve o planejamento organizacional, a contratação de pes-soal capacitado, estruturação e monitoramento das atividades, a liderança inspira as pessoas a aderirem a visão da empresa e ao cumprimento dos objetivos (BATEMAN e SNELL, 2007. p. 396).
70 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p 68-81, 2013 A importância da liderança da empresa moderna
O gestor que é também um líder irá transformar subordinados em verdadeiros seguidores. “No exercício de qualquer função de comando [...] é capaz de influenciar a equipe e sendo por ela legitimado, representá-la e conduzir numa determinada situação, por exemplo, a coordenação de um projeto ou de parte dele (MACÊDO et al, 2003 p. 110).
2.2 Grupos e Equipes
Para formar um grupo é necessário apenas um componente: a reunião de duas ou mais pessoas. Para formar uma equipe é preciso a reunião de duas ou mais pessoas, que interagem regularmente, em torno de uma meta de desempenho. Numa equipe há o empenho individual com uma interação e integração de todos os envolvidos, voltado ao desenvolvimento do grupo e ao crescimento pessoal e interpessoal. As equipes podem ser permanentes, (cujo trabalho não tem término predefinido) ou temporárias (desempenhar apenas uma tarefa específica) e ainda possuir diferentes tamanhos e papéis (ROBBINS, 2002. p. 250-254).
O conceito de equipe implica uma ideia de missão compartilhada e de respon-sabilidade coletiva. Os integrantes devem interagir e coordenar o seu trabalho para realizar uma meta específica. Os líderes precisam compreender e administrar as fases de desenvolvimento para estabelecer uma equipe eficaz e direcioná-la de forma po-sitiva (DAFT. 2005. p. 449,450).
O líder tem, entre seus atributos, o poder de fazer as pessoas acordarem para suas próprias capacidades e as encoraja a dar o melhor de si em função de uma ideia ou meta a ser alcançada (SCHERMERHORN, 1996. p. 286).
Para O’Donnell (2006, p. 169)
o desempenho de uma organização está intimamente relacionado às formas de interação das equipes que a compõem. Para que uma equipe seja eficiente é necessário que seus integrantes saibam desempenhar seus papéis no grupo e não apenas funcionar individualmente. Cada indivíduo possui características e aspirações próprias, porém precisam unir seus esforços em prol de um objetivo comum.
A liderança guiará esses indivíduos para que funcionem como várias engrenagens em um mesmo maquinário, onde as várias características se complementam e se apoiam, gerando a interação e os resultados desejados (ROBBINS, 2002. p. 261-263).
2.3 O Que é Ser Líder?
Líder é o que vai à frente, que abre caminho e é seguido. Ser líder é algo inerente ao indivíduo, e envolve comportamento, caráter e personalidade para exercer a habilidade de influenciar pessoas, de forma objetiva e responsável, sem perder o equilíbrio entre a coesão da equipe e o cumprimento dos objetivos organizacionais (O’DONNELL, 2006.p.157,158).
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 68-81, 2013 | 71GOMES, M. A.; SILVA, J. H.
Grandes líderes conseguem que coisas extraordinárias sejam feitas nas orga-nizações, inspirando e motivando os outros na direção de um propósito comum (SCHERMERHORN, 1996. p. 224). Ainda, segundo o autor, líderes de equipes de alto desempenho estabelecem uma visão de que um futuro melhor é possível e se empenham em conduzir seus seguidores até lá (SCHERMERHORN, 1996. p. 295).
Assim, o líder tem a tarefa de identificar e liberar o potencial latente nos colabo-radores. Ajuda a gerar confiança e comprometimento, desenvolvendo um ambiente propício ao potencial de cada um. E usa esse potencial para conferir vantagens à organização (RODRIGUEZ, 2005.p.4,5).
2.4 Perfil do Líder
Liderança é atitude, visão, comportamento, uma postura adotada. Não é um cargo, como talvez alguns pensem. O equilíbrio entre atitudes, relacionamentos e situa-ções, representa a “química” da liderança (O’DONNELL, 2006.p.158).
Dentre algumas habilidades que devem ser cultivadas exercidas pelo líder, pode-mos citar a habilidade em ser um catalisador, seja de ideias, recursos ou seguidores. Além disso, são inovadores, fazem coisas que outros ainda não fizeram, aprendem com os erros, gerenciam o sonho coletivo (RODRIGUEZ, 2005, p.114).
Li (2012) descreve como as mudanças no cenário atual afetam o modo de liderar das empresas, e como o líder deve posicionar-se para acompanhar essas mudanças. Enfatiza a necessidade de construir relacionamentos dentro e fora da empresa, pau-tados na transparência e no compromisso com uma visão comum a todos.
Ainda, segundo Li (2012), o líder divulga a visão e a estratégia, considerando o po-tencial de liderança existente em cada pessoa, inspirando confiança e participação através de uma cultura na qual a informação é devidamente compartilhada, ditando regras para que os riscos e compromissos sejam assumidos.
Líderes servem de exemplo de comportamento para aqueles que os observam, pela forma como conduzem suas ações. A liderança também é exercida através do exemplo, assim, se um líder não demonstrar comportamento exemplar a sua inte-gridade e o seu direito de cobrar resultados será questionado e ele terá que usar de autoridade para fazer valer suas ordens (RODRIGUEZ, 2005, p. 122).
2.5 Poder e Liderança
A liderança ocorre entre as pessoas, envolve o uso de influência e é usada para alcançar metas. É dinâmica e envolve o uso de poder. Os tipos de poder que se fazem presente em um líder se dividem entre os que decorrem da posição ocupada e os que são decorrentes da própria pessoa (CHIAVENATO, 1999, p.555-57).
72 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p 68-81, 2013 A importância da liderança da empresa moderna
Ao todo soma cinco tipos diferentes: poder coercitivo, poder de recompensa, po-der legitimado, poder de competência e poder de referência (ROBBINS, 2002, p. 342; DAFT, 2007, p. 373-74).
Bateman & Snell (2007, p. 398) e DAFT (2007, p. 375) explicam estes poderes:• O poder coercitivo se origina no temor do liderado sobre o direito do líder em
punir ou recomendar punição (por exemplo, fazendo observações negativas em seu arquivo, o que dificultaria no caso de uma promoção). Assim o seguidor obedece ao líder para evitar essas ações;
• O poder de recompensa se origina na necessidade de recompensa que o subor-dinado deseja obter. Pode ser na forma de aumento de salário, recomendações, promoções e outras formas de reconhecimento;
• O poder legitimado se origina de uma posição administrativa formal e hierár-quica. A pessoa é vista como superior, e suas determinações acerca do trabalho são seguidas;
• O poder de competência resulta do conhecimento e/ou habilidade técnica do líder em relação às tarefas desempenhadas pelos seguidores. Os liderados de-senvolvem respeito pelas aptidões e perícia técnica do líder, em relação ao pró-prio conhecimento, e;
• O poder de referência é resultante do carisma do líder.
Segundo Chiavenato (1999, p. 556), o carisma do líder exerce certo magnetismo pessoal que influencia fortemente as pessoas. Esse carisma desperta identificação, admiração e respeito nos subordinados, de modo que estes desejam seguir o seu exemplo (DAFT, 2007, p. 375,376).
Para Schermerhorn (1996, p. 225), os poderes de recompensa, coercitivo e legi-timado são decorrentes da posição ou cargo ocupado, ao passo que os poderes de competência e de referência são decorrentes da própria pessoa.
2.6 Teorias de liderança
Existem algumas teorias sobre liderança, como: teorias dos estilos de liderança, teorias situacionais de liderança e, visões contemporâneas de liderança.
2.6.1 Teoria dos estilos de liderança
A teoria dos estilos de liderança refere-se às maneiras e estilos de comportamen-to do líder. São três diferentes estilos de liderança que influenciam de forma distinta no comportamento das pessoas e seu resultado. O desafio é saber identificar com quem, em que circunstâncias e quais tarefas aplicar a cada um, são eles: liderança autocrática, liderança liberal e liderança democrática.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 68-81, 2013 | 73GOMES, M. A.; SILVA, J. H.
Na liderança autocrática a autoridade está centralizada no líder, subordinados não têm nenhuma liberdade de escolha. O líder toma todas as decisões, emite or-dens e espera obediência plena e cega. Embora, em um primeiro momento, possa parecer antiquado, este estilo se mantém atual, aplicável às equipes onde existem indivíduos indolentes, sem ambição, dependentes e sem iniciativa. A negatividade deste estilo está no fato de que pode gerar tensão, frustração e agressividade nos su-bordinados que temem o líder e só trabalham quando este está presente. Este estilo enfatiza somente o líder (CHIAVENATO, 1999, p.565, DAFT, 2007. p. 377).
Já na liderança liberal a participação do líder é limitada. Informações e orienta-ções são dadas quando solicitadas pelo grupo. De aplicação criteriosa, pode apre-sentar resultados poucos satisfatórios em relação à qualidade e à quantidade, por provocar desagregação do grupo e individualismo. Pode causar insatisfação e pouco respeito ao líder. Este estilo enfatiza somente o grupo. O líder deixa a situação fluir sem interferência (CHIAVENATO, 1999, p.564).
Na liderança democrática o líder se preocupa igualmente com o trabalho e com o grupo. É comunicativo, encoraja a participação dos subordinados. É considerado que apresenta os melhores resultados, pois promove um clima de satisfação, integração, o que resulta em melhor qualidade e boa quantidade de trabalho. Os indivíduos sob esta liderança, não são passivos, gostam de atividade, têm potencial criativo e aceitam responsabilidades. Nesse estilo, o líder é um orientador do grupo, ajudando na identificação dos problemas e definição de soluções, coordenando atividades e sugerindo ideias, e o grupo responde com maior responsabilidade e comprometi-mento (DAFT, 2007. p.377).
O quadro 1 apresenta um resumo da atuação do líder e do comportamento dos liderados segundo cada estilo.
Quadro 1 – Os Estilos de Liderança
ESTILO LÍDER SUBORDINADO
AutocráticoChefão: manda, impõe, exige, coage. Obedece, aceita cegamente,
desconhece.
LiberalMero Colega: ausenta-se, omite-se, ignora, deixa ficar.
Faz o que quer e quando quer.
DemocráticoImpulsionador: orienta, estimula, ensina, ajuda.
Colabora, participa, sugere, decide ajuda, coopera.
Fonte: Adaptado de Chiavenato (1999).
2.6.2 Teorias situacionais de liderança
Refere-se à adequar o comportamento do líder, de acordo com a circunstância ou situação (SCHERMERHORN, 1996. p. 228, 229).
74 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p 68-81, 2013 A importância da liderança da empresa moderna
Em muitos casos, se a situação se modifica, a liderança também passa por modi-ficações (BATEMAN e SNELL, 2007. P. 404). Pode-se considerar uma mistura de vários estilos, onde as decisões podem se basear em diferentes diretrizes, a saber: a escolha dos padrões de liderança, modelo contingencial e teoria do caminho meta ou teoria voltada para os objetivos.
No estilo “escolha de padrões de liderança”, como o próprio nome diz, o líder esco-lhe os padrões mais adequados à situação em que se encontra.
O modelo contingencial é baseado em três fatores situacionais, são eles: • Poder de posição do líder: influência derivada do cargo, que confere ao líder
capacidade de distribuir recompensas, bônus e promoções; • Estrutura da tarefa: quando as tarefas são rotineiras e claras (ex. trabalhadores
na linha de montagem), seu grau de estrutura é considerado alto pois são fáceis de mensurar e a situação favorável ao líder. Por outro lado, as tarefas criativas (ex. pesquisa e desenvolvimento), não são assim tão claras, portanto seus resul-tados são mais difíceis de medir, seu grau de estrutura é considerado baixo e a situação menos favorável (BATEMAN & SNELL, 2007, p. 423) e;
• Relação entre líder e liderados: é um tipo de liderança voltado a manutenção do grupo. Relacionado com o grau de aceitação do líder pelo grupo e pelo apoio que este recebe, ressalta a importância da manutenção de um bom relaciona-mento interpessoal (BATEMAN & SNELL, 2007, p. 423, 424).
Por outro lado, a teoria do caminho-meta ou teoria voltada para os objetivos se preocupa com a forma como o líder influencia as percepções dos seus seguidores a respeito das metas de trabalho e do caminho a ser seguido para cumprimento. Leva em consideração características pessoais dos seguidores e as pressões de-mandadas do ambiente, enfrentadas por estes, para atingir as metas de trabalho (DAFT, 2007, p. 381).
Neste sentido, Bateman & Snell (2007, p.408, 409) ressaltam, ainda, que dentre as diversas funções do líder, destacam-se: facilitar o caminho, reduzir as barreiras frus-trantes para se atingir a meta e, intensificar as oportunidades de satisfação pessoal por meio do aumento das compensações.
2.6.3 Visões contemporâneas de liderança
Através do estudo dos comportamentos simbólicos e emocionais, as visões con-temporâneas de liderança tentam explicar como certos líderes conseguem altos ní-veis de comprometimento de seus liderados. Dentro deste modelo pode-se citar a liderança carismática e a liderança transformacional.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 68-81, 2013 | 75GOMES, M. A.; SILVA, J. H.
2.6.3.1. Liderança carismática
Além de influenciar a todos com a sua visão, o líder carismático é sensível tanto às limitações ambientais como às necessidades de seus liderados e exibem comporta-mentos diferentes dos comuns (ROBBINS, 2002, p. 317).
De acordo com Schermerhorn (1996, p. 232) a liderança carismática cria uma rela-ção inspiradora entre o líder e seus seguidores.
É um tipo de liderança que, acredita-se, traz melhores resultados quando há um componente ideológico envolvido ou um alto grau de incerteza e tensão no am-biente. O líder carismático articula metas ideológicas e se sacrifica para persegui-las (BATEMAN & SNELL, 2007, p. 410).
Podemos tomar como exemplo de líder carismático Martin Luther King e a sua vi-são de um mundo melhor. Em defesa dessa visão, a qual ele chamava de “sonho”, Lu-ther King organizou e liderou um grande movimento em defesa de direitos civis iguais para todos, com a adesão de muitos seguidores (YOUTH FOR HUMAN RIGHTS, 2013).
Entre as características de um líder carismático, destaca-se sua capacidade orató-ria e eloquência, que são de grande ajuda na divulgação da visão e motivação dos seguidores (BATEMAN & SNELL, 2007, p. 410).
2.6.3.2. Liderança transformacional
Líderes transformacionais se assemelham aos líderes carismáticos, pois sabem ge-rar entusiasmo de diversas formas e em diferentes indivíduos e situações. A diferença é que possuem uma habilidade especial para introduzir inovação e mudança nas or-ganizações, modificam a maneira de seus seguidores verem as coisas, ajudando-os a pensar nos velhos problemas de uma nova forma; e são capazes de inspirar as pessoas a dar o máximo de si na busca dos objetivos do grupo (ROBBINS, 2002. p. 319).
Este tipo de liderança, além de resultar em maior produtividade, está correla-cionado com índices de menor rotatividade e de maior satisfação dos funcionários. Assim, através da liderança transformadora, a visão não é apenas comunicada, mas transformada em um “sonho compartilhado”, através do qual as pessoas se sentem estimuladas ao desenvolvimento da excelência em suas ações, há entusiasmo e satisfação na aplicação dos esforços para atingir os objetivos (SCHERMERHORN, 1996. p. 232).
Uma característica intrínseca desse estilo é a autenticidade, já que a liderança transformacional pode ser definida como a busca por um estilo próprio de liderança, onde o líder segue a filosofia grega que reza “seja fiel a si próprio”, mas ao mesmo tempo preocupa-se com interesse coletivo, estando disposto a sacrificar seus pró-
76 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p 68-81, 2013 A importância da liderança da empresa moderna
prios interesses pelos outros. Em sua própria liderança, o líder luta pela autenticida-de na forma de honestidade, sinceridade, confiabilidade, integridade e credibilidade (BATEMAN & SNELL, 2007, p. 412).
2.7 O cenário atual e as organizações
2.7.1 Necessidade de adaptação e mudanças
Atualmente os gerentes precisam conseguir mobilizar as pessoas para que contri-buam com suas ideias, usem seu cérebro para tarefas jamais solicitadas ou sonhadas no passado (BATEMAN E SNELL, 2007, p.17).
Todas as pessoas têm preocupação com o que poderá ocorrer no futuro, princi-palmente se tiverem sob sua responsabilidade a administração de uma empresa, seja na posição de proprietário, seja na de funcionário (CAVALCANTI et al., 2007, p.143).
Neste contexto, gerenciar inclui construir estruturas organizacionais, mas as pes-soas não farão um trabalho somente porque estão organizadas. O líder estimula o alinhamento entre indivíduos e a empresa, usará a motivação e a organização para motivá-las, visando o cumprimento do trabalho. As pessoas dentro de uma organiza-ção precisam saber o que esperar e o que se espera delas.
Devem ter conhecimento a respeito das expectativas boas e más, relacionadas ao seu trabalho, como seu desempenho será medido e reconhecido e o quanto a sua atuação é importante dentro da empresa (DAVIDSON, 2003, p.147-151).
Ensinar as pessoas o que lhe é esperado, também é um bom negócio, de modo que estas devem ser mantidas em educação constante. Esta permite que eles ado-tem o tipo de conduta adequado ao trabalho. Porém, para que os benefícios desta educação perdurem, faz-se necessário que ela seja contínua, pois deve ser atualizada na mesma proporção em que o mercado de atuação da empresa evolui.
Quando os líderes transmitem às pessoas princípios através da própria conduta, também as estimula a um bom desempenho (DAVIDSON, 200, p. 287-89).
2.7.2 Liderando equipes
A capacidade de influenciar, persuadir e motivar pessoas está muito ligada ao poder que se percebe no líder (CHIAVENATO, 1999, p.556).
Pessoas são diferentes entre si, por isso não há um modo único nem uma melhor for-ma de liderar pessoas. Como dito anteriormente, liderança é a capacidade de influenciar pessoas e o conceito de influência está ligado ao conceito de poder e autoridade.
As pessoas precisam ser atraídas e motivadas pela empresa, do contrário não “ves-tirão a camisa”. Conciliar aspirações pessoais com os objetivos da empresa faz com que os colaboradores coloquem os interesses dela como se fossem seus. Neste sentido de-
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 68-81, 2013 | 77GOMES, M. A.; SILVA, J. H.
ve-se observar que a exposição nítida da visão e dos valores da organização, dirá as pessoas se aquele ambiente de trabalho é compatível com suas aspirações (DAVIDSON, 2003, p.303). E, quanto mais convencidos os colaboradores estiverem de que as ordens ou instruções são válidas, mais esforços, comprometimento e atenção serão aplicados à execução destas ordens, resultando em melhor desempenho da equipe.
Segundo Bateman & Snell (2007, p. 20), os melhores gerentes colocam a “mão na massa”, também fazem o trabalho duro. Quando o gestor não é um bom líder, há dificuldade em se obter bons seguidores. Pessoas tendem a respeitar um líder que participa do trabalho como um todo, que sai e executa as coisas como meio de en-tender como funcionam.
2.8 Cases de sucesso
Líderes inspiram os seus subordinados, criando uma visão de como as coisas podem fazer as coisas de uma forma melhor. A seguir, veremos alguns cases de sucesso da atuação da liderança nas organizações.
2.8.1 O case GE
Um exemplo de liderança a ser comentado é o de Jack Welch e sua atuação na General Electric (GE). No livro “Jack Welch and the GE Way”, Roberto Slater relata que embora a GE fosse uma empresa promissora. Jack Welch, quando passou a fazer parte dela, entendeu que precisava melhorá-la e rápido, pois havia previsão de alta na inflação e aumento da competição devido à entrada de empresas ja-ponesas no mercado mundial.
Na visão de Welch, era necessário se fazer mudanças para que a GE pudesse acompanhar a evolução do cenário. O ponto principal da sua visão era tornar a em-presa a número um em qualquer negócio a que se dedicasse. Seguindo essa visão, ele demoliu barreiras internas e implementou programas que ampliaram o alcance da corporação, tendo muitas vezes que tomar medidas duras.
Segundo Slater (2013), o próprio Welch disse que não conseguiria nada sem o su-porte e o comprometimento de uma equipe competente. Defendendo a ideia de que o mundo está cada vez mais competitivo e que nenhum trabalho é pra vida toda, difun-diu a sua visão à todos os níveis hierárquicos, objetivando que todos os funcionários estivessem aptos a identificar e se comprometer com as metas da empresa.
Ao demolir barreiras, promoveu a comunicação e deu a todos os funcionários maior voz dentro da empresa. Com isto estimulou a confiança e funcionários con-fiantes abraçam melhor as mudanças, pois enxergam nestas uma oportunidade. Welch defende, ainda, que um líder precisa entender de diversas situações, incluin-
78 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p 68-81, 2013 A importância da liderança da empresa moderna
do produtos e pessoas. Esse pensamento garantiu o respeito e apoio de todos, tanto da sua equipe de executivos, como das equipes mais distantes em níveis hierárquicos.
Assim, sob sua atuação a GE tornou-se a empresa mais competitiva do mundo e a mais admirada nos Estados unidos, mantendo-se ágil e lucrativa, apesar do seu tamanho gigantesco. Jack Welch foi Diretor Executivo da GE durante 20 anos, sendo o principal responsável por elevar o valor da empresa de US$ 13 bilhões para mais de US$ 400 bilhões (SLATER, 2013).
2.8.2 Case Cledorvino Belini - Fiat do Brasil
Cledorvino Belini é um paulistano que vem inspirando funcionários da Fiat no Brasil e até mesmo no exterior desde 2004, e também, especialistas como Betânia Tanure e Roberto Patrus que, até, escreverem o livro “A Virada Estratégica da Fiat no Brasil”, onde Belini é o personagem principal.
Em entrevista à revista HSM Management, em 2013, Belini (2013) fala da sua pró-pria atuação e explica como fez para equilibrar fatores de liderança em custo, em produto e em relacionamento e transformar a cultura de liderança de mercado da Fiat em uma liderança de resultados. Ele enfatiza que essa uma mudança inclui uma série de transformações, que envolvem desde o porteiro até o presidente, onde cada um precisa se colocar no lugar da empresa. Ele explica como conseguiu mobilizar toda a organização, utilizando todas as ferramentas que dispunha, primeiro para se fazer entender em todos os ângulos; pois utilizava recursos como metáforas e mes-mo desenhos para expor sua visão aos demais funcionários, e em seguida para obter rapidez nas formas de comunicar-se. O “torpedo” através do celular é uma espécie de marca sua. Em consequência da sua franca abertura na comunicação, as pessoas dentro da organização, passaram a se sentir de fato pertencendo a esta e isso contri-buiu para com o seu envolvimento na implantação da nova filosofia.
Além de comunicar-se com todos os níveis organizacionais, Belini, também conta que costuma exigir dessas pessoas como forma de fazer com elas se envolvam. Cos-tuma ouvir os funcionários e isso atua como um exemplo em cascata. Esses funcioná-rios também atuam como um canal de captação de informações dentro da empresa. Conversa com todos os gerentes e cobra ele mesmo solução dos problemas encon-trados. Salienta que as divergências fazem parte do desenvolvimento das equipes, pois as pessoas têm personalidades diferentes.
Fora da organização, ele também conversa com motoristas de táxi, e recorre á prati-ca do cliente oculto tanto em concessionárias da Fiat, como nas da concorrência, como forma de obter informações sobre veículos, ampliando seus canais de informação.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 68-81, 2013 | 79GOMES, M. A.; SILVA, J. H.
Ainda, segundo Belini (2013), para manter a competitividade a empresa deve en-xergar o conjunto de oportunidades, montar em cima e sair na frente, seja em relação ao produto, tecnologia ou marketing, ou seja, deve dar atenção especial a inovação. E essa inovação deve levar em conta não apenas as condições vigentes, mas também as previsões para o futuro.
Além de tudo, Belini (2013) defende a transformação pessoal como forma de transformar a empresa. Para ele se os indivíduos estiverem em um processo de evo-lução contínua, este provoca transformações dentro da empresa de forma espon-tânea. Nos processos de transformação que ocorreram, não foram só os cargos que mudaram, foram as mentalidades. E ele mesmo segue se transformando, através da participação no MEI (Mobilização de Empresários pela Inovação), e segundo ele, também através das muitas ideias que chegam pela plataforma de comunicação da empresa.
Esse é o perfil do homem que é visto como um dos líderes mais transformadores em uma indústria que já é definida como inovadora. A empresa vinha perdendo mer-cado, porém desde a atuação de Cledorvino Belini no país, entrou em um período de crescimento. O melhor desempenho seja em resultado, seja em inovação na empre-sa, a nível global, é associado a filial no Brasil. A empresa teve bom desempenho em geral, mas na América Latina, sob a liderança de Belini sobressaiu, e apenas em 2012 o crescimento foi de 10% em relação a 2011 e a participação de mercado alcançou 23%. Prova do êxito e da eficiência da liderança (BELINI, 2013).
3 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi realizada uma revisão bi-bliográfica sobre o tema.
Para Severino (2007), revisão, ou pesquisa, bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro de disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc.
Sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o mesmo na análi-se de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Portanto, ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica (MARCONI & LAKATOS,1992). Assim, para este trabalho, foram consultadas várias literaturas rela-tivas ao assunto em estudo, como livros e artigos científicos publicados na internet .
Utilizou, também, o estudo de dois cases de sucesso. De acordo com Almeida (1996), o estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determi-nada organização, a fim de estudar aspectos de acordo com o assunto da pesquisa.
80 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p 68-81, 2013 A importância da liderança da empresa moderna
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fatores citados neste trabalho apontam a liderança como um fator indispensá-vel ao sucesso de uma empresa. É através do líder e sua atuação, que os esforços dos funcionários e os objetivos organizacionais são alinhados num mesmo sentido e ritmo. É como uma orquestra, onde embora cada integrante tenha uma habilidade diferente, quando regida por um maestro qualificado, consegue produzir um resultado harmo-nioso e diferenciado.
Embora andem de mãos dadas, gestão e liderança são coisas diferentes e não de-vem ser confundidas. Gestão está mais ligada à administração de recursos e obtenção de resultados, enquanto a liderança visa influenciar a todos dentro de uma organiza-ção, a mobilizarem seus esforços numa mesma direção.
É o líder que não apenas cria como também dissemina a visão, que é mais que uma expectativa. Ela expressa as ambições do líder e é uma imagem mental, de um estado futuro possível e desejável para a organização. Em concordância com Bateman & Snell, (2007, p. 395) é a visão que define a direção, dá o norte.
O líder deve orientar os subordinados e alinhar seus objetivos com os da empresa. Embora existam algumas teorias sobre liderança, não há uma forma de liderar que pos-sa ser definida como sendo a melhor. O tipo de empresa, o objetivo e principalmente a situação é que definem o estilo mais adequado de liderança a ser exercido, como nos diz Robbins, (2002. p. 305). Cabe ao gestor e empresa, identificar o tipo de liderança mais indicado ao seu contexto situacional.
A liderança é exercida de formas diferentes, porém o líder deve ser alguém respei-tado e admirado por seus seguidores, já que estes devem seguir seu exemplo e ideias. Também deve ser alguém disposto a promover as mudanças necessárias ao bom de-sempenho da equipe e que resultem em melhor eficiência organizacional.
Independentemente da empresa em que atua, o líder é inovador e um agente de mudanças organizacionais e comportamentais. Possui pensamento estratégico, po-rém, embora seja comprometido com resultados, também se preocupa com seus su-bordinados, desenvolvendo uma relação de respeito, confiança e parceria.
O líder compartilha a informação e está atento a fazer-se entender. É um negocia-dor aberto ao diálogo, que não apenas levanta diagnósticos de situações e impõe so-luções, mas também aceita ideias e sugestões, possibilitando melhores soluções para problemas que surjam e aumentando a integração de toda a equipe.
O mundo evolui, e com ele evoluem também as empresas. Porém uma adequada atuação da liderança permanece uma constante. Assim como um navio precisa da cor-reta atuação do seu capitão para chegar ao destino desejado, toda e qualquer empre-sa, depende também, da atuação de seus líderes, para atingir seus objetivos. Essa é a maior importância da liderança para a empresa moderna.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 68-81, 2013 | 81GOMES, M. A.; SILVA, J. H.
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, M. L. P. Tipos de pesquisa. In:_______. Como elaborar monografias (4a ed.). Bélem: CEJUP. 1996, cap. 4, 101-110p.
BATEMAN, T. S.; SNELL, S. A. Administração: liderança e colaboração no mundo competitivo (1a ed.). São Paulo: McGraw-Hill, 2007.
BELINI, C. Líder transformador: de carne e osso. Revista HSM Management. São Paulo: HSM do Brasil. N. 97, v.2, p.18-25. Março-Abril. 2013.
CAVALCANTI, M. (Org). Gestão estratégica de negócios: evolução, cenários, diagnóstico e ação. (2a ed.). São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2007.
CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. (2a ed.). Rio de Janeiro: Campus, 1999.
DAFT, R. L. Administração. São Paulo: Thomson Learnin, 2007.
DAVIDSON, H. Compromisso total: como fazer visão e valores realmente funcionarem. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
LI, C. Abra as portas. São Paulo. HSM do Brasil. N.12, v.1, p. 8-20. Janeiro. 2013.
_______. Liderança aberta: como as mídias sociais transformam o modo de liderarmos. São Paulo: Évora, 2012.
MACÊDO, I. I. Aspectos comportamentais: da gestão de pessoas. Rio de Janeiro: FGV, 2003.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1992.
O’DONNELL, K. Valores humanos no trabalho: da parede a prática. São Paulo: Gente, 2006.
ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
RODRIGUES, E. Conseguindo resultados através de pessoas: o grande segredo do gestor bem sucedido. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2005.
SCHERMERHORN, J. R. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
SERRA, F. Os quatro pilares da estratégia. São Paulo: HSM do Brasil. n.86, v. 3, p. 28-36. mai-jun, 2011.
SLATER, R. Jack Welch and the GE Way. Resenha de FAGUNDES, E. M. Disponível em: < http://www.efagundes.com/resenhas/Resenhas_pdf/Jack_Welch_GE_way.PDF >. Acesso em: 31 mar. 2013.
TANURE, B.; PATRUS, R. A virada estratégica da fiat no brasil: liderança de mercado e liderança de resultados. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2012.
YOUTH FOR HUMAN RIGHTS. Defensores dos direitos humanos. Disponível em < http://br.youthforhumanrights.org/voices-for-human-rights/champions/martin-luther-king-jr.html >. Acesso em: 05 mai. 2013.
82 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
OS IMPACTOS COMPORTAMENTAIS DA EMPRESA JÚNIORBEHAVIORAL IMPACTS OF JUNIOR COMPANY
Lucas Zambuzi Sanches1 Paulo Roberto Benegas de Morais2
Resumo
Com o aumento do número de egressos no ensino superior, principalmente nos cursos de administração, faz-se necessário compreender como o uso de metodologias práticas como a Empresa Júnior que pode produzir não apenas a fixação de conhecimentos teóricos, mas o ensinamento do comportamento empreendedor. Dessa forma, o presente estudo busca compreender a modificação comportamental dos alunos que participaram de um programa não diretivo de Empresa Júnior durante o curso de graduação, de modo que se pode con-cluir que a participação neste programa produz o autoconhecimento e a pré-disposição ao empreendedorismo.
Palavras-Chave: Educação. Empreendedorismo. Empresa júnior.
Abstract
With the increasing number of graduates in higher education, especially in business schools, it is necessary to understand how the use of practical methodologies such as Junior Company can produce not only the setting of theoretical knowledge, but the teaching of entrepreneurial behavior. Thus, this study seeks to understand the behavioral modification of the students who participated in a non-directive program of the junior company in the graduation, so that it can be concluded that participation in this program produces the self-knowledge and pre-disposition to entrepreneurship.
Keywords: Education. Entrepreneurship. Junior company.
1 Especializando em Psicopedagogia Institucional pela Fundação Hermínio Ometto; Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e Artes de Limeira - FAAL. Profissional para Assuntos Administrativos da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. e-mail: [email protected].
2 Prof. do Curso de Administração da FAAL. e-mail: [email protected].
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 83SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
1 INTRODUÇÃO
Segundo os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de matriculados nos cursos de formação superior cresceu 109% no comparativo entre 2001 e 2010, passando a ter 2.182.229 inscritos no ano de 2010, sendo o destaque para os cursos de “Ciências sociais, negó-cios e direito” correspondente a 41,5% das opções de matrícula (INEP, 2011).
Contudo, conforme apresenta Santos, Nogueira e Fajardo (2011), o curso de Admi-nistração tem ganho espaço significativo nas instituições de ensino desde 2008, pas-sando hoje a ser o curso com maior procura ocupando o primeiro lugar no ranking dos cursos presenciais (18,5% das inscrições nacionais) e segundo lugar nos cursos a distância (27,3%).
Tal crescimento vitaliza as palavras de Chiavenato (2000) ao analisar a história da administração e seu desenvolvimento, pois:
[...] no decorrer da história da humanidade, a administração se desenvolveu com uma lentidão impressionante. Somente a partir do século XX é que ela surgiu e apresentou um desenvolvimento de notável pujança e inovação [...] Apesar de o trabalho sempre ter existido na história da humanidade, a história das organizações e de sua administração é um capítulo que teve seu inicio há pouco tempo (CHIAVENATO, 2000).
Este crescimento consonante ao desenvolvimento econômico e social demonstra que o administrador tem se tornado um profissional desejado pelas organizações, porém a massificação deste ramo do conhecimento acarreta, direta ou indiretamen-te, no problema da alta competitividade, de modo que as instituições de ensino pre-cisam buscar novas abordagens metodológicas que sejam capazes de formar com-petências significativas e duradouras.
Dessa forma, o presente estudo não busca analisar a metodologia de ensino, mas qual o impacto que uma metodologia praxista e não diretiva de ensino gera nos gra-duandos de administração no aspecto da autopercepção.
1.1 Problemática
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), ao estabelecer as diretrizes do curso de Bacharel em Administração, é fundamental que as práticas de ensino sejam capazes de desenvolver competências e habilidades, tais como:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente [...] II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional [...] III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção [...] IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico [...] V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, [...] VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o
84 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional [...] VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração [...]. (MEC, 2012)
É com esta elevada demanda de desenvolvimento de habilidades e competências que surgem as empresas juniores como uma ferramenta educacional onde permite que os alunos coloquem em prática o conteúdo teórico aprendido.
Originária de um movimento francês em 1967, as empresas juniores já assumiram papel significativo na sua incorporação ao mundo acadêmico, passando a ter hoje cerca de 170 empresas no território nacional, conforme apresenta a Confederação Brasileira de Empresas Júnior (BRASIL JUNIOR, 2012a).
Sendo um mecanismo recente de desenvolvimento educacional e definida como “um grande laboratório prático do conhecimento técnico e em gestão em-presarial” (BRASIL JUNIOR, 2012b), o uso da Empresa Júnior leva ao questiona-mento de como este mecanismo é capaz de gerar competências, principalmente à iniciativa e a proatividade.
1.2 Justificativa
De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ao abordar sobre a educação para o desenvolvimento humano, a educação é:
a única forma de ação que pode transformar potenciais em competências para a vida. Nesta perspectiva, agir para as novas gerações é criar conceitos e práticas educacionais que possam gerar competências para as pessoas transformarem a elas mesmas e suas realidades através do pleno desenvolvimento de seu potencial (UNESCO, 2005).
Dessa forma, pode-se afirmar que a educação deve gerar mais do que conheci-mento técnico e especializado, antes deve ser capaz de gerar competências compor-tamentais capazes de transformar realidades.
Sob esta perspectiva, o presente estudo busca analisar como o uso da Empresa Júnior, como mecanismo educacional, colabora para o desenvolvimento da proativi-dade através do método não diretivo e praxista de ensino.
1.3 Hipóteses
Considerando o aspecto fundamental que a educação tem na formação profissio-nalizante e nos aspectos comportamentais, o presente estudo pressupõe a seguintes hipóteses: a) A participação em um projeto de Empresa Júnior afeta o autoconhe-cimento sobre a iniciativa e a proatividade; b) O uso da não diretividade no ensino praxista funciona como estímulo à reação proativa.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 85SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo Geral
Analisar como a participação em um projeto de Empresa Júnior afeta a proativi-dade e a iniciativa dos estudantes do curso de Administração de Empresas.
1.4.2 Objetivos Específicos
Objetivando analisar a iniciativa e proatividade através do autoconhecimento, este estudo irá:
• Analisar o conceito bibliográfico de competências;• Definir a iniciativa e suas ramificações;• Verificar a percepção dos alunos quanto à iniciativa;• Comparar a iniciativa de aluno ingressos e egresso à Empresa Júnior.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Competências
Com a estruturação de Teoria Burocrática, na década de 1940, o conceito de me-ritocracia consolidou-se como única forma de gerar a promoção e o reconhecimento dos participantes de uma organização (CHIAVENATO, 2000; MAXIMIANO, 2006), de modo que o conceito de competência ganha nova perspectiva e importância para o comportamento humano.
Dessa forma, não há como compreender o impacto da Empresa Júnior sobre as competências, sem que seja definido o conceito de competências através da análise bibliográfica.
Para o dicionário Ferreira (2005), competência pode ser definida como a “capacida-de legal, que um funcionário ou um tribunal tem, de apreciar ou julgar um pleito ou questão. Faculdade para apreciar e resolver qualquer assunto. Aptidão, idoneidade”.
Tal definição demonstra que o conceito de competência está diretamente rela-cionado às habilidades e qualificações para execução, apreciação e julgamento de determinada questão. Para Boyatzis apud MUNCK (2011), competência pode ser de-finida como “um estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem ao indivíduo alcançar resultados diferenciados”.
Contudo, para Zarifian e Boterf apud MUNCK (2011), não basta possuir a capa-cidade de estocar conhecimentos e habilidades, antes é fundamental ser capaz de utilizá-los mediante determinado estímulo de forma específica e imediata.
Brandão (2008), por sua vez, afirma que mesmo sem um consenso claro sobre o significado de competências, é possível entender as competências profissionais como:
86 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho profissional, no âmbito de determinado contexto ou estratégia organizacional, que agregam valor a pessoas e a organizações (BRANDÃO, 2008).
Deste modo, pode-se perceber que o conceito de competência está relacionado à ideia de possuir determinadas características que quando trabalhadas tanto no âm-bito individual quanto coletivo são capazes de apresentar um resultado sinérgico de resolução de problemas.
Percebe-se dessa forma, que há múltiplas competências e que as mesmas são fundamentais para o desenvolvimento de quaisquer atividades, de modo que, há habilidades específicas conforme a demanda situacional.
Para Katz (2012), por exemplo, as habilidades são classificadas em habilidade téc-nica, humana e conceitual.
Robbins (2005), por sua vez, considera como habilidade, a capacidade que o indivíduo possui em desempenhar diversas tarefas de uma função, de forma que divide as habilidades em dois grupos de fatores: as habilidades físicas e as habi-lidades intelectuais.
De forma correlata, Mintzberg (1986) considera que há três tipos de papéis que um administrador deve possuir conforme a situação em que esteja, sendo o papel interpessoal, o papel informacional e o papel decisório.
Esta variabilidade de conceitos que englobam o conhecimento, a habilidade e as atitudes, demonstra que a competências divergem quanto à conceituação devido a sua variabilidade situacional, podendo, contudo, ser sintetizado como as características essenciais para desempenhar determinada atividade através do uso dos conhecimentos, comportamentos e habilidades de modo a alcançar um resultado sinérgico e eficaz.
2.2 Iniciativa
Segundo o Project Management Institute (PMI), quando relacionado ao trabalho, competência é definida como o conjunto de conhecimentos, atitudes, habilidades e outras características pessoais que:
• Afeta a maior parte trabalho individual;• É correlacionada com performance no trabalho;• Pode ser medida diante dos padrões aceitáveis;• Pode ser melhorada através do treinamento e desenvolvimento;• Pode ser dividida em dimensões de competências (PMI, 2002).
Dessa forma, quando relacionadas ao trabalho, as competências podem ser des-critas como consistindo de três dimensões separadas:
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 87SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
1. Conhecimento do gerenciamento de projetos: o que o indivíduo conhece e entende sobre o projeto;
2. Performance do gerenciamento de projetos: o que o indivíduo é capaz de fazer ou realizar enquanto aplica seu conhecimento de gestão de projetos;
3. Competências pessoais: como o indivíduo se comporta ao executar o proje to ou atividade, suas atitudes e traços essenciais de personalidade.
Dentre as competências pessoais, o PMI (2002), apresenta seis itens que a com-põe e afetam significativamente os resultados da gestão e participação de projetos, a saber: Realização e ação; Apoio e serviços humanos; Impacto e influência; Adminis-trativo; Cognitivo; e Eficácia pessoal.
O uso de Empresa Júnior, por sua vez, por se tratar de um mecanismo praxista de ensino, firma-se na ideia de realizar e agir com base no conhecimento e técnicas adquiridas durante o curso de administração.
Porém, há minimamente quatro elementos significativos de ação: a) orientação para realização; b) interesse pela ordem, qualidade e precisão; c) iniciativa;d) busca de informações. A iniciativa, por sua vez, ganha destaque dentre estes elementos por ser uma
competência a qual as Instituições de Ensino Superior precisam ser capazes de de-senvolver uma vez que a construção do conhecimento proativo afeta diretamente as estratégias das mais diversas organizações.
Gava (2009), em sua análise bibliográfica sobre as diversas teorias e abordagens sobre a relação entre a proatividade e a organização tabulou os principais autores e seus conceitos (Quadro 1) de forma que se torna notável como o comportamento proativo afeta não apenas as organizações, mas também o ambiente socioeconômi-co uma vez que opera no ambiente interno e externo da organização.
Dessa forma, o comportamento proativo, isto é, a competência da iniciativa, não pode ser vista como uma característica única e isolada, mas como um conjunto de fatores que operam na transformação de um estímulo em uma resposta ao ambiente que o cerca.
Assim, o PMI (2002), define iniciativa como sendo:a preferência para agir. É fazer mais do que é necessário ou esperado no trabalho, fazendo coisas que ninguém tenha solicitado que irão melhorar ou aumentar os resultados do projeto e evitar problemas, ou encontrar ou criar novas oportunidades (PMI, 2002).
88 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
Quadro 1 – Abordagens sobre proatividade na literaturaESTUDO ABORDAGEM SOBRE A PROATIVIDADE
Miller e Friesen (1978)Ação da organização no sentido de modelar o ambiente por meio da introdução de novos produtos, tecnologias ou técnicas administrativas em seu contexto.
Miles e Snow (1978)Postura estratégica voltada à criação da mudança e de novas oportunidades no ambiente competitivo
Venkatraman (1989)Busca constante por novas oportunidades de negócio e a introdução de novos produtos e marcas que coloquem a empresa para além da competição vigente.
Morgan (1992)Posicionamento no sentido de criarem-se oportunidades e novas demandas, possibilitando a identificação de mudanças latentes e oportunidades a elas relacionadas, numa atitude de antecipação.
Hamel e Prahalad (1994)
Atitude de reinvenção dos espaços competitivos existentes e até mesmo de criação de espaços totalmente novos. Visão que transcende as regras do mercado atendido, procurando antecipar demandas latentes.
Lumpkin e Dess (1996)Habilidade de antecipação e ação premeditada sobre o futuro. Tomada de iniciativa no sentido de modelar o ambiente, buscando aí influenciar ou mesmo criar a demanda.
Aragon-Correa (1998)Tendência e postura da organização em iniciar a mudança, ao invés de somente reagir aos eventos que lhe são apresentados.
Johannessen, Olaisen e Olsen (1999)
Habilidade da organização em criar oportunidades ou antecipar-se às oportunidades e ameaças antes que essas efetivamente se façam sentir.
D’Aveni (1999)Ação voltada a mudar as “regras do jogo” no cenário competitivo, indo além da simples adaptação ao contexto em vigor.
Kim e Mauborgne (1999)
Criação de novos espaços competitivos ainda não dominados pela concorrência.
Harper (2000)Habilidade de “sentir” de forma antecipada os primeiros sinais de mudança no ambiente, e também de criar a mudança de forma intencional.
Johnson et al. (2003)Posicionamento estratégico voltado à antecipação e criação de novas realidades, com o intuito de surpreender os concorrentes de forma inusitada, instalando a partir daí novas regras no espaço competitivo.
Markides (2008)Postura voltada a mudar as regras do jogo de mercado pela construção de novos modelos de negócio.
Fonte: Gava (2009).
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 89SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
Podendo, ser ramificado em quatro subelementos, como se pode observar na Quadro 2.
Quadro 2 – Ramos da iniciativa
ELEMENTO CRITÉRIO DE PERFORMANCE
Tomar iniciativa – quando necessário
1. Mostrar persistência em ações próprias — não desistir facilmente quando as coisas não vão bem. Tomar a ação direta para resolver problemas.
2. Abordam as oportunidades atuais ou problemas por meio de ações positivas para aproveitar as oportunidades e resolver os problemas atuais.
3. Agir rapidamente e decisivamente em uma crise quando a norma diz para aguardar, “estudar” e esperar que o problema se resolva sozinho.
Tomar a responsabilidade e entregar projetos
1. Trabalhar independentemente e completar suas atribuições sem supervisão.
2. Assumir a responsabilidade pelo resultado do projeto.
Procurar novas oportunidades
1. Procura por oportunidade para agregar valor para o cliente e para a própria organização.
2. Aproveita as oportunidades quando elas surgem.
3. Consolida oportunidade o a passa para a organização.
Lutar pelas melhores práticas
1. Melhora o próprio conhecimento e aplicação de ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos.
2. Compartilha as lições aprendidas, as melhores práticas, etc., com os envolvidos no projeto.
Fonte: Adaptado de PMI (2002).
Observa-se, dessa forma, que o comportamento proativo é firmado na capacida-de que o individuo possui de assumir riscos e lutar pelo desenvolvimento das melho-res práticas na buscar por novas oportunidades.
2.3 Iniciativa e empreendedorismo
A British Broadcasting Company Ltd (BBC) afirma que empreender é uma habilidade, que vem do desejo do indivíduo ou da organização para: a) Tomar
90 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
riscos; b) Mostrar iniciativa e “fazer acontecer”; c) Realizar novos empreendimen-tos (BBC, 2012).
Entretanto, compreender o que é empreender, não permite compreender quais são as características do perfil empreendedor. Para Delmar (1996) e Shane, Locke e Collins (2012) o empreendedor possui como características:
• Necessidade de realização: os grandes empreendedores são caracterizados por escolher situações em que há: a) responsabilidade individual; b) tomada de ris-cos moderados em função das habilidades; c) conhecimento dos resultados de decisão; d) nova atividade instrumental; e e) antecipação de possibilidades futu-ras. Sendo que, segundo o autor esta característica não se baseia na obtenção de dinheiro, mas na satisfação pessoal através de seus diversos motivadores3.
• Local de controle: o empreendedor toma para si o controle da sua realização, considerando como fundamental para sua realização o controle interno (com-portamentos e características pessoais), de forma que não baseia suas decisões na sorte ou em fatores externos.
• Elevado otimismo: os empreendedores são capazes de diferenciar entre risco pessoal e risco geral, isto é, o empreendedor compreende quais riscos depen-dem de suas ações e comportamentos e trabalha de forma a minimizar estes riscos.
• Propensão à tomada de riscos: os empreendedores são mais preparados para tolerar a ambiguidade, de forma que ao invés de estressar-se ou abater-se com situações complexas, o empreendedores consideram essas situações desejáveis e desafiadoras.
• Desejo de autonomia: o empreendedor pode desejar a autonomia de duas for-mas mínimas: a) desenvolvendo seu próprio negócio; b) desenvolvendo seu projeto dentro de algum negócio. Esta dualidade conceitual demonstra que o empreendedor não necessariamente firma-se em um empresário ou gerente de dado estabelecimento.
Conforme Delmar (1996), este comportamento proativista do empreendedor fir-ma-se em sua capacidade de trabalhar com a ambiguidade situacional ao aceitar a incerteza, administrar os riscos e responder as situações adversas.
Com base no perfil empreendedor apresentado, pode-se inferir claramente que todo empreendedor é proativo, uma vez que ele toma para si a responsabilidade de idealiza-ção e execução das atividades com o objetivo de obter os melhores resultados.
3 Delmar (1996) define que há cinco fatores motivacionais que determinam esta necessidade de realização, sendo eles as possibilidades de: a) autorrealização; b) tomada de risco; c) feedback dos resultados; d) inovação pessoal; e, e) planejamento para o futuro.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 91SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
2.4 Empresa Júnior e a não diretividade
A Empresa Júnior firma-se em uma metodologia praxista de ensino onde os estu-dantes, com orientações de seus professores, realizam diversas atividades e rotinas da gestão de empresas aplicando, dessa forma, o conhecimento adquirido no decor-rer do curso de administração.
Entretanto, deve-se considerar a viabilidade deste mecanismo uma vez que, se-gundo Pozo (1998) a estruturação do ensino pode ocorrer tanto sob o aspecto meca-nicista quando pelo aspecto organicista, diferenciado entre si quanto ao enfoque e ao tipo de aprendizagem produzida (Quadro 3).
Quadro 3 – Diferenças entre o mecanicismo e o organicismo
ASPECTO MECANICISMO ORGANICISMO
EpistemologiaRealismoEmpirismo
ConstrutivismoRacionalismo
Enfoque Elementarismo Holismo
SujeitoReprodutivistaEstático
ProdutivoDinâmico
Origem da mudança Externa Interna
Natureza da mudança Qualitativa Qualitativa
Aprendizagem Associação Reestruturação
Fonte: Pozo (1998).
Nota-se que o modelo organicista, por trabalhar com a reestruturação de concei-tos, é capaz de mudar a forma como indivíduo percebe a realidade, uma vez que faz com que o mesmo questione os conceitos aprendidos e construa novas teorias, de modo que a mudança seja primeiramente interiorizada para depois ser exteriorizada em ações significativas.
Lefrançois (2009) define dois tipos de memória de longo prazo, a memória explici-ta (declarativa) e a implícita (não declarativa), sendo que enquanto a primeira refere-se a fatos que podem ser expressos, a segunda trata-se de aptidões e aprendizagens que não podem ser verbalizadas. De forma que a memória explicita ramifica-se em memória semântica e episódica.
Enquanto a memória semântica trata-se dos conhecimentos adquiridos sobre o universo, suas leis e implicações, a memória episódica trata da vivência do indivíduo
92 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
em determinado tempo e espaço. A memória episódica (ou biográfica), pode facil-mente distorcer-se com o tempo, uma vez que opera no subjetivismo, contudo é fun-damental no desenvolvimento da memória conceitual, de modo que “é possível que um indivíduo saiba de coisas sem lembrar de tê-las aprendido, mas não é possível lembrar sem saber o que está sendo lembrado” (TULVING apud LEFRANÇOIS, 2009).
Dessa forma, é possível que a pessoa se lembre do conceito sem necessariamente se lembrar da experiência, mas não é possível que ela se lembre do conceito sem saber o que necessariamente está buscando, assim é fundamental no ensino voltado ao desenvolvimento não o uso de uma estrutura diretiva e mecanicista nas práticas da Empresa Júnior, mas o desenvolvimento da capacidade reflexiva.
Jolly (2012) define que o indivíduo deve refletir sobre suas ações em todos os momentos da vivência, isto é, ele deve ser capaz de refletir sobre o antes, o presente e o porvir, de modo que ele seja capaz de construir um aprendizado tanto na ação quanto sobre a ação.
Uma vez que “tais práticas, geralmente relacionadas às situações de solução de problemas, são condições para o aprendizado e aprimoramento contínuo do desem-penho” (REIS, 2010).
De modo que o processo reflexivo de aprendizado deve consistir em quatro eta-pas: a) experiência; b) reflexão; c) generalização ou teorização; e d) planejamento (JOLLY, 2012), de forma que o aprendiz será hábil a:
• Envolver-se em novas experiências sem preconceito;• Refletir sobre suas experiências de múltiplas perspectivas;• Integrar suas observações em teorias logicamente adequadas;• Utilizar essas teorias na tomada de decisão e solução de problemas.Portanto, nota-se que a não interferência direta do orientador no decorrer da Em-
presa Júnior, proporciona maior vivência de desafios e experiências, além de permitir que o estudante utilize tanto o método indutivo quanto dedutivo do conhecimento para adquirir novas aprendizagens.
3 METODOLOGIA
3.1 Definições
Para desempenhar “a tentativa de resolver problemas por meio de suposições, isto é, de hipóteses, que possam ser testadas através de observações ou experiên-cias” (GEWANDSZNAJDER, 2004), é preciso estruturar um método de trabalho que englobe todas as etapas de execução a fim de alcançar determinado objetivo.
Dessa forma, a metodologia científica trata-se do conjunto coerente de procedi-
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 93SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
mentos racionais ou práticos racionais que orientam à construção de conhecimentos válidos (NÉRICI, 1974).
Assim, ganha destaque a frase de Eliot (1952), ao dizer “no meu fim, está o meu começo”, uma vez antes de querer buscar o caminho procedimental a ser percorrido, é fundamental conhecer o local que se pretende alcançar.
Portanto, objetivando testar o impacto que a participação em uma Empresa Jú-nior de metodologia não diretiva resulta na iniciativa empreendedora, é fundamen-tal delimitar não apenas a amostra a ser analisada em seu contexto, como também o melhor método para efetuar tal validação.
3.2 Delimitação amostral
Fundada em 2001, a Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL) ini-ciou suas atividades “orientada por métodos e conceitos construtivistas de ensino, visando proporcionar formação humanística, reflexiva e crítica, para a vida pessoal e profissional” (FAAL, 2012).
Inicialmente, contando com um projeto de Empresa Júnior voltado ao curso de administração, hoje conta com núcleos de empresas juniores em todos os seus de-mais cursos, com o objetivo de promover a construção de melhores práticas profis-sionais e desenvolvimento do conhecimento científico.
No curso de Administração, os alunos são voltados às praticas empreendedoras e a busca de oportunidades, elaborando projetos como “desenvolvimento de pro-dutos e serviços, análise de viabilidade de negócios, finanças pessoais e orçamento doméstico, capacitação e consultoria aos empreendedores locais, microcrédito, in-vestimentos” (FAAL, 2012) entre outros.
Dessa forma, foram entrevistados 21 alunos ingressos e 21 alunos egressos da Empresa Júnior, com o objetivo de construir uma análise comparativa de como a participação neste processo de ensino é capaz de afetar a iniciativa empreendedora e a proatividade dos estudantes.
3.3 Método de Pesquisa
Para Moreno (2003) é fundamental que o homem seja compreendido quanto aos papéis que executa, uma vez que “o desempenho de papéis é anterior ao surgimento do eu. Os papéis não emergem do eu; é o eu quem, todavia, emerge dos papéis”.
Tal afirmação permite inferir que não é a pessoa que surge do gestor, mas o gestor é quem, todavia, surge do indivíduo que foi condicionado e preparado para o enfren-tamento de situações desafiadoras.
Dessa forma, considerando o aspecto reflexivo proposto pelo método não dire-
94 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
tivo, deve-se buscar uma abordagem metodológica de pesquisa que consiga de-monstrar a percepção que os estudantes têm quanto à iniciativa empreendedora no decorrer das fases de execução do estágio.
Para tanto, é fundamental que a percepção sobre os aspectos educacionais sejam analisadas por quatro distintas perspectivas da formação do desenvolvimento hu-mano, a saber: a) ser; b) conhecer; c) conviver; e d) fazer (Quadro 4).
Quadro 4 – As quatro competências do desenvolvimento humano
Competência Aprender a Definição
Pessoal SerAprender a ser é conhecer a si mesmo e, com base neste conhecimento, criar uma identidade única, singular e um projeto de vida com base neste fundamento.
Cognitiva Conhecer
Aprender a conhecer é aprender a ir ao mundo como uma pessoa, cidadão e futuro profissional, sabendo tudo o que há para saber sobre o aprender a aprender, ensinar a ensinar e saber conhecer.
Social Conviver
Aprender a conviver significa desenvolver competências para uma relação positiva com as pessoas ao seu redor (família, amigos, etc.) e seu ambiente (a comunidade, a cidade, o país, etc.).
Produtiva FazerAprender a fazer é criar e promover transformações em todas as esferas: econômica, ambiental, política e cultural. É entrar e permanecer no mercado de trabalho.
Fonte: UNESCO (2005).
Assim, é necessário o uso de ferramentas qualitativas para compreender a refle-xão dos alunos quanto à sua participação da Empresa Júnior, uma vez que as pesqui-sas qualitativas são:
aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerente aos atos, às relações e as estruturas sociais, sendo estas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas significativas (MINAYO, 1993).
Portanto, o método qualitativo permite a incorporação de sentido e ação à res-posta inferida, de modo a maximizar o potencial reflexivo dos alunos. Entretanto, embasar a compreensão unicamente em respostas abertas não permite mensurar o impacto que tal processo resulta de forma que se torna essencial o uso do mul-timétodo, isto é, um método em que esteja “aliando o qualitativo ao quantitativo” (FREITAS et al., 2000).
Tal abordagem de multimétodos é defendida pela pesquisa psicossocial uma vez que o uso de mecanismos de mensuração sociométricos permite a quebra da dico-
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 95SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
tomia de “quantitativo” versus “qualitativo”, tal como afirma Moreno (1974) “o ‘quali-tativo’ está contido no ‘quantitativo’; não é destruído ou esquecido, mas, sempre que possível tratado como uma unidade”.
Deste modo, se por um lado faz-se necessário abordar a percepção dos estudantes quanto aos aspectos conceituais de forma qualitativa, por outro é fundamental mensu-rar sua percepção de forma a quantificar o impacto resultante da participação do projeto.
Para tanto foram adotadas como ferramentas de medição da percepção como a esca-la de diferencial semântico de Osgood e a escala de Likert, as quais permitem compreen-der respectivamente o nível de relação entre indivíduo e objeto de estudo, e a percepção quanto ao objeto e seu grau de aceitação do mesmo (BRANDALISE, 2005).
Dessa forma, foram desenvolvidas vinte e cinco questões que englobam cinco aspectos do estudante: a) aspecto demográfico; b) aspecto pessoal; c) aspecto cog-nitivo; d) aspecto social; e, e) aspecto produtivo. Dentre as questões foram conside-rados tanto questões de compreensão semântica quanto de autopercepção, sendo as mesmas relacionadas intrinsecamente à dicotomia empreendedor e proatividade.
3.4 Análise Amostral
3.4.1 Aspecto Demográfico
Não há como compreender o aspecto comportamental de diferentes grupos sem an-tes compreender as diferenças antecessoras e ambientais que os compõe, dessa forma, o aspecto demográfico tratado consiste em compreender o perfil dos estudantes quanto à idade, gênero, naturalidade/residência, remuneração e setor de atividade além da forma de pagamento da mensalidade da Instituição de Ensino Superior.
Nota-se que apesar dos ingressos à Empresa Júnior serem de turmas signifi-cativamente mais recentes que os egressos, os alunos de ambos os grupos pos-suem idade média de 24 anos, sendo que o grupo egresso é mais equilibrado entre homens (48%) e mulheres (52%), enquanto os ingressos consistem em uma classe tipicamente feminina (76%).
Observa-se também que enquanto os alunos ingressos são em sua maioria natu-ral de um município diferente à sede da Instituição (62%), os egressos são os que pos-suem mais alunos residentes de outras cidades da região (23%), sendo que enquanto a maioria dos estudantes ingressos são pagante integral da mensalidade (52%) os egressos são tipicamente bolsistas (65%).
Quanto à inclusão no mercado de trabalho, em ambos os grupos 90% dos alunos possuem atividade remunerada, sendo que os ingressos diferentemente dos demais alunos estão massivamente inseridos no setor privado (94%), enquanto os egressos possuem relativo número de alunos no setor público (24%).
96 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
Percebe-se que os estudantes egressos diferem-se dos demais quanto aos seus aspectos sociais uma vez que a maioria depende de bolsa de estudo para sua forma-ção superior, é maior a incidência de deslocamento territorial para o estudo e possui um quarto dos seus alunos no setor público.
Tal cenário afeta significativamente em questões como aprendizagem, oportuni-dades, perspectivas e expectativas quanto ao mercado de trabalho, os referenciais de empreendedor e de competitividade, de modo que se pode dizer — a partir de uma análise unicamente social — que o grupo ingresso possui maior propensão ao empreendedorismo corporativo por advirem de uma cosmovisão tipicamente do meio privado e voltado à lucratividade.
3.4.2 Aspecto Pessoal
A compreensão do aspecto pessoal consiste em analisar a compreensão que o aluno possui de si mesmo quanto as suas escolhas, preferências e expectativas, de forma que foram analisados fatores como motivos de escolha do curso e da Institui-ção, expectativas em relação ao curso, grau de aceitação a riscos e o levantamento de um perfil direcionado.
Observa-se através da análise amostral que os estudantes se assemelham nos motivos de escolha do curso, destacando-se entre eles a “afinidade” com o mesmo e a “abrangência” da área administrativa, porém, no público feminino dos alunos egres-sos o fator “empregabilidade” aparece como segundo lugar do motivo de escolha, o que provavelmente se relaciona ao fato da maioria ser bolsista.
Os alunos ingressos possuem como expectativas do curso, além de outros moti-vos não informados, abrir o próprio negócio (29%) e aumentar o cargo na empresa (24%), de forma que suas escolhas quanto à Instituição se baseiam principalmente na metodologia (62%).
Por sua vez, os egressos objetivam entre outros o aumentarem de cargo (33%) e abrir um negócio próprio (24%), sendo que suas escolhas firmam-se em outros fato-res não declarados (43%), de forma que esta perspectiva entre a estabilidade orga-nizacional e o cenário inesperado do empreendedorismo revela-se pela aceitação a riscos, onde em uma escala de 1 a 5, 100% dos egressos responderam acima de 3 sua aceitação a riscos contra 85% dos egressos.
Nota-se, contudo, que os homens em ambos os grupos possuem maior propen-são a assumir riscos do que as mulheres, sendo a aceitação a riscos acima de 4 de 70% no egressos e 80% nos ingressos.
Observa-se, dessa forma, que a participação na Empresa Júnior afeta à propen-são a riscos do grupo estudantil, uma vez que mesmo os ingressos possuindo maior
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 97SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
propensão ao empreendedorismo, são os egressos que apresentam maior aceitação aos riscos após haverem participado de um ambiente prático acadêmico no qual enfrentaram situações desafiadoras e as resolveram a partir do aparato conceitual técnico-científico.
3.4.3 Aspecto Cognitivo
O âmbito cognitivo do modelo da UNESCO busca analisar o indivíduo quanto ao seu conhecimento sobre o mundo e os aspectos que o circunscrevem, de forma que por tratar-se de uma incubadora de futuros empreendedores, as perguntas centra-ram-se na conceituação quanto a empreendedorismo e a importância da aprendiza-gem de conteúdos teóricos frente ao método praxista.
Ao serem questionados sobre o comportamento empreendedor, ambos os gru-pos afirmaram que o empreendedorismo pode ser aprendido, sendo que maior des-taque neste quesito obtiverem os alunos egressos (86%) frente a apenas 57% de afir-mativas positivas neste sentido pelos ingressos.
O nível de compreensão sobre o empreendedor também se diferencia quando se pede para que os alunos adjetivem o empreendedor, os egressos foram capazes de apresentar uma maior gama de termos que o representassem, ganhando des-taque palavras como “autoaprendizagem”, “idealista”, “líder”, “visionário”, “criativo” e “desafiador”.
Sobre a importância do conteúdo teórico aprendido, ambos os grupos apresenta-ram 95% de escolha superior a 3, em uma escala de 1 a 5, sendo que 100% dos alunos egressos consideram as teorias mutáveis quando confrontadas com a prática frente a 86% dos ingressos.
Esta perspectiva de compreensão cognitiva demonstra que após serem subme-tidos a um ambiente de instabilidade do construto teórico, os alunos são capazes de ver o conceitual aprendido como variável e contingencial sem que para isso se perca a valorização do ensino acadêmico, demonstrando dessa forma resultados sa-tisfatórios quanto à aplicabilidade de métodos praxistas para a aprendizagem tanto profissional quanto científica.
3.4.4 Aspecto Social
Como ser sociável, o homem deve aprender a conviver com as diferenças nos mais diversos grupos e ambientes de atividades, de forma que se solicitou aos es-tudantes que respondessem questões quanto ao tipo de competências necessárias para empreender na Empresa Júnior, o perfil de trabalho em grupo e de ênfase de trabalho que cada estudante possui.
Em ambos os grupos a ordem de competências priorizadas no trabalho da Em-
98 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
presa Júnior, foram respectivamente a competência humana, a conceitual e a técni-ca, sendo que a humana representa 57% das escolhas de ambos.
Quanto à ênfase de trabalho observa-se que ambos preferem trabalhar com os resultados à com o método, sendo que os ingressos consideram que a ênfase deve ser nas tarefas (57%) enquanto os egressos optam por enfatizar as pessoas (71%). Tal comportamento alinha-se ao perfil do grupo de ingressos que se afirmam como liderados (57%) frente aos 67% de líderes nos egressos.
Deve-se notar que os homens do grupo egresso, diferentemente dos ingressos, possuem um perfil mais idealizador do que executor o que resulta no aspecto de liderança prioritário deste grupo.
Quanto aos conceitos solicitados aos alunos sobre a definição de trabalho em grupo, os egressos usaram palavras como “dedicação”, “confiança”, “objetivos”, “apoio” e “liderança”; já os egressos usaram mais adjetivos, destacando-se termos como “in-teração”, “competitividade”, ”sinergia”, “paciência”, “aceitação” e “empenho”.
A partir da competência priorizada e do fato dos egressos possuírem maior pro-pensão tanto a liderança quanto à ênfase às pessoas, pode-se observar que mesmo havendo problemas relacionais como a competitividade e a necessidade de paciên-cia e aceitação, os egressos tornaram-se capazes de compreender a gestão empre-endedora como a capacidade de influenciar pessoas aos resultados, diferentemente dos ingressantes que firmam suas escolhas na conclusão das tarefas.
3.4.5 Aspecto Produtivo
O aspecto produtivo das competências humanas refere-se à realização de ati-vidades a fim de resultar em mudanças no ambiente em que o indivíduo está inserido. Sob este prisma, foi solicitado que os alunos respondessem questões como em qual tipo de ação consiste empreender, qual a reação do aluno frente a uma situação-problema e o que os estudantes consideram imprescindível para empreender na Empresa Júnior.
Ambos os grupos consideram que empreender consiste em fazer a diferença, sen-do que 86% dos egressos usaram tal afirmativa frente a 52% dos ingressos, os quais optaram em segundo lugar por buscar melhores práticas (33%), revelando que os es-tudantes ao terminarem este processo praxista compreendem o empreendedorismo como um conceito mais amplo do que gerar negócio lucrativos.
Semelhantemente, os grupos são caracteristicamente proativos, sendo que os egressos ganham destaque neste item, 76% deles afirmam tomar a iniciativa ao se deparar com uma situação-problema frente a 62% dos ingressos, sendo que não há grandes diferenças entre homens e mulheres neste item.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 99SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
Sobre os itens que os alunos consideram importante para empreender na Empre-sa Júnior, foram igualitariamente escolhidos os itens “ter liberdade”, “construir planos de trabalho”, “possuir riscos controlados” e “escolher times”, sendo que há divergência entre os grupos no tangente às metas. Os alunos que já participaram da Empresa Júnior preferem atingir metas (71%) enquanto 57% dos ingressos optam por desen-volver as metas a serem atingidas.
Dessa forma, nota-se que a participação dos estudantes na Empresa Júnior foi capaz de modificar o comportamento proativo dos estudantes tornando-os mais as-sertivos e direcionados à ação, construíram um conceito mais amplo sobre o empre-endedor e desenvolveram o anseio pela obtenção de resultados significativos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme se observam a partir da análise amostral, os estudantes que participa-ram da Empresa Júnior foram capazes de desenvolver um autoconhecimento mais claro e amplo sobre o empreendedorismo e suas implicações, sendo que das carac-terísticas fundamentais do empreendedor como necessidade de realização, eleva-do otimismo, propensão à tomada de riscos e desejo de autonomia, os estudantes egressos apresentaram desenvolvimento significativo de tais competências.
Dessa forma, pode-se afirmar que o modelo não diretivo, por permitir que o aluno tome suas próprias decisões de ação frente aos problemas, é capaz de integralizar os aspectos teóricos ao práxismo de modo que resultam na construção de um condicio-namento sobre o procedimento de tomada de decisão, um maior autoconhecimento quanto ao estado psicológico frente às situações adversas e maior compreensão so-bre a importância da teoria no cotidiano das empresas e organizações.
Assim, uma vez validada a hipótese da funcionalidade deste método de ensino, podem ser realizadas novas pesquisas com diferentes áreas do conhecimento hu-mano, uma vez que esta pesquisa foi direcionada ao ambiente administrativo, não permitindo inferir sua continuação válida frente às áreas como marketing, recursos humanos, design, entre outros.
Nota-se também, a necessidade de construir modelos de ensino que enfatizem a construção de competências não apenas conceituais, mas também comportamen-tais uma vez que o confronto entre a teoria e a prática não resulta em uma ineficiên-cia no ensino teórico, mas no estímulo ao desenvolvimento da pesquisa e na busca de melhores práticas para a resolução de problemas.
Portanto, o uso de modelos não diretivos demonstra ser eficiente tanto no as-pecto acadêmico quanto profissional, sendo capaz de formar profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho e gestores capazes de operacionalizar o
100 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 Os impactos comportamentais da empresa júnior
desenvolvimento técnico-científico capaz de afetar positivamente o ambiente que os circunscrevem.
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BBC / British Broadcasting Company Ltd. Business studies: enterprise. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/aims/publicsectorrev1.shtml>. Acesso em: 07 out. 2012.
BOTERF, G. L. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: Artmed, 2003, 278 p.
BRANDALISE, L. T. Modelos de medição de percepção e comportamento. Toledo: Unioeste, p. 18, 2005.
BRANDÃO, H. P. BAHRY, C. P. FREITAS, I. A. Os impactos do suporte à transferência sobre a aplicação de competências no trabalho: a percepção dos mestres e doutores do Banco do Brasil, Revista de Administração, São Paulo, v.43, n. 3, p. 224-237, jul./ago./set. 2008.
BRASIL JUNIOR. Relatório censo de identidade. Disponível em: <http://www.brasiljunior.org.br>. Acesso em: 29 mar. 2012a
_______. DNA júnior. Disponível em <http://www.brasiljunior.org.br>. Acesso em: 28 mar. 2012b
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
DELMAR, F. Entrepreneurial behavior and business performance. 1996. 296 f. (Doutorado em Filosofia) – Stockholm School of Economics, Stockholm, 1996.
ELIOT, T.S. The complete poems and plays, 1909-1950. New York: Harcourt, Brace and Co., 1952.
FAAL / Faculdade de Administração e Artes de Limeira. Disponível em: <http://www.faal.com.br/
institucional/>. Acesso em: 13 out. 2012.
FERREIRA, A. B. H. Minidicionário aurélio da língua portuguesa. 6 ed. Curitiba: Positivo. 2005.
FREITAS, H.. et al. O método de pesquisa survey. Revista de Administração, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 105-112, jul./ago./set. 2000.
GAVA, R. Proatividade de mercado: construção de um modelo teórico. 2009. 347 f. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais. In: ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Thomson
Learning, 2004. 203 p.
INEP / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da educação superior: 2010 – resumo técnico. Brasília: INEP, 2011.
JOLLY, L. RADCLIFFE, D. Reflexivity and hegemony: changing engineers. Disponível em: <http://www.
ascilite.org.au/aset-archives/confs/aset-herdsa2000/procs/jolly2.html>. Acesso em: 12 out. 2012.
KATZ, R. I. As habilitações de um administrador eficiente. Disponível em: <http://www.organizaconsultoria.com.br/artigos/artigos_detalhes.asp?id=8>. Acesso em: 12 out. 2012
LEFRANÇOIS, G. R. Teorias da aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 479 p.
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital. São Paulo: Atlas, 2006. 520 p.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 82-101, 2013 | 101SANCHES, L. Z. ; MORAIS, P. R. B.
MEC / Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em administração. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces-0134.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2012.
MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo/Rio de Janeiro: Hicitec/Abrasco, 1993.
MINTZBERG, H. Trabalho do executivo: o folclore e o fato. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 102 p.
MORAIS, P. R. B. Contribuições pedagógicas para o ensino de empreendedorismo. (Monografia). 2005. 24 p. Faculdade de Administração e Artes de Limeira - FAAL, 2005.
_______. Estruturação de produtos Educacionais para a capacitação Empreendedora de Alunos da educação Básica: Um estudo de casos múltiplos. (Dissertação). 2009. 160 p. Universidade de São Paulo, 2009.
MORENO, J.L. Psicoterapia de grupo e psicodrama: introdução à teoria e a práxis. São Paulo: Mestre Jou, 1974. 367 p.
______. Psicodrama. São Paulo: Cultrix, 2003. 492 p.
MUNCK, L. et al. Modelos de gestão de competências versus processo de validação. Um ponto cego?, Revista de Administração, São Paulo, v. 46, n.2, p. 107-121, abr./mai./jun. 2011.
NÉRICI, I. G. Introdução à lógica. São Paulo: Nobel, 1974. 204 p.
POZO, J. I. Teorias cognitivas da aprendizagem. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 248 p.
PMI / Project Management Institute. Project manager competency development (PMCD) Framework. Newtown Square: Project Management Institute, 2002, 108 p.
REIS, G.G.; SILVA, L.M.T.; EBOLI, M.P. A Prática reflexiva e suas contribuições para a educação corporativa, Revista de Gestão, São Paulo, v. 17, n. 4, p. 403-419, out./nov./dez. 2010.
ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. 11 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 536 p.
SANTOS, D.; NOGUEIRA, F.; FAJARDO, V. Confira os dez cursos de graduação com maior número de alunos no país. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/01/confira-os-dez-cursos-de-graduacao-com-maior-numero-de-alunos-no-pais.html>.Acesso em: 02 set. 2012
SHANE, S.; LOCKE, E. A.; COLLINS, C. J. Entrepreneurial motivation. Disponível em: <http://numerons.files.wordpress.com/2012/04/6entrepreneurial-motivation.pdf>. Acesso em: 07 out. 2012.
UNESCO / Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Education for human development, Brasília: UNESCO, 2005, 135 p.
102 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
O ESPAÇO NA ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEATHE SPACE IN MODERN AND CONTEMPORARY ART
Beatriz Batistela Peli1 Flávia de Almeida Fábio Garboggini2
Resumo
Este estudo pretende compreender melhor as mudanças nas relações entre espaço, processo criativo, obra de arte e fruição estética. A partir de autores que discutem questões da arte moderna e contemporânea, pretende-se investigar estas relações, abordando o uso do termo site-specific, suas variações e aplicações, sendo este, atuante na obra e a obra determinante no espaço. As obras analisadas são de artistas atuantes da década de 1960 e artistas contempo-râneos brasileiros. As análises das obras possibilitam reflexões sobre variações e modificações exercidas na obra considerando o espaço, os rompimentos artísticos iniciados na década de 60, os desdobramentos do site-specífic, criações vinculadas diretamente ao espaço previamente determinado, as questões físicas geradoras de adequação das obras, o público e a determina-ção do espaço por vezes vinda do curador. Mostrar, ainda, como a relação obra e espaço não são frutos do acaso ou resultado de pura inspiração, desmistificando, em certa medida, o pro-cesso de criação, podendo, também, servir como referência para artistas, estudantes ou profes-sores de artes na elaboração de projetos que envolvam a ocupação de um determinado espaço.
Palavras-chave: Obra e espaço. Processo criativo. Fruição estética. Site-especific.
Abstract
This study aims to better understand the changes in the relationships between space, creative process, work of art and aesthetic enjoyment. From authors who discuss issues of modern and contemporary art, it is intended to also investigate these relationships by considering the use of the term site-specific, its variations and applications, this being active in the work and the work of de-termining the space. The works analyzed are artists active in the 1960s and contemporary Brazilian artists. The analyzes of the works enable reflections on variations and changes in the work perfor-med considering the space, disruptions art started in the 60s, the ramifications of the site-specific creations directly linked to the predetermined space, physical issues generating adapted works, the public and the determination of space sometimes coming healer. Show also how the relationship works, and space are not the result of chance or the result of pure inspiration, demystifying some extent, the process of creation, and may also serve as a reference for artists, students and art tea-chers to draw up projects involving the occupation of a given space.
Keywords: Work and space. Creative process. Aesthetic enjoyment. Site-specific.
1 Aluna do Curso de Artes Visuais da Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL). e-mail: [email protected].
2 Professora (Orientadora) do Curso de Artes Visuais da FAAL. e-mail: [email protected].
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 103PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
1 INTRODUÇÃO
Em constante transformação, a arte propõe discussões e análises em todos os con-textos nos quais ela se apresenta. Mudanças e rompimentos sempre foram vinculados à história da humanidade, estendendo-se para as manifestações artísticas. Uma dessas mudanças, como exemplifica Bardonnèche (1997, p.195), é o espaço onde a arte se insere.
Ao longo dos anos, a arte, que antes ocupava as igrejas e os reinados, logo, tor-na-se presente nas casas da burguesia, nas galerias. Se populariza, ganha as ruas das cidades, permeando o cotidiano das pessoas, ocupando muros, espaços abandona-dos, até unir-se à tecnologia digital, espalhando-se pelas rede.
Pensar o espaço, na arte moderna e contemporânea, não se restringe a percebê--lo simplesmente como um território físico. É necessário incorporar o seu contexto – o espaço social, cotidiano, o espaço que é histórico – e considerar o importante papel que ele assume na própria obra de arte nele inserida. Que características desse espa-ço poderão ser relevadas, atuando direta ou indiretamente sobre a obra?
Neste trabalho, apoiando-me em autores que discutem questões da arte moder-na e contemporânea, pretendo investigar estas relações, abordando o uso do termo site-specific, suas variações e aplicações, sendo este, atuante na obra e a obra deter-minante no espaço inserido.
Para ilustrar esse estudo serão analisadas obras de alguns artistas atuantes, a par-tir da década de 1960, cujos trabalhos travam um diálogo estreito com o espaço no qual estão inseridas, possibilitando reflexões sobre variações e modificações exerci-das na obra considerando o espaço, os rompimentos artísticos iniciados na década de 60, os desdobramentos do site-specífic, criações vinculadas diretamente ao espa-ço previamente determinado.
2 LUGAR, ESPAÇO FÍSICO E ESPAÇO SOCIAL
Lugar,3 espaço, não-lugar, lugares de memória, espaço comum, lugar comum, espaço social, locais de ajuntamento, espaço geométrico, espaço antropológico,
3 Definição de Lugar segundo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa s.m. (sXIII) 1 parte delimitada de um espaço; local, sítio, região <procura um l. Reservado para morar><a caravana passou por l. Inóspito> 2 local onde se está ou se deveria estar; posto, posição, ponto<de seul. Ele podia ver quem se aproximava da casa> 3 posição, posto considerado apropriado para alguém ou como lhe sendo devido <o teu l. É junto da tua família> 4 local frequentado por certa classe de pessoas; roda, ambiente <vive em l. pouco recomendáveis> 5 espaço livre <já não há l. para ninguém nesta sala> 6 disposição ou posição das coisas nos espaços que lhes são reservados <deixou o livro do l.> 7 posição relativa numa série, numa escala <chegou em último l.> <obteve o primeiro l. no concurso> 8 assento ou espaço que uma pessoa pode ocupar como passageiro, espectador etc. <reserve dois l. no teatro> <um ônibus com trinta l.> 9 direção, sentido, rumo <rodou, rodou, e enveredou por um l.errado> 10 trecho, passagem num texto ou numa partitura 11 fig. Papel, importância que tem uma coisa ou pessoa para alguém <em sua vida sempre houve l. para música> 12 fig. Condição, situação, posição <põe-te no meu l. e vê se farias melhor>.
104 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
espaço existencial, por entre tantos, a obra pode ser criada, destinada, modificada, realizada e analisada
Analisaremos lugar, nesse estudo, como o local definido e delimitado de um es-paço ao qual a obra se encontra. Já o termo espaço,4 será compreendido como a ex-tensão previamente planejada no qual a obra será instalada, ou seja o espaço físico. Por ser um termo mais abrangente, espaço, será estudado como variante fundamen-talmente relacionada à escolha, criação, modificações que ocorrem no processo de formação e finalização de uma obra em suas diversas modalidades.
O termo “espaço”, em si mesmo, é mais abstrato do que o de “lugar”, por cujo emprego referimo-nos, pelo menos, a um acontecimento (que ocorreu), a um mito (lugar-dito) ou a uma história (lugar histórico). Ele se aplica indiferentemente a uma extensão, a uma distância entre duas coisas ou dois pontos (deixa-se um “espaço” de dois metros entre cada moirão de uma cerca), ou a uma grandeza temporal (“no espaço de uma semana”) (AUGÉ, 1994, p.77).
Pesquisando a definição de espaço e autores que apresentam a discussão sobre o termo em arte, podemos descrevê-lo como algo mais amplo que uma área de-terminada. Espaço pode compreender muito mais que a dimensão física. Em arte podemos usá-lo de forma abrangente, fazendo referência a um espaço físico ou a um espaço social, espaço geométrico, espaço antropológico, espaço existencial. Isso porque a arte não só nos permite essa exploração, mas estimula múltiplas percep-ções do espaço ao inserirmos nele uma obra de arte. E que espaço poderia ser esse?
O espaço social, por exemplo, é o espaço compartilhado, ou antropológico, do cotidiano, aquele que está inserido na sociedade, socializado em um determinado meio coletivo. Tassinari (2009, p.144) comenta que “O espaço não é o espaço só de al-guém, ou o espaço só de sua visão, se, mesmo sozinho, for tomado como um espaço intersubjetivo aberto à participação dos outros.”
Marc Augé, em Não Lugares, apoia-se em Merleau-Ponty, para distinguir o espaço existencial do espaço geométrico:
4 Definição de Espaço segundo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. s.m. (sXIV) 1 extensão ideal, sem limites, que contém todas as extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis 2 extensão limitada em uma, duas ou três dimensões; área ou volume determinados <o e. era pequeno para a construção do prédio> <o e. interior era aconchegante> 3 a extensão que compreende o sistema solar, as galáxias, as estrelas; o Universo 4 região situada além da atmosfera terrestre, ou além do sistema solar <o foguete avançava no e.> 5 fig. ambito, alcance indefinido <ficou ali, desnorteado, os olhos perdidos no e.> 6 capacidade, acomodação <há e. para todos no auditório> 7 cabimento, oportunidade <não havia e. para aquele tipo de comportamento> 8 período ou intervalo de tempo <num e. de dois meses escreveu o livro> 9 demora, delonga <precisava de mais e. para desenvolver sua tese> 10 campo abrangido idealmente por determinada área dos conhecimentos e fazeres humanos <e. cultural> < e. literário> 11 EDIT o claro que constitui a separação entre as palavras de uma linha em texto impresso ou manuscrito 12 GRÁF peça em forma de anel que é encaixada entre os discos da máquina de pautar, para produzir o espaço claro entre duas linhas.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 105PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
[...] que, em sua Fenomenologia da percepção, distingue do espaço “geométrico” o “espaço antropológico” como espaço “existencial”, lugar de uma experiência de relação com o mundo de um ser essencialmente situado “em relação com um meio”. (AUGÉ, 1994, p.75-76).
A comunicação entre espaço físico, artista, obra e público ou espectador é relacio-nal e compreende todos os sentidos, a partir do momento que existe entre ambas as partes uma relação ou aproximação, seja ela dada pelo espaço social – que faz parte do trajeto diário, como o caminho para o trabalho, tempo de lazer, nas passagens, formas arquitetônicas no entorno, – ou no aspecto físico relacionando o espaço à questões proporcionais, tamanhos, perspectivas etc. Tais experiências criam entre aqueles que circundam o espaço códigos cotidianos, familiarizações, encontros e desencontros.
Outra relação que pode ser estabelecida é a emotiva – quando o espaço está dire-tamente associado às lembranças, experiências que as pessoas viveram e vivem nele e histórias ligadas à infância. Fatores como esses determinam de diferentes maneiras a interpretação e o diálogo entre público e espaço.
Como afirma Canton (2009, p.23) “Dialogar com esse espaço é também compor uma tapeçaria sonora, visual e tátil, vislumbrando a diversidade idiossincrática de seus habitantes, sua arquitetura, sua sinalização, seus códigos cotidianos.”
Quando uma obra é inserida em um espaço social, este pode ser uma galeria, mu-seu, um espaço público ou até um espaço abandonado, que já foi um local socializa-do. A artista Sonia Guggisberg,5 por exemplo, utiliza para inserir suas obras espaços abandonados e esquecidos nas cidades - visto em entrevista com a artista e autora Kátia Canton em seu livro Espaço e Lugar (p. 37), onde a artista comenta seu trabalho “Bolhas Urbanas II”.
Sua obra consiste em enormes bolhas de policloreto de vinila (PVC), contendo ar no interior e água no fundo das quatro bolhas, criando grandes volumes de transpa-rência. No ano de 2005, Sonia Guggisberg instala seu trabalho “Bollhas Urbanas II” (Fi-gura 1) em locais abandonados, ou “adoecidos” como ela nomeá-los. Ela ocupou um antigo galpão do Arquivo Histórico Municipal da cidade de São Paulo. Para a escolha desse espaço, a artista pesquisou e mapeou a cidade em busca de locais esquecidos. Ela justifica que escolhe espaços com esse perfil pois remete descaso com as pessoas, abandono e memórias esquecidas. Dessa forma, para ela, utilizar espaços como es-ses, e como reativá-los, trazê-los à lembranças daqueles que pro ali viveram. Canton,
5 Sonia Guggisberg (São Paulo-SP, 1964) é Mestre em Artes pela Unicamp e Doutoranda em Comunicação e Semiótica em 2012. Realizou mostras individuais e coletivas, a partir da década de 90. Entre 2005 e 2007 dedicou-se ao projeto “Bolhas Urbanas” de sua autoria que trata de intervenções em ruínas do patrimônio histórico na cidade de São Paulo.
106 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
em entrevista, questiona como a artista articula esses espaços urbanos em pleno século XX, relacionando os artistas dos anos 60 que buscavam uma independência na exploração dos espaços urbanos. Guggisberg responde:
Eu acredito, antes de mais nada, na liberdade do artista. Não acredito que a arte cerceada e fechada cresce. No meu trabalho, senti a necessidade de sair, de tomar o espaço público urbano, eu não sei até onde eu vou mas não sobrevivo de outra maneira. Muitos trabalhos são feitos nas instituições, mas o artista tem que ter a liberdade de atuar pelo mundo, também (GUGGISBERG, apud CANTON, 2009, p.40-41).
Figura 1 – Bolhas Urbanas II
Fonte: Guggisberg (2006).6
Quando a obra ocupa uma posição no espaço, seja ele determinado pelo artista ou curador, não se trata de uma ocupação apenas física e presencial, mas de significações, conceitos e experiências. Nessa situação o espaço transcende sua termologia, passan-do a atuar sobre a obra, como comenta Michael Archer, mencionando Merleau-Ponty:
Merleau-Ponty caracteriza a natureza recíproca do processo por meio do qual os indivíduos chegam a uma consciência do espaço e dos objetos em torno de si: “o espaço não é o cenário (real ou lógico) em que as coisas são dispostas, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível” (ARCHER, 2001, p.56).
É importante considerar, também, o público no processo de concepção e constru-ção da obra. “O público tem papel determinante, além dos aspectos físicos e fixos do espaço deve-se atualizá-lo e ativá-lo tais aspectos”, salienta Barreto (2007).
Ainda, segundo Barreto (2007, p. 52-59), entre os espaços físicos, existe o espaço de circulação que consiste na participação direta do público como atuante na obra e no espaço, definido nessa pesquisa como espaço social.
O artista Cildo Meireles,7 nomeia espaço social como circuito, em sua obra Coca--Cola (Inserções em circuitos ideológicos) o artista faz inscrições com opiniões críti-
6 Disponível em: <http://soniaguggisberg.com.br/pt/?p=380> . Acesso em: 13 out. 2012.7 Cildo Campos Meirelles (Rio de Janeiro-RJ, 1948). Artista multimídia. Utiliza intervenção política, a partir de
objetos banais principalmente em suas produções entre os anos 70 e 75.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 107PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
cas ou subversivas, como por exemplo, Yankees go home nas garrafas dessa marca de refrigerante, uma frase anti-imperialista em um produto extremamente imperialista norte-americano. Essas mensagens foram impressas em silk-screen, com tinta branca vitrificada.
Como a inscrição não aparece no vidro transparente da garrafa, tornando-se vi-sível apenas quando é colocado o líquido escuro (Coca-Cola), as garrafas retornam reabastecidas para o público. Esse tipo de trabalho utiliza a circulação do seu público como espaço de suas obras. No momento em que o artista disponibiliza sua obra para circular entre a população, ele perde o controle sobre o espaço. Obras como essa podem tomar diferentes rumos e resultados inusitados.
“Coca-Cola” é um exemplos de obra que rompe com a tradição da forma como a arte se apresentava, apenas em museus ou igrejas, e que dependem diretamente do público em um espaço social para que elas aconteçam. Canton (CANTON, 2009, p.17) descreve que “[...] hoje as expressões artísticas são exibidas dentre a arquitetura moderna de forma mais natural possível para que a arte fale por si.”
3 MINIMALISMO E LAND ART: NOVAS PERCEPÇÕES DO ESPAÇO
Entre os anos 1950 e início de 1960 em Nova York, contrapondo-se ao expressionismo abstrato e a pop art, surge o minimalismo, também conhecido como ABC Art, Minimal Art, Arte Modular entre outros nomes, rompendo as barreiras entre a pintura e a escul-tura, influenciando tendências até os dias atuais na música, na dança e na arquitetura.
Trata-se da exploração de padrões, geometrismo, uso de materiais industriais em suas formas originais, simplicidade na forma, predominância da forma quadrada, retangular e cúbica. Tais características geraram críticas por parte do público e dos críticos de arte, pois muitos não conseguiam ver arte, ou denominar a arte minima-lista como “obra”. Assim como os ready-mades de Duchamp iam contra os padrões estéticos da época, o minimalismo apresenta essa mesma renúncia.
O minimalismo trouxe uma nova interpretação ao espaço onde suas obras eram inseridas, seus “objetos” - como eram denominadas suas esculturas - relacionavam-se diretamente com o ambiente espacial, modificando a percepção do público em rela-ção ao espaço físico em aspectos como a luz, superfícies, formas e escalas, alterando assim a maneira como o espectador analisa a obra.
A partir desse período, os artistas determinaram a esse espaço considerações ao nele compor sua obra, como faz o artista Dan Flavin8 ao utilizar como matéria em seus trabalhos a luz, o espaço ocupado e os vazios existentes nos espaços.
8 Dan Flavin (Jamaica, 1933 – Riverhead, 1996) americano, artista minimalista. Trabalha com pinturas, esculturas e instalações, com destaque para suas instalações com luzes elétricas fluorescentes coloridas, atribuindo à elas um uso mais pictórico, chamando-as de ícones.
108 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
Outro exemplo, é a obra Sem título, de 1965, do artista americano Robert Morris9 (Figura 2). Nelas, além da interferência direta do espaço na aparência da obra, a pre-sença do público também exerce uma interferência efêmera na obra.
A obra é composta por quatro cubos feitos com espelhos e, analisa Archer (2001) que, quando essa escultura está inserida em uma galeria, por exemplo, possibilita ao observador uma experiência única com esse espaço, que encontra-se refletido na obras, ao caminhar por entre elas: “o próprio corpo [...] articulava o espaço com uma certa quantidade de formas retilíneas planas, quase arquiteturais” (ARCHER, 2001, p.57-58).
Figura 2 – Obras de Robert Morris, dentro da galeria e em espaço aberto
Fonte: Augé (1994).
Ao instalar os cubos espelhados no espaço aberto, o contato com a arquitetura ao redor da obra possibilita uma relação direta do espaço comum, de vivência, cotidia-no, do observador. Pelo fato dos cubos de serem espelhados, o espaço não só passa a fazer parte da obra como passa a ser a obra, devido ao seu reflexo. Nesse sentido, o espaço não altera a obra somente, mas torna-se indispensável a ela.
Como afirma Tassinari (2001, p.129) “A arquitetura não requisita apenas um as-pecto do espaço do mundo em comum, mas é antes o próprio mundo em comum edificado.”
Para Marzona o papel do observador na arte minimalista, deixa de ser contempla-tivo e passa segundo ele “a refletir sobre a significância imutável da obra, [...] a refletir sobre o processo da sua percepção, carregando-a assim com significado” (MARZONA, 2010, p.11).
9 Robert Morris (Kansas City-MO, 1931). Escultor, foi um dos principais artista do Minimalismo. Seu trabalho ao longo dos anos não seguiu apenas uma direção, ele explorou diferentes formas e matérias.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 109PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
A Land Art10 surge na sequência do movimento minimalista, também, diretamen-te ligada à exploração e à utilização de um espaço.
Espaço esse, porém, natural, às vezes em sua forma bruta, como se maculado pe-las mãos do artista, desmistificados pela necessidade humana, rompendo as barreiras entre as linguagens. São notáveis as mudanças ocorridas a partir desse movimento artísticos, devido ao tratamento que os artistas desprenderam ao propor a interação de suas obras com determinados espaço, ou aos espaços específicos – site-specific.11
[...] Tomando a ideia de Morris do “campo expandido”, Krauss argumentava que a Land Art, por exemplo, poderia ser mais bem definida em termos de um duplo negativo: ela não era nem arquitetura nem paisagem. Além disso, sugeria Krauss, outros trabalhos podiam ser mais bem colocados em uma de três outras categorias relacionadas: paisagem e arquitetura, arquitetura e não-arquitetura, e paisagem e não-paisagem (ARCHER, 2001, p.102).
Um artista que explora esse espaço é Richard Long.12 Suas interferências nos es-paços naturais não são realizadas exclusivamente pelo artista e seu corpo atuante no espaço (pegadas, rastros e vestígios de sua caminhada e passagem) o que atua nesse tipo de arte também são as próprias matérias que estão nesse entorno, que são parte do espaço: lascas de árvore, pedras, galhos etc., como no exemplo da Figura 3.
Na obra The New York Earth Room, de Walter de Maria (Figura 4), artista da Land Art, o espaço ocupado por terra decorre de um espaço expositivo, que poderia ter sido definido, a exemplo, pelo curador. Isso permite discutir a relevância do que o es-paço físico atua sobre a obra ou na maneira como o artista conceberá sua produção a partir desse meio físico que, muitas vezes não é ele quem definirá.
Nesta situação, o espaço determinado para o seu trabalho faz sua obra existir e modelar-se às suas dimensões físicas: a terra adentra e permeia todo o museu, tor-na-se parte do museu, relaciona-se com o público, estabelece uma conexão mútua com esse espaço.
10 Land Art também é conhecida como Arte da Terra ou Earth-Art. Esse movimento inaugura uma nova relação com o ambiente natural, sendo muitas vezes designada como ramo da environment art (arte do ambiente). São intervenções artísticas na natureza sobre o espaço físico, transformando assim o entorno. Em geral assume grandes quantidades, relaciona-se com o espaço, luz e campo de visão do observador. Os principais espaço utilizados são planaltos, superfícies, desertos, canyons etc.
11 Site-Specific (sig. Sítio Específico) O termo sítio específico faz menção a obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço determinado. Trata-se, em geral, de trabalhos planejados - muitas vezes fruto de convites - em local certo, em que os elementos esculturais dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada.
12 Richard Long (Bristol-Inglaterra, 1945). Escultor. Frequentou West of England College of Art, em Bristol entre 1962 e 1965 frequentou, em Bristol, deslocou-se para Londres no ano seguinte, terminou seus estudos em arte na St Martin’s School of Art (1966-1968). No final da década de 60, Long passa a utilizar o território natural como suporte para suas produções e ações artísticas. Diferentemente dos artistas americanos do movimento da Land Art que trabalhavam em largas dimensões, Richard Long dá preferência para as pequenas dimensões, transformando esse espaço natural. Tal trabalho era fruto de viagens que realizava e deixava esculturas pelo caminho, organizando pedras, gravetos ou deixando suas caminhadas sobre o solo.
110 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
Figura 3 – Seis círculos de pedra, Londres 1981
Fonte: Richard Long (2012).13
Inquieta, antes, a nova fisionomia que o espaço oferecido para acondicionar a terra adquire. [...] A terra agrega as paredes e os pilares da sala como partes da obra. Se já existiriam antes, ou se teriam sido modificados para o recebimento da terra, não importa. O que importa é que também possuem o aspecto de partes de uma sala que poderia existir sem a terra. É um espaço cotidiano, em princípio passível de ser preexistente à obra, e por ela modificado não a ponto de perder laços com sua fisionomia sem a presença da terra (TASSINARI, 2001, p.8 e p.87).
Tassinari (2001, p.120) aponta “o espaço das obras com o espaço do mundo em co-mum – torna os gêneros artísticos sem limites espaciais definidos, e, por consequência, também suas delimitações conceituais”. Tal afirmação é perfeitamente reconhecível em diversos trabalhos desenvolvidos pelos artistas do minimalismo, da land art e de muitos outros desdobramentos que vistos em artistas contemporâneos. Seja o espaço determinado pelo artista, pela organização, pelo curador ou por outros, ele afirma que a arte contemporânea acrescenta “novos sentidos” ao cotidiano inclusive dentro de uma sala de museu, como ocorre em The New York Earth Room (TASSINARI, 2001, p.88)
Figura 4 – The New York Earth Room
Fonte: Dia Art (2012).14
13 Disponível em: <http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/sixstone.html> Acesso em: 13 set. 2012.14 Disponível em: <http://www.diaart.org/sites/main/earthroom>. Acesso em: 12 jul. 2012.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 111PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
4 O ESPAÇO ESPECÍFICO – SITE-SPECIFIC
O uso do termo site-specific em arte inicia-se nos Estados Unidos, no ano de 1960, para denominar alguns tipos de práticas artísticas surgidas naquela época. Atual-mente, ainda existem certas discordâncias quanto ao seu uso. Na maioria das vezes, site-specific é considerado como uma modalidade ou categoria artística, mas ainda há autores e artistas que consideram como um procedimento, como é o caso do artista Jorge Menna Barreto.
A escolha do espaço para inserção da obra de arte é um fator determinante para a concepção de muitas obras de arte. Segundo Giulio Carlo Argan, muitos artistas escolhem o site ou espaço no qual irão trabalhar de acordo com a relação que eles estabelecem com esse espaço, e não os escolhem como “ambientes ‘ideiais’ pela hi-giene, comodidade ou prazer”.
Ele afirma:[...] há artistas que operam diretamente sobre a paisagem (land art: é típico o caso de CHRISTO, que envolve em plástico monumentos e até trechos de paisagem, quase recriando um estado de curiosidade em relação a fatores ambientais que haviam se tornado costumeiros e, portanto, desinteressantes) (ARGAN, 2004, p.589).
Christo,15 citado acima, em parceria de Jeanne-Claude, são exemplos de artistas que trabalham com site-specífic e não há meios de conhecer seus trabalhos sem vin-culá-los a essa modalidade artística. É evidente em suas obras a força exercida pelas formas dos espaços ou pelos objetos que os artistas “embrulham”.
É através dos embrulhos que Christo e Jeanne-Claude desenvolveram, que os ambientes e as formas que eles escolheram para embrulhar passam a chamar mais a atenção do olhar. As pessoas notam o local agora modificado, o que antes era comum, passa a ser visto de outra maneira. Nota-se, por exemplo, que as formas do local em-brulhado são evidenciadas, cria-se a ilusão de amplitude, percepção da luminosidade da luz solar refletida, o movimento do tecido ao vento e a alteração da paisagem.
Suas obras, desenvolvidas na paisagem rural ou urbana são efêmeras,16 seus tra-balhos caracterizam-se pela exploração do que o entorno oferece. Esse espaço es-colhido, ora apresenta-se longe da civilização, ora em locais mais movimentados da cena urbana.
Christo e sua esposa Jeanne-Claude utilizam tecidos e cordas em suas obras, por vezes sacos plásticos, muito do que é definido em seus trabalhos é o que o próprio am-
15 Christo Yavashev (Gabrovo-Bulgária, 1935). Jeanne-Claude Denat de Guillebon (Casablanca- Marrocos, 1935 – Nova York, 2009). Suas obras consistem em intervenções efêmeras em paisagens urbanas e rurais, são projetos que envolvem embrulhos, geralmente colossais. Tal técnica começou a ser explorada em 1958 com contêineres embalados em lona.
16 Segundo o dicionário Houaiss Efêmero – que dura pouco, temporário, passageiro, transitório.
112 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
biente lhes propiciam, seja da arquitetura ou da paisagem. Tal relação pode associar-se à teoria da crítica de arte Rosalind Krauss, no que se refere ao Campo Expandido.
As obras de Christo e Jeanne-Claude, podem ser classificadas como esculturas, mesmo que inseridas na paisagem ou na arquitetura, encontram-se ao que Krauss define como não paisagem e não arquitetura.
A obra Reichstag embrulhado (Figura 5) tinha como propósito o resgate de uma civilização democrática que, em 1971, momento da sua concepção, apresentava-se dividida em dois países. Porém, sua execução foi possível apenas em 1995, após a reunificação da Alemanha. Para embrulhar a sede do parlamento alemão, foram uti-lizados 200 toneladas de aço para estruturar 328 mil m² de tecido de polipropileno revestido com alumínio, gerando um gasto de 15 milhões de marcos na época.
Figura 5 – Reichstag embrulhado
Fonte: Escrever é Triste (2012).17
Nas obras de Christo e Jeanne-Claude, pode-se afirmar que o espaço escolhido é um elemento construtivo da obra. Como Barreto explica: “a figura se deforma e se distorce para moldar-se ao contexto. O espaço não é evocado apenas como um receptor dos trabalhos, mas como um coautor” (BARRETO, 2007, p.37).
O artista estuda as características físicas, observa a planta baixa, quando se trata de um espaço arquitetônico, ou analisa as condições de um espaço aberto. Tais as-pectos são decisivos na escolha do material a ser utilizado, da técnica empregada, na definição da escala do trabalho.
17 Disponível em: <http://www.escreveretriste.com/2012/01/contagem-decrescente-2/reichabovevolz/>. Aces- so em: 10 jul. 2012.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 113PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
“Projetar e desenhar no espaço com a ajuda de novos métodos”, escreveu González, “utilizar esse espaço e construir com ele, como se estivéssemos lidando com algum material recém adquirido – nisso se resumem todas as minhas tentativas”. Criar esculturas transparentes ou abertas, ou, nas palavras de González, “desenhar no espaço” (KRAUSS, 2008, p.159).
O artista Bartolomeu Gelpi,18 por exemplo, explora todas as dimensões do espaço expositivo, sua pintura não se limita aos quadros e molduras, mas toma forma nas colunas e paredes do local (Figura 6). É como se o trabalho do artista ganhasse pro-porções tridimensionais, rompendo com os limites bidimensionais da pintura tradi-cional. A arquitetura local passa a ser parte da sua obra.
Figura 6 – Espaço expositivo com as obras de Bartolomeu Gelpi (mapas 1 a 9 ao fundo)
Fonte: Gelpi (2011).19
Em alguns casos como já mencionado na obra The New York Earth Room, de Walter de Maria, a escolha do espaço físico onde a obra será inserida, não ocorre a partir definição do artista, como acontece na obra de Christo e Jeanne-Claude, por vezes ela ocorre da decisão de terceiros. O artista então deverá produzir e realizar sua obra em função desse espaço específico, nessas circunstâncias Barreto (2007, p.28) questiona: “sendo assim, o lugar pré-existe a obra?”
Ao refletir sobre essa questão podemos levantar fatores diretamente relaciona-dos em uma escolha como essa, tais como: dimensões, posicionamento, matéria en-
18 Bartolomeo Gelpi (São Paulo-SP, 1975) formou-se em Artes Plásticas na FAAP no ano de 1997, fez o curso de História da Arte com Rodrigo Naves e trabalhou em monitorias no MAM, onde deu aulas de introdução à pintura a óleo. Suas pinturas são realizadas no próprio local de exposição, dialogando assim com o espaço ao qual está inserido. Utiliza madeira, tela e as próprias paredes como suporte em suas obras.
19 Disponível em: <http://bartolomeogelpi.blogspot.com.br/2011/06/2011-rosa-dos-ventos.html>. Acesso em: 10 jul. 2012.
114 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
tre outros fatores estabelecidos pelo espaço. No entanto tal espaço poderá ser defini-do por outras instituições ou pessoas que não sejam o próprio artista, como: curador, instituições financeiras ou patrocinadores – os chamados mecenas20 – museus ou galerias, premiações ou bolsas. Em certas situações, a concepção da obra poderá ser, de alguma forma, alterada. Pois, quando o espaço é definido dessa forma, muitas questões financeiras, principalmente, estão envolvidas, podendo limitar o processo criativo do artista.
A obra Gone Wild, 1997, de Regina Silveira21 (Figura 7), pode ser um caso tomado como exemplo de como isso ocorre, quando ela afirma em entrevista para Miriam Celeste Martins: “Então, fui chamada porque o curador viu a afinidade entre a minha poética e a poética do arquiteto” (1999, p. 274-279).22
Figura 7 – Gone Wild
Fonte: Artnexus (2012).23
20 Mecenas s.m.2n. pessoa rica que patrocina através de donativos e incentivos, artistas, estudiosos, obras, etc. Os mecenas podem ser entidades públicas ou particulares, que concedem verbas principalmente através de projetos. A palavra “mecenas” tem sua origem na Roma Antiga. No século I a.C, Caio Mecenas foi um conselheiro do imperador romano Otávio Augusto. Caio Mecenas patrocinou a produção de vários artistas e poetas nesta época.
21 Regina Scalzilli Silveira (Porto Alegre-RS, 1939). Artista multimídia, gravadora, pintora e professora. Constrói intervenções no espaço (paredes e pisos) com serigrafias, esculturas e silhuetas de vinil ou látex.
22 SILVEIRA, Regina. Processo de criação da obra Gone Wild. In: MARTINS, Mirian Celeste. Arte – o seu encantamento e o seu trabalho na educação de educadores: a celebração de metamorfoses da cigarra e da formiga. Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Educação/USP, 1999. p. 274-279. [Em entrevista concedida à autora].
23 Disponível em: <http://www.artnexus.com/Notice_View.aspx?DocumentID=16668>. Acesso em: 10 set. 2012.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 115PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
Neste caso, a artista inicia seu projeto de obra, partindo do espaço sugerido pelo curador do museu, de onde veio o convite para a exposição.
[...] Então, o que eu quis fazer foi, em primeiro lugar, criar uma situação de passagem, na entrada do museu. Criar nas paredes, refigurar o animal do chão. [...] Finalmente, eu estabeleci que eu queria fazer um animal selvagem. Esse animal selvagem terminou sendo um coiote, porque um coiote tem toda uma importância e uma presença no lendário americano, e no lendário indígena também. Ele é o enganador, ele é o mágico, o coiote. Ele ao mesmo tempo impregna toda uma literatura. O coiote também, naquela área da fronteira onde está San Diego, é a pessoa que faz os papéis para os mexicanos cruzarem ilegalmente a fronteira. [...] Eu tive que fazer isso no tamanho do espaço, ou seja, com quatro metros e meio por vinte metros. Eu fiz isso num estúdio, com tiras de papel, como se fosse papel de parede. Foi o que eu levei para lá. [...]. (SILVEIRA, In: MARTINS, 1999, p. 274-279).
Em seu depoimento, nota-se que a reflexão sobre o espaço no qual a obra será montada permeia todo seu processo criativo. Ela pensa em todo o espaço arquitetô-nico do museu – o interior do museu, o hall de entrada, as formas orgânicas do chão – incluindo, ainda nesse processo, a localização do museu, trazendo para a obra elemen-tos da cultura local: da cidade de São Diego no estado da Califórnia, Estados Unidos.
A relação de todos esses fatores que foram envolvidos no processo de criação da artista, estão diretamente ligados ao espaço que foi proposto pelo curador nesse caso. Dessa forma podemos refletir a importância que o espaço definirá implicará muitas vezes na determinação da matéria, escala, cor, forma, linguagem, etc.
4.1 Site-specific e seus desdobramentos
Atualmente, na arte contemporânea muitos artistas utilizam site-specific, porém entre tantos desdobramentos e experimentações, surgiram expressões mais especi-ficas para tratar da relação obra e espaço. Uma das estudiosas que analisa esses des-dobramentos é a autora de “Um Lugar Após o Outro”, Miwon Kwon. Segundo ela o trabalho “site-specific [...] é indivisível entre o trabalho e sua localização, e demandava a presença física do espectador para completar o trabalho” (BARRETO, 2007, p.167).
Miwon Kwon apud MENNA (2007, p.167) analisa os desmembramentos do site-specific e como as práticas artísticas contemporâneas os apresentam, nomean-do-os de forma mais pontual:
• functional site – quando o espaço específico pode ser alterado e temporário; • site oriented – quando é voltado para uma determinada comunidade e questões
sociais;• site adjusted – quando a obra é reposicionada e por vezes modificada;• além de outras diferenciações, como site determined, site-conscious, site-responsive,
site-related, ou ainda, community-specific, audience-specific, context-specific, time-specific etc.
116 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
Para artistas como Richard Serra,24 seria impossível separar a obra do espaço que ela está ou estava inserida, do espaço pelo qual a obra foi pensada e elaborada. Segundo o artista, não haveria hipótese alguma que argumentasse ou justificasse que sua escultura, “Tilted Arc”25 pudesse ser retirada do espaço que ocupa ou até realocada. Para ele, a obra perderia seu sentido, já que ela foi feita especificamente para aquele espaço.
Outros trabalhos, muitas vezes criados para ocupar temporariamente um de-terminado espaço, podem ganhar vida nova em outro espaço. Exemplo disso é o trabalho do artista contemporâneo Carlito Carvalhosa, primeiro brasileiro a expor no Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA). Ele foi convidado a ocupar este espaço quando o curador do MOMA visitou sua exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo.
O trabalho “A Soma dos Dias” consiste em um labirinto feito com tecido não tecido (TNT), na cor branca com quatorze metros de altura, pendendo do teto do espaço, gravadores e alto-falantes, também pendurados, espalhados entre os tecidos, que reproduziam os sons gravados dos visitantes no museu do dia anterior.
Atualmente muitos artistas contemporâneos utilizam-se dos desmembramentos do site-specific.
O brasileiro Jorge Menna Barreto,26 que utiliza desdobramentos em seu processo de criação, realizou um bom estudo das variações do site-specific em sua dissertação de mestrado, partindo da análise de seus próprios trabalhos, como “Massa” para a 7ª Bienal de Havana, em 2000 e “Inseguro” para a 3a Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 2003), uma intervenção urbana na qual, partindo da observação do espaço urbano e o uso de grades de proteção nas casas, ele desenvolve contêineres (peças utilizadas para compor o espaço expositivo da Bienal) feitos com grades semelhantes às das 24 Richard Serra (São Francisco-CA, 1939). Graduou-se em literatura inglesa, em 1961 e realizou mestrado de
Belas-Artes em 1964. Trabalhou em fundições de aço para se sustentar. Após graduar-se, viajou pela Europa no período de dois anos. O artista explora em seus trabalhos a materialidade dos metais, mais especificamente do aço e chumbo.
25 Tilted Arc - Escultura desenvolvida por Richard Serra para a praça, Federal Plaza em Manhattan, Nova York, encomendado pelo projeto Arte na Arquitetura da GSA (US General Services Administration). Tilted Arc foi inaugurada, em 16 de julho de 1981, dois anos após sua encomenda. Houveram muitas críticas e manifestos que acusavam a escultura de destruir a praça em termos de obstrução do espaço e da paisagem visual, foi ainda intitulada como agressiva, já que sua estrutura possuía as dimensões de 36 metros de cumprimento por 3,70 metros de altura. Após audiências públicas e por decisão da comitiva da GSA Tilted Arc foi removida em 15 de março de 1989. Para Serra, realocar a escultura seria como destruí-la, dessa forma para manter os desejos do artista, a obra foi retirada da Federal Plaza e dividida em três partes que foram guardadas. A obra não foi instalada em nenhum outro lugar.
26 Jorge Mascarenhas Menna Barreto (Araçatuba-SP, 1970). Artista visual e desenhista. Em 1997, forma-se bacharel em artes plásticas com especialização em desenho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, e mestrado em Poéticas Visuais, pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2007, onde aprofundou-se no termo site-specific e seus desdobramentos. Dentre vários trabalhos, o espectador “move” a obra.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 117PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
residências. Nota-se nesse trabalho que o site-specific fica desmembrado no campo imaginário, através do discurso que a obra propõe (Figura 8).
Figura 8 – “Cidade de Contêineres” e “Inseguro”
Fonte: Barreto (2007).
Analisando seus próprios trabalhos, o artista Menna Barreto refere-se ao site-specific mais como uma etapa de sua metodologia de trabalho: “o método (site-specific) é testado, experimentado e problematizado” (BARRETO, 2007, p. 111).
Para Barreto, a obra não está restrita a ficar ligada ao espaço pré-estabelecido, a arte contemporânea e suas práticas possibilitam que a obra seja transportada para outros espaço, associa-se a essa prática ainda vinculada ao site-specific, inicialmente, mas agora como site-oriented ou adjusted, por exemplo.
Dessa forma, percebemos que as variações do site-specific, prática artística da década de 60, ainda são utilizadas e exploradas até hoje na arte contemporânea, ela aparece em vários desdobramentos, adaptando-se e adequando-se como novos conceitos artísticos.
Os desdobramentos do site-specific, brevemente exemplificados acima, foram abordados com maior atenção, pela primeira Autora deste artigo, em seu trabalho de conclusão de curso (TCC), apresentado em 2012, no Curso de Artes Visuais da Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Questionar as possibilidades de transformações ocorrentes em uma obra de arte, tendo o espaço como fator determinante nas mudanças e nas escolhas feitas pelo artista, era a proposta central dessa pesquisa. Após analisar uma série de obras nas quais um espaço específico – site-specific – e seus possíveis desdobramentos – site-adjusted – são fatores presentes em seus processos criativos, é possível perceber
118 | MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 O espaço na arte moderna e contemporânea
como a interferência do espaço pode determinar aspectos conceituais e físicos da obra de arte contemporânea.
Proporção, escala, cor, forma, matéria, entre outros são escolhidos dadas as carac-terísticas do espaço no qual a obra será inserida, de maneira que o artista estude as melhores condições de aplicação desses, dialogando com o espaço. Sem deixar de citar o público, que está intimamente relacionado quando a obra ocupa um espaço público; a rotina, as memórias, as histórias daqueles que a circundam serão cruciais para o entendimento da mesma, além das alterações que a obra provoca nesse es-paço cotidiano.
As referências levantadas nesse estudo, tiveram o papel de desmistificar a ideia de que o processo criativo está associado unicamente às inspirações ou ao acaso. Neste caso, exemplifico por meio de obras produzidas a partir da década de 1960, nas quais o espaço é que atua diretamente sobre o artista e a construção de sua obra, como quando Regina Silveira afirma que o espaço onde sua obra é exposta é determinado pelo curador e ela só inicia seu processo de criação após conhecer e analisar esse espaço e suas características.
O espaço, ainda que fator determinante sobre a criação e construção de uma obra de arte, poderá influenciar até quando a obra é realocada, passando do espaço inicial – onde a obra estava inserida, e para o qual foi concebida especificamente (site-specific) – para outro espaço. Dessa maneira, a obra deverá ser ajustada – site-adjusted – para que se encaixe nesse novo espaço, como acontece com a obra “A soma dos dias” de Carlito Carvalhosa. Mas, para isso, deve-se ressaltar que alterando a estrutura da obra, e instalando-a em um diferente local, que antes não foi pensado para aquela obra especificamente, inserí-la em um outro contexto, para um novo público, po-de-se modificar por inteiro seu significado, sua estética, suas características, nesse sentido o espaço pode “fazer” uma obra completamente distinta da primeira.
Assim, nota-se que os artistas contemporâneos não deixaram de utilizar site-specific, mas passaram a explora-lo com maior flexibilidade, explorando todas as possibilida-des de adaptação e adequação que uma obra possa lhe atribuir.
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGRA, L. História da arte do século XX: ideias e movimentos. São Paulo: Anhembi-Morumbi, 2004.
ARCHER, M. Arte contemporânea uma história concisa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
ARGAN, G. C. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
AUGÉ, M. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994.
BARBOSA, A. M. Inquietações e mudanças no ensino da arte. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
MULTIFAAL, Limeira, v.1, p. 102-119, 2013 | 119PELI, B.B.; GARBOGGINI, F.A.F.
BARDONNÈCHE, D. Espécies de espaços. In.: DOMINGUES, D. (Org.). A arte no século XXI a humanização das tecnologias. São Paulo: UNESP, 1997.
BARRETO, J. M. Lugares moles. (Dissertação de Mestrado) São Paulo. Universidade de São Paulo, 2007, 149p. (Pós Graduação em Artes).
BARROS, A. M. C. A arte da percepção: um namoro entre a luz e o espaço. São Paulo: Fapesp, 1999.
CAMILLIS, L. S. Criação e docência em arte. Araraquara: JM, 2002.
CANTON, K. Espaço e lugar. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
CHRISTOV, L. H. S.; MATTOS, S. A. R. (Orgs.). Arte educação: experiências, questões e possibilidades. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2006.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva , 2001.
FARTHING, S. 501 grandes artistas. Rio Janeiro: Sextavante, 2009.
FRANÇA, C. Depoimento [2 de nov. 2012]. Campinas, SP, 2012. Entrevista concedida via endereço eletrônico.
GABLIK, S. Minimalismo. In: STANGOS, N. Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
JUVENAL, R. V.. Sobre o espaço e a percepção no minimalismo: notas sobre obras de Robert Morris e Dan Flavin, D. 2008, 103 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
KRAUSS, R. E. Caminhos da escultura moderna. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
LUCIE-SMITH, E. Os movimentos artísticos a partir de 1945. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MARZONA, D. Minimal art. Colônia - Alemanha: Taschen, 2010.
MESQUITA, I. A soma dos dias. Exposição de Carlito Carvalhosa no MOMA de Nova York. Drops, São Paulo, n. 12.050.02, Vitruvius, 2011. Disponível em: <www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/12.050/4112>. Acesso em: 12 jul. 2012.
OSTROWER, F. Criatividade e processos de criação. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
Revista Bravo. O melhor da cultura. São Paulo, Editora Abril, volume: 166, ano 13, n° 164, junho de 2011, p. 40, Reportagem de Mario Gioia.
_______. O melhor da cultura. São Paulo, Editora Abril, volume: 168, ano 13, n° 164, agosto de 2011, p. 82-85, Reportagem de Bruno Moreschi.
_______. O melhor da cultura. São Paulo, Editora Abril, volume: 169, ano 13/ n° 164, setembro de 2011, p. 54-55, Reportagem de Mario Gioia.
SILVEIRA, R. Processo de criação da obra Gone Wild. In: MARTINS, M. C. Arte - o seu encantamento e o seu trabalho na educação de educadores: a celebração de metamorfoses da cigarra e da formiga. 1999. 279 f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade de São Paulo / Faculdade de Educação, São Paulo, 1999.
TASSINARI, A. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
TESSLER, E., BRITES, B. Coloque o dedo na ferida aberta ou a pesquisa enquanto cicatriz. In: _______. O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes. Porto Alegre: Editora da Universidade, 2002. pp. 105-111.
ZAMBONI, S. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. Campinas: Autores Associados, 2006.
Diretrizes para Apresentação e Publicação de Manuscritos
O Caderno Multidisciplinar da FAAL, o MultiFAAL, publica manuscritos relevantes para o enriquecimento nas diversas áreas do conhecimento.
Dentre estes manuscritos, se enquadram:
Artigos: Os mesmos podem ser elaborados mediante pesquisa experimental (apresen-tando resultados e discussão) ou, através de ampla revisão bibliográfica sobre determina-do tema, apresentando discussão e considerações finais com base no objetivo do mesmo;
Estudos de Caso: abordado através de referencial bibliográfico, revelando e discutindo a metodologia e ferramentas utilizadas para solucionar problemas, apresentando ao final discussão crítica e considerações sobre os resultados obtidos;
Resenhas: revisão crítica de obra recém publicada, orientando o leitor quanto a suas ca-racterísticas e usos potenciais;
Ensaios: com abordagens inovadoras, com novos enfoques que induzam os leitores à reflexão sobre o tema focado.
Os manuscritos deverão ser elaborados em, no máximo, 20 páginas, considerando as di-retrizes a seguir.
Folha de Rosto
Folha: branca, tamanho A4 (21 x 29,7 cm - vinte e um por vinte e nove vírgula sete cen-tímetros), com as margens superior e esquerda de 3 cm (três centímetros) e margens inferior e direita de 2 cm (dois centímetros);
Título do Manuscrito: em português e, a seguir, em inglês, em fonte Times New Roman, corpo 14 (quatorze) pontos, caixa alta (letras maiúsculas), negrito, espaço 1,5 (um e meio) entre as linhas e texto centralizado;
Categoria do Manuscrito: indicar, após o título, a respectiva categoria em que o manus-crito se enquadra (Artigos, Estudos de Caso, Resenhas, ou Ensaios). Em fonte Times New Roman, corpo 14 (quatorze) pontos, caixa alta (letras maiúsculas), negrito, espaço simples entre as linhas e alinhamento do texto à direita;
Nome(s) do(s) Autor(es): nome(s) completo(s), fonte Times New Roman, corpo 12 (doze) pontos, espaço simples entre as linhas e texto centralizado;
Afiliação do(s) Autor(es): para cada Autor, inserir nota de rodapé, indicando, para cada um, titulação, instituição, departamento, curso e, o endereço eletrônico (e-mail). Em fonte Times New Roman, corpo 10 (dez) pontos e alinhamento do texto no formato justificar.
Formatação dos Manuscritos
Folha: branca, tamanho A4 (21 x 29,7 cm - vinte e um por vinte e nove vírgula sete cen-tímetros), com as margens superior e esquerda de 3 cm (três centímetros) e margens in-ferior e direita de 2 cm (dois centímetros) e espaçamento entrelinhas de 1,5 (um e meio);
Título do Manuscrito: em português, seguido da tradução do mesmo para a língua in-glesa. Em fonte Times New Roman, corpo 14 (quatorze) pontos, caixa alta (letras maiúscu-las), negrito, espaço 1,5 (um e meio) entre as linhas e texto centralizado;
Resumo: de maneira sucinta (breve) com, no máximo, 250 palavras, num só parágrafo, apresentando o quê foi feito (objetivo; hipótese, metodologia, resultados e discussão, considerações finais), em fonte Times New Roman, corpo 12 (doze) pontos, espaço sim-ples entre as linhas e alinhamento do texto no formato justificar;
Palavras-chave: indicar até 4 (quatro) palavras ou expressões que identifiquem o con-teúdo do trabalho, em fonte Times New Roman, corpo 12 (doze) pontos, espaço simples entre as linhas e alinhamento do texto no formato justificar;
Abstract: tradução do resumo para a língua inglesa. Em fonte Times New Roman, corpo 12 (doze) pontos, espaço simples entre as linhas e alinhamento do texto no formato jus-tificar;
Keywords: tradução das palavras-chave para o inglês. Em fonte Times New Roman, cor-po 12 (doze) pontos, espaço simples entre as linhas e alinhamento do texto no formato justificar;
Elementos Textuais: os manuscritos do tipo Artigo deverão apresentar os seguintes tópicos: Introdução (contextualizando e relevando a importância do tema e, no final, apresentando os objetivos do manuscrito); referencial teórico; metodologia; resultados e discussão, considerações finais e referências bibliográficas. No caso de Ensaios, Resenhas e, ou, de Estudos de Caso, os manuscritos deverão apresentar os seguintes tópicos: intro-dução (contexto e relevância do tema e, no final, o objetivo do manuscrito), desenvolvi-mento (com subseções, se necessário), considerações finais e referências bibliográficas. Os textos deverão ser formatados em fonte Times New Roman, corpo 12 (doze) pontos, espaço 1,5 (um e meio) entre as linhas e alinhamento do texto no formato justificar;
Numeração das Seções: a numeração progressiva dos títulos das seções (introdução, re-ferencial teórico, metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referências bibliográficas) e de suas respectivas subseções, deverá seguir as diretrizes da ABNT NBR 6.024:2012;
Citações: As citações das fontes bibliográficas, necessárias ao longo dos manuscritos, de-verão seguir as diretrizes da ABNT NBR 10.520:2002;
Ilustrações: figuras, gráficos, fluxogramas, mapas, organogramas, plantas, quadros, de-vem ser chamados previamente no texto e inseridos, centralizados, o mais próximo pos-sível do trecho a que se refere. Os gráficos devem ser enviados no formato de origem, ou seja, onde foi feito (Excel - .xls; Word - .doc). As imagens deverão ser enviadas no formato .TIF, com, no mínimo, 300 (trezentos) pontos por polegada (dpi) de resolução com mais ou menos 10 cm (centímetros) de largura no sistema de cores em CMYK (Ciano, Ma-genta, Amarelo e Preto) ou em grayscale (tons de cinza). As identificações das ilustrações devem aparecer na parte superior das mesmas, precedida da palavra designativa (em ne-grito), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos (em negrito) e do respectivo título explicativo (de forma breve e clara) – em fonte Times New Roman, corpo 12 (doze) pontos, com texto alinhado dentro das margens esquerda e direita da ilustração (Figura 1 – Título). Abaixo da ilustração, apresentar a fonte bibliográ-fica de onde a ilustração foi extraída. Em fonte Times New Roman, corpo 10 (dez) pontos, com texto alinhado dentro das margens esquerda e direita da figura - Fonte: Autor (ano).
Tabelas: devem ser chamadas previamente no texto e elaboradas seguindo as diretrizes da ABNT NBR 6.022:2003 e das Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – (disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visuali-zacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf>.). As tabelas devem ser envia-das no formato de origem, ou seja, onde foi feito (Excel - .xls; Word - .doc). As mesmas, devem, ainda, ser inseridas, centralizadas, o mais próximo possível do trecho a que se refere. A identificação deve aparecer na parte superior da tabela, precedida da palavra designativa (em negrito), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos (em negrito) e do respectivo título explicativo, de forma breve e clara (Tabela 1 – Título). Em fonte Times New Roman, corpo 12 (doze) pontos, com texto alinha-do dentro das margens esquerda e direita da tabela. Logo após a tabela, em fonte Times New Roman, corpo 10 (doze) pontos, com texto alinhado dentro das margens esquerda e direita da tabela, apresentar a fonte bibliográfica - Fonte: Autor (ano).
Palavras Estrangeiras: estas deverão ser digitadas em itálico;
Siglas, Fórmulas e Abreviações: estas representações gráficas deverão seguir as diretri-zes da ABNT NBR 6.022:2003;
Unidades de Medida: estas deverão seguir os padrões do Sistema Internacional de Uni-dades (SI), elaborados pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas (www.bipm.org);
Numeração de Páginas: deverá ser inserida no canto inferior direito. Em fonte Times New Roman, corpo 10 (dez) pontos, em negrito;
Referências Bibliográficas: a listagem, em ordem alfabética, de todas as referências bi-bliográficas, em consonância com citações feitas ao longo do manuscrito, deverá ser em fonte Times New Roman, corpo 10 (doze) pontos, espaço simples entre as linhas e espaço duplos entre cada Referência, com alinhamento do texto à esquerda e seguir as diretrizes da ABNT NBR 6.023:2002.
Envio dos Manuscritos
Os manuscritos deverão ser encaminhados, via e-mail ([email protected]), ao Editor Chefe do MultiFAAL, juntamente com uma Carta de Submissão.
Cada manuscrito deve ser dividido em dois documentos / arquivos (.doc). Um dos do-cumentos deverá apresentar apenas a Folha de Rosto e o outro, sem identificação de autores, as demais estruturas do manuscrito descritas no item acima (Formatação dos Manuscritos).
Processo de Análise dos Manuscritos
Após o recebimento dos manuscritos, os mesmos serão, primeiramente, submetidos à apreciação dos Editores, para se verificar se estão atendidas as especificações formais. Na sequência, estando de acordo com as diretrizes e normas do MultiFAAL, os manuscritos entrarão em processo de avaliação de mérito, durante o qual serão submetidos aos pare-ceres de Professores membros do Comitê Científico, podendo, este, se considerar neces-sário requisitar, ainda, a apreciação de Pareceristas ah doc (especialistas na área ou temas em questão). Em todo este processo será resguardado o anonimato entre Avaliadores/Pareceristas e Autores.
Os Avaliadores e, ou, Pareceristas ad hoc, julgarão a originalidade e relevância do assunto ou tratamento apresentado ao mesmo, a clareza da redação e a normalização dos pa-drões gráficos e das citações e referências bibliográficas. Dessa avaliação, resultará um dos seguintes pareceres: aceito (parecer positivo); aceito com orientações de modificação (parecer positivo, condicionada às alterações sugeridas) e; negado (parecer negativo).
O Editor Chefe enviará aos Autores, em até 90 (noventa) dias após o recebimento dos manuscritos, o resultado dos pareceres. Se aceito, ao Autor será informado, ainda, sobre o número da edição e o ano em que seu manuscrito será publicado.
Caso o manuscrito receba o parecer “aceito com orientações de modificação”, as críticas, sugestões e comentários dos Avaliadores/Pareceristas serão encaminhados ao Autor, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar uma nova versão do manuscrito. Este, após reenvio, será avaliado, novamente, tanto pelo Editor Chefe quanto por Professores Mem-bros do Comitê Científico e ou Pareceristas ad hoc (os mesmos que avaliaram e sugeriram as alterações para a primeira versão apresentada), podendo ou não, ainda, ser aceito.
Ao enviarem seus manuscritos, os Autores assumem o compromisso de não remetê-lo à outra fonte de publicação (impressa ou eletrônica), assim, como total responsabilidade sobre o seu conteúdo. As opiniões e julgamentos neles contidos não expressarão, neces-sariamente, as posições do Comitê Científico.
Os manuscritos originais, enviados, mesmo quando não aceitos para a publicação, não serão devolvidos. O MultiFAAL terá os direitos autorais reservados sobre o trabalho publi-cado, sendo permitida a sua reprodução ou transcrição com a devida citação dos Autores.
A D M I N I S T R A Ç Ã O
A R T E S V I S U A I S
D E S I G N I N T E R I O R E S
D E S I G N D E M O D A
D E S I G N D E P R O D U T O
D E S I G N G R Á F I C O
G E S T Ã O A M B I E N TA L
M A R K E T I N G
M AT E M Á T I C A
P R O C E S S O S G E R E N C I A I S
R E C U R S O S H U M A N O S
CA
DE
RN
O
MU
LTID
ISC
IPL
INA
R
DA
F
AC
UL
DA
DE
D
E
AD
MIN
IST
RA
ÇÃ
O
E
AR
TE
S
DE
L
IME
IRA
Artigos
Mídia social: o blog, um forte aliado das empresas no relacionamento com os clientesEliana Pedron
Adriana Pessatte Azzolino
Arquitetura da informação aplicada à interface do bilhete de passagem rodoviárioMichel Gomes de LiraSamara Pereira TedeschiFabiane Fernandes Rodrigues
A história da arte na educação infantil: desenvolvimento de um livro paradidático para crianças de quatro a sete anos de idadeLivia Riani Costa CazonattoSamara Pereira Tedeschi
O olhar de uma licencianda sobre o ensino de matemática na educação infantil: um enfoque à estocásticaLuciana Regina Pereira MacedoEliane Matesco Cristovão
A importância da pesquisa de clima organizacionalPaula Olivier DoriguettoJorge Henrique da Silva
A importância da liderança na empresa modernaMaria Alice Gomes Jorge Henrique da Silva
Os impactos comportamentais da empresa júniorLucas SanchesPaulo Roberto Benegas de Morais
O espaço na arte moderna e contemporâneaBeatriz Batistela PeliFlávia de Almeida Fábio Garboggini
1 VOLUME N º 1
A N O 2 0 1 32 0 1 3
MU
LTIF
AA
L