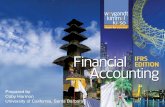jus2.pdf
-
Upload
candidoaguiar -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of jus2.pdf
-
i
UMA PROPOSTA PARA A GESTO DOS RESDUOS SLIDOS URBANOS NA
REGIO SERRANA II, CONSIDERANDO AS PRTICAS DE RECICLAGEM E
COMPOSTAGEM
Luza Santana Franca
Projeto de Graduao apresentado ao Curso de
Engenharia Ambiental da Escola Politcnica,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
parte dos requisitos necessrios obteno do
ttulo de Engenheiro.
Orientador: Mrcio de Almeida DAgosto
Rio de Janeiro
Agosto de 2013
-
ii
UMA PROPOSTA PARA A GESTO DOS RESDUOS SLIDOS URBANOS NA
REGIO SERRANA II, CONSIDERANDO AS PRTICAS DE RECICLAGEM E
COMPOSTAGEM
Luza Santana Franca
Examinado por:
Prof. Mrcio de Almeida DAgosto, D.Sc.,
Prof. Katia Monte Chiari Dantas, D.Sc.,
Eng. Ricardo Csar da Silva Guabiroba, D.Sc.
Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Agosto de 2013
PROJETO DE GRADUAO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO DE
ENGENHARIA AMBIENTAL DA ESCOLA POLITCNICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSRIOS
PARA A OBTENO DO GRAU DE ENGENHEIRO AMBIENTAL
-
iii
Franca, Luza Santana
Uma Proposta para a Gesto dos Resduos Slidos Urbanos na Regio Serrana II, Considerando as Prticas de Reciclagem e Compostagem/ Luza Santana Franca Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politcnica, 2013.
viii, 101 p.: il.; 29,7 cm.
Orientador: Mrcio de Almeida DAgosto
Projeto de Graduao UFRJ/ POLI/ Curso de Engenharia Ambiental, 2013.
Referncias Bibliogrficas: p. 97-101.
1.Gesto de Resduos Slidos Urbanos; 2. Coleta Seletiva; 3. Reciclagem; 4.Compostagem; 5.Coleta de Lixo; 6.Regio Serrana; 7.Modelo de Gesto de RSU. I. DAgosto, Mrcio de Almeida. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politcnica, Curso de Engenharia Ambiental. III.Uma Proposta para a Gesto dos Resduos Slidos na Regio Serrana II, Considerando as Prticas de Reciclagem e Compostagem.
-
iv
AGRADECIMENTOS
Agradeo a minha famlia, por todo apoio e incentivo aos estudos e em toda a
minha vida, em especial meus pais, Mnica Albuquerque e Ricardo Franca, e minha
irm, Gabriela Franca, que sempre estiveram ao meu lado em todos momentos, seja
nas dificuldades e incertezas, seja nas realizaes.
Agradeo tambm a todos os meus amigos, desde aqueles que pude compartilhar
minha infncia inteira, na escola e fora dela, que tornaram os momentos mais
prazerosos e divertidos. Em especial, agradeo por aqueles que estiveram comigo por
todos esses anos de faculdade, que tornaram a vivncia e o estudo no curso de
Engenharia Ambiental mais especiais e fizeram com que todo esse tempo se tornasse
inesquecvel. um grande prazer poder se formar nessa turma maravilhosa da
Engenharia Ambiental 2008.1.
Tambm gostaria de agradecer ao meu namorado, Joo Paulo Caputo, que
sempre est presente e me apia em tudo que for preciso. Especialmente nesse
trabalho, gostaria de agradec-lo pela compreenso e estmulo que sempre me deu
para conseguir conclu-lo da melhor forma.
E por ltimo agradeo especialmente ao Mrcio DAgosto, o orientador deste
trabalho, que props o tema e me orientou da melhor forma possvel. Com ele o
trabalho pode ficar mais consistente e exato, para que pudssemos ter um bom
resultado. E agradeo a toda turma do LTC, que est comigo a mais de um ano.
Todos os trabalhos e pesquisas que j desenvolvemos foram muito interessantes e
poder enriquecer os estudos com esse projeto de graduao , com certeza, muito
compensador para mim.
Obrigada!
-
v
Resumo do Projeto de Graduao apresentado Escola Politcnica/UFRJ como parte
dos requisitos necessrios para a obteno do grau de Engenheiro Ambiental.
UMA PROPOSTA PARA A GESTO DOS RESDUOS SLIDOS URBANOS NA
REGIO SERRANA II, CONSIDERANDO AS PRTICAS DE RECICLAGEM E
COMPOSTAGEM
Luza Santana Franca
Agosto/2013
Orientador: Mrcio de Almeida DAgosto
Curso: Engenharia Ambiental
Esse trabalho analisa a gesto de RSU nos municpios Areal, Comendador
Levy Gasparian, Paraba do Sul, Petrpolis, Sapucaia e Trs Rios, pertencentes ao
consrcio pblico Regio Serrana II. Atualmente, a maioria desses municpios utiliza
lixes como principal destino de RSU, com exceo de Sapucaia e Petrpolis, que
utilizam aterros sanitrios. A fim de introduzir melhores prticas na gesto de RSU
destes municpios, o Programa do Lixo Zero, proposto pela Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA), est promovendo o fechamento dos lixes que esto ativados e a
adequao e construo de um novo aterro que possa abranger todo o consrcio.
Tendo em vista o planejamento da SEA, esse trabalho prope duas situaes
alternativas para a gesto de RSU nos municpios do consrcio, a partir da adoo da
coleta seletiva, a triagem dos resduos reciclveis e a compostagem dos resduos
orgnicos gerados, de acordo com o modelo sugerido pelo manual do Ministrio do
Meio Ambiente, alm de seguirem os princpios da gesto integrada de RSU e das
disposies da Poltica Nacional de Resduos Slidos. Atravs da anlise dos
resultados, foi possvel observar que a coleta seletiva de resduos reciclveis das
situaes propostas gera um custo 17% menor em relao ao custo da coleta de
rejeitos. Considerando toda a cadeia de reciclagem e a receita gerada pela venda dos
resduos reciclveis e do composto orgnico, a situao proposta 1 a situao que
mais absorve os gastos e a situao proposta 2 promove um aumento extremo da vida
til do aterro sanitrio.
Palavras-chave: Gesto de Resduos Slidos Urbanos, Coleta Seletiva, Reciclagem,
Compostagem.
-
vi
Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of
the requirements for the degree of Environmental Engineer.
A PROPOSAL FOR MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE MOUNTAIN
RANGE II, CONSIDERING THE PRACTICES OF RECYCLING AND COMPOSTING
Luza Santana Franca
August/2013
Advisor: Mrcio de Almeida DAgosto
Course: Environmental Engineering
This paper analyzes the municipal solid waste management in municipalities
Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraba do Sul, Petrpolis, Sapucaia and Trs
Rios, belonging to the public consortium Mountain Region II. Currently, most
municipalities use dumps as the main destination of solid waste, except Sapucaia and
Petrpolis, which use landfills. In order to introduce best practices in the management
of solid waste in these municipalities, the Program Lixo Zero, proposed by
Environment Secretary of State (SEA), is promoting the closure of dumps and the
adequacy and construction of a new landfill that can cover the whole consortium.
Considering the planning of SEA, this paper proposes two alternative scenarios
for solid waste management in the municipalities of the consortium, with the adoption
of selective collect, sorting of recyclable waste and composting of organic matter
generated, according to the model suggested manual by the Ministry of Environment,
and adopting the principles of integrated management of solid waste and the provisions
of the National Policy on Solid Waste. By analyzing the results, it was observed that the
selective collect of proposals generates a cost 17% less than the cost of conventional
collect. Considering the whole recycling chain and income generated by the sale of
recyclable waste and organic compost, the proposed situation 1 absorbs more
spending and proposed situation 2 promotes an extreme increase of lifetime of the
landfill.
Keywords: Management of Municipal Solid Waste, Seletive Collect, Waste Recycling, Composting.
-
vii
SUMRIO
1. INTRODUO....................................................................................................... 1
1.1. Justificativa e Relevncia ................................................................................ 3
1.2. Objetivo .......................................................................................................... 3
1.3. Estrutura do Trabalho de Concluso de Curso ............................................... 5
2. Gesto de RSU na Regio Serrana II .................................................................... 6
2.1. Objeto de Estudo ............................................................................................ 6
2.2. Gerao e Coleta de RSU na Regio Serrana II ........................................... 11
2.3. Disposio Final dos RSU na Regio Serrana II ........................................... 16
3. Proposta de Reformulao da Gesto de RSU .................................................... 20
3.1. Gesto Integrada de RSU ............................................................................. 20
3.2. Possveis Formas de Tratamento de RSU .................................................... 25
3.2.1. Reciclagem ............................................................................................ 25
3.2.2. Compostagem ....................................................................................... 26
3.3. Proposta de Implantao da Coleta Seletiva em Consrcios Pblicos .......... 27
3.4. Gesto de Resduos Slidos em Cidades Brasileiras ................................... 32
3.4.1. Curitiba, PR ........................................................................................... 32
3.4.2. Tibagi, PR .............................................................................................. 34
3.4.3. Londrina, PR.......................................................................................... 36
3.4.4. Santo Andr, SP .................................................................................... 37
3.4.5. So Jos dos Campos, SP .................................................................... 39
3.4.6. Porto Alegre, RS .................................................................................... 40
3.4.7. Goinia, GO .......................................................................................... 41
4. Anlise das Situaes Apresentadas ................................................................... 43
4.1. Metodologia Adotada .................................................................................... 43
4.1.1. Situao Base ....................................................................................... 44
4.1.2. Situaes Propostas .............................................................................. 47
4.1.3. Custo da Cadeia de Coleta e Destinao Final dos RSU ...................... 57
4.1.4. Quantidade de RSU Destinada ao Aterro .............................................. 59
4.1.5. Vida til do Aterro ..................................................................................... 60
4.2. Anlise Econmica da Situao Base e das Situaes Propostas ................ 60
4.2.1. Situao Base ....................................................................................... 60
a. Custo da Cadeia de Coleta e Destinao Final dos RSU.............................. 60
b. Quantidade de RSU Destinada ao Aterro ..................................................... 65
c. Vida til do Aterro......................................................................................... 66
-
viii
4.2.2. Situao Proposta 1 .............................................................................. 67
a. Custo da Cadeia de Coleta e Destinao Final dos RSU.............................. 67
b. Quantidade de RSU Destinada ao Aterro ..................................................... 71
c. Vida til do Aterro......................................................................................... 72
4.2.3. Situao Proposta 2 .............................................................................. 73
a. Custo da Cadeia de Coleta e Destinao Final dos RSU.............................. 73
b. Quantidade de RSU Destinada ao Aterro ..................................................... 75
e. Vida til do Aterro......................................................................................... 77
5. Anlise dos Resultados ....................................................................................... 77
5.1. Anlise Comparativa ..................................................................................... 77
5.2. Anlise de Sensibilidade ............................................................................... 82
6. Consideraes Finais, Limitaes e Sugestes ................................................... 94
7. Referncias bibliogrficas .................................................................................... 97
ANEXO I Planilha de Custos Situao Base .......................................................... 102
ANEXO II Planilha de Custos da Situao Proposta 1 ........................................... 133
ANEXO III Planilha de Custos da Situao Proposta 2 .......................................... 185
-
1
1. INTRODUO
O presente trabalho pretende avaliar as formas de coleta e disposio final dos
resduos slidos urbanos (RSU) nos municpios Sapucaia, Trs Rios, Comendador
Levy Gasparian, Paraba do Sul, Petrpolis e Areal, que compem a Regio Serrana
II. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE, 2012), a populao
desta regio de aproximadamente 451.561 habitantes, que corresponde a 2,8 % da
populao do Estado do Rio de Janeiro, distribuda numa rea total de 2.462 km2
(5,6% da rea do Estado do Rio de Janeiro). Esta populao produz diariamente cerca
de 345 toneladas de resduos slidos urbanos. Quanto destinao final, os
municpios de Trs Rios, Comendador Levy Gasparian, Paraba do Sul e Areal
destinam todos os resduos gerados para lixes localizados nos municpios. Sapucaia
apresenta um aterro sanitrio como principal destinao de RSU e Petrpolis o nico
municpio que apresenta coleta diferenciada, com a separao dos materiais que
podem ser reaproveitados para a reciclagem. Este municpio dispe de um aterro
controlado prprio para onde so destinados os materiais que no so aproveitados.
A disposio dos resduos slidos em aterros sanitrios uma alternativa
eficaz, no que diz respeito reduo e inibio da exposio da populao e do meio
ambiente a qualquer tipo de contaminao, se comparada disposio a cu aberto
(lixes). Nesta forma de destinao, a populao local fica exposta contaminao
por vetores de doenas, que se acumulam nesses locais, alm da contaminao do
meio ambiente pela percolao do chorume1 e por emisses de poluentes
atmosfricos provenientes da decomposio do lixo. Neste caso, o custo de operao
baixo por no considerar nenhum custo de disposio dos resduos, e no existe
nenhum tipo de controle do despejo. Por isso, segundo a Poltica Nacional de
Resduos Slidos (PNRS), a disposio final ambientalmente adequada a
distribuio ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais
especficas de modo a evitar danos ou riscos sade pblica e segurana e a
minimizar os impactos ambientais adversos.
A utilizao dos lixes como forma de destinao final dos resduos slidos
pode ser explicada por vrios fatores, tais como: falta de capacitao tcnico-
1Libnio, 2002 descreve o chorume como um lquido de colorao escura, turvo e malcheiroso,
resultante do armazenamento e tratamento do lixo. Existem ainda, outras denominaes comuns deste
lquido, tais como: sumeiro, chumeiro, lixiviado e percolado.
-
2
administrativa, baixa dotao oramentria, pouca conscientizao da populao
quanto aos problemas ambientais ou mesmo falta de estrutura organizacional das
instituies pblicas envolvidas com a questo nos municpios (ZANTA, FERREIRA,
2003).
Em 2007, dos 92 municpios do Estado do Rio de Janeiro, 76 descartavam
seus resduos em lixes e 12 em locais controlados. Apenas quatro municpios
destinavam seus resduos adequadamente em aterros sanitrios. Nesta poca, do
total de 13.738 toneladas de lixo produzidas diariamente por mais de 15 milhes de
habitantes do estado, apenas 4% do lixo era reciclado, 41% descartados em lixes,
36% em locais controlados e apenas 9% em aterros sanitrios. Neste ano, o Governo
do Estado assumiu o compromisso de reverter esse quadro e lanou o projeto Pacto
pelo Saneamento, com a meta de erradicar todos os lixes municipais at 2014, como
determina a Lei Nacional de Resduos Slidos (Prefeitura do Estado do Rio de
Janeiro).
Com base na proposta de regionalizao e nos arranjos intermunicipais que
foram sendo configurados a partir de 2007, deu-se incio implantao em todo o
estado de aterros sanitrios ou de centrais de tratamento de resduos slidos (CTRs),
pblicos ou privados, alm de aes para a remediao dos lixes municipais. Com o
avano das aes implementadas, o quadro apresentou melhora significativa, com 71
cidades do Estado do Rio de Janeiro que passaram a destinar 85,7% de seus resduos
slidos em aterros sanitrios em 2012, ou seja, 13.891 t/dia (Prefeitura do Estado do
Rio de Janeiro).
Para isso, um dos eixos principais o Programa Lixo Zero, que, coordenado
pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), integra o Pacto pelo Saneamento e faz
parte do Plano Guanabara Limpa. Para a execuo do Programa Lixo Zero, os
esforos da Superintendncia de Polticas de Saneamento da SEA se dividem em
duas linhas de atuao: o desenvolvimento do Plano Estadual de Gesto Integrada
dos Resduos Slidos (PEGIRS) e as aes para a erradicao dos lixes no Estado
do Rio de Janeiro.
O PEGIRS teve incio com a assinatura do convnio MMA/SRHU n10/2007,
que estabeleceu a meta original de elaborar uma proposta focando em solues
regionalizadas para o destino final de RSU. Desde ento, foram realizados
diagnsticos dos sistemas de gesto dos resduos slidos dos 92 municpios do
estado, alm de aes para a criao e implementao dos consrcios intermunicipais
para gesto e tratamento adequado dos RSU, tendo como referncia a Lei 11.107, de
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=330838http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=1055505 -
3
06 de abril de 2005, e seu decreto de regulamentao (Decreto 6.017 de 17 de janeiro
de 2007).
Assim, a fim de minimizar o volume de lixo que chega ao aterro e com isso
aumentar seu tempo de vida, uma das aes possveis a busca de alternativas
tecnolgicas de disposio final, tais como a coleta seletiva e a reciclagem de
materiais, alm de prticas como a compostagem e a incinerao, como visto pela
PNRS como destinao final ambientalmente adequada. Adicionalmente, estas
prticas proporcionam valor econmico aos resduos (reciclados, compostados ou
incinerados), uma vez que os introduzem em outras cadeias produtivas como matrias
primas, insumos de produo ou energia. Desta forma, a correta gesto e destinao
de RSU so vistas como pontos essenciais para o desenvolvimento da infra-estrutura
das cidades e para o crescimento do pas.
Portanto, este trabalho surge com o principal intuito de analisar o custo da
gesto e disposio de RSU da Regio Serrana II para as situaes em que essas
alternativas so utilizadas de forma escalonada, levando em considerao o
planejamento da gesto dos resduos desta regio no Programa Lixo Zero.
1.1. Justificativa e Relevncia
Tendo em vista que a gesto adequada dos resduos slidos uma atividade
de extrema importncia para o desenvolvimento das cidades e do pas como um todo,
sua destinao correta deve ser analisada e estudada a fim de que melhores prticas
possam ser adotadas considerando uma viso a longo prazo e de forma estruturante,
promovendo assim uma melhor qualidade de vida para a populao e para o meio
ambiente.
Desta forma, este trabalho tem relevncia na medida em que procura identificar
quais as oportunidades que existem para se adotar prticas que possam reduzir o
volume de RSU destinado aos aterros sanitrios, promovendo uma vida mais longa
para estes stios, reduzindo a necessidade de rea para esta finalidade e promovendo
valor econmico a eles. Assim, buscam-se solues alternativas para a destinao
final de RSU para que se promova uma melhoria no setor de saneamento urbano, que
to importante para o crescimento e o desenvolvimento das cidades.
1.2. Objetivo
Como objetivo principal deste trabalho procura-se diferenciar e comparar trs
situaes de coleta e destinao de RSU para os municpios que compem a Regio
Serrana II, atravs da avaliao de trs indicadores: custo do transporte e destinao
-
4
dos RSU, quantidades de RSU coletadas e destinadas aos aterros e tempo de vida
dos aterros. Essas situaes seguem os princpios da PNRS para a destinao final
ambientalmente adequada, que inclui a reutilizao, a reciclagem e a compostagem,
observando normas operacionais especficas de modo a evitar danos ou riscos
sade pblica e segurana e a minimizar os impactos ambientais adversos. Tais
situaes so as seguintes:
Situao base: Disposio de RSU provenientes dos municpios de Sapucaia,
Trs Rios, Comendador Levy Gasparian, Paraba do Sul e Areal, sem coleta
diferenciada, no aterro sanitrio de Sapucaia e disposio de RSU provenientes de
Petrpolis no aterro controlado no mesmo municpio, com coleta diferenciada e
separao de materiais reciclveis para tratamento em central de triagem.
Situao proposta 1: Disposio dos resduos slidos no reciclveis
provenientes de todos os municpios da Regio Serrana II no aterro sanitrio que ser
construdo em Trs Rios, e a promoo da prtica de coleta seletiva e reciclagem.
Esses municpios faro a coleta dos resduos reciclveis e a estocagem em pequenas
centrais em cada municpio. A central de triagem estar localizada em Trs Rios e
receber os resduos provenientes dessas pequenas centrais, promovendo a
centralizao do tratamento destes resduos. O municpio de Petrpolis far a gesto
de RSU de forma independente, no estando atrelado gesto de resduos reciclveis
dos outros municpios pertencentes ao consrcio. Utiliza apenas o aterro sanitrio em
Trs Rios para a disposio dos resduos no reciclveis.
Situao proposta 2: Disposio dos resduos slidos no reciclveis
provenientes de todos os municpios da Regio Serrana II no aterro sanitrio que ser
construdo em Trs Rios,e a promoo da prtica da coleta seletiva, reciclagem e a
compostagem da matria orgnica. O modelo do sistema de coleta seletiva de
resduos reciclveis apresenta as mesmas caractersticas da situao proposta 1.
Nessa situao, os municpios faro tambm a coleta diferenciada da matria
orgnica, estocando previamente esses resduos nas pequenas centrais em cada
municpio. A usina de compostagem estar localizada tambm em Trs Rios, prxima
central de triagem, onde receber os resduos orgnicos dessas pequenas centrais.
A anlise da gesto de RSU tambm ser considerada separadamente para o
municpio de Petrpolis, j que possui um sistema separado de coleta seletiva de
resduos reciclveis. Ele utilizar o aterro sanitrio em Trs Rios para a disposio dos
resduos no reciclveis e far a coleta diferenciada da matria orgnica, estocando-a
-
5
na sua central de triagem e posteriormente transportando-a para a usina de
compostagem em Trs Rios.
Os objetivos especficos deste trabalho podem ser assim enumerados:
Definir as quantidades geradas e coletadas dos RSU nos municpios da Regio
Serrana II;
Definir as quantidades de RSU que so destinadas aos aterros localizados nos
municpios de Sapucaia e Petrpolis;
Calcular as distncias dos aterros ao centride de cada municpio que compe
a Regio Serrana II, considerando a situao base e as situaes propostas;
Propor uma localizao das centrais de armazenamento de resduos
reciclveis em cada municpio, da central de triagem e da usina de
compostagem, localizadas em Trs Rios;
Calcular os custos de coleta e destinao final de RSU em cada municpio,
considerando a situao base e as situaes propostas;
Calcular os custos da coleta, da operao das unidades de triagem e
destinao dos resduos reciclveis para as recicladoras;
Calcular os custos de operao da usina de compostagem;
Analisar os valores de venda dos materiais reciclveis e do composto orgnico,
aps tratamento;
Definir a cadeia logstica de coleta e destinao dos RSU, tanto para a situao
base e quanto para as situaes propostas;
Calcular as quantidades de RSU destinadas disposio final e o tempo de
vida dos aterros analisados.
Sendo o fator econmico um ponto essencial para a adoo de tais prticas,
esta pesquisa visa avaliar o custo da gesto das trs situaes propostas a fim de
identificar quais seriam os possveis resultados dentro do horizonte de projeto,
levando-se em considerao tambm os aspectos ambientais.
1.3. Estrutura do Trabalho de Concluso de Curso
Este Trabalho composto cinco captulos: (1) Introduo; (2) Gesto de RSU
na Regio Serrana II; (3) Proposta de Reformulao da Gesto de RSU; (4) Anlise
das situaes apresentadas; (5) Anlise dos resultados e (5) Consideraes finais,
limitaes e sugestes. Os primeiros dois captulos retratam a caracterizao da
regio e a apresentao das situaes que sero analisadas ao longo do trabalho,
seguindo pelos captulos (3), (4) e (5) que prope uma nova gesto de RSU para o
-
6
consrcio e apresenta os resultados encontrados a partir das situaes apresentadas
nos primeiros captulos. O captulo (6) encerra o trabalho com as consideraes finais
e as concluses obtidas.
2. Gesto de RSU na Regio Serrana II
2.1. Objeto de Estudo
Este trabalho analisa a disposio final de RSU nos municpios Areal
Comendador Levy Gasparian, Paraba do Sul, Petrpolis, Sapucaia e Trs Rios, que
compem a Regio Serrana II.
O municpio de Sapucaia banhado pelo Rio Paraba do Sul e atravessado por
duas rodovias federais, a BR-393, que acompanha o Rio Paraba do Sul por toda a
fronteira com Minas Gerais, alcanando Trs Rios a sudoeste e Carmo a nordeste, e a
BR-116, que chega a So Jos do Vale do Rio Preto e Terespolis, ao sul, seguindo
rumo norte para Minas Gerais (Prefeitura de Sapucaia). Engloba os distritos Anta,
Jamapar, Nossa Senhora da Aparecida, Pio e Sapucaia, sendo Sapucaia o distrito
de maior populao e Pio o municpio restritamente rural.
O municpio de Trs Rios est localizado na microrregio Centro-Sul
Fluminense (ou de Trs Rios), dentro da mesorregio Centro Fluminense e seu
territrio engloba o encontro dos trs rios, Rio Paraba do Sul, Paraibuna e Piabanha
(IBGE, 2008). Apenas dois distritos compem esses municpios, Bemposta e Trs
Rios, sendo Trs Rios o mais populoso.
Comendador Levy Gasparian est localizado a poucos quilmetros da cidade
de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a 10 minutos de Trs Rios. cortado pela BR-040,
que liga a capital Rio de Janeiro a Belo Horizonte. O municpio engloba os distritos
Afonso Arinos e Comendador Levy Gasparian, sendo o segundo o de maior
populao.
O municpio de Petrpolis localiza-se no topo da Serra da Estrela, pertencente
ao conjunto montanhoso da Serra dos rgos, a 845 metros de altitude mdia, sendo
que a sede municipal est a 810 metros de altitude. Situa-se a 68 km do Rio de
Janeiro e engloba os distritos Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio, Petrpolis e Posse,
sendo Cascatinha e Petrpolis, estritamente urbanos.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sulhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Rioshttp://pt.wikipedia.org/wiki/BR-116http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Vale_do_Rio_Pretohttp://pt.wikipedia.org/wiki/Teres%C3%B3polishttp://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-Sul_Fluminensehttp://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-Sul_Fluminensehttp://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Tr%C3%AAs_Rioshttp://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Fluminensehttp://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sulhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraibunahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piabanhahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz_de_Forahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Geraishttp://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Rioshttp://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_%C3%93rg%C3%A3oshttp://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29 -
7
Areal limitado pelos municpios de Paraba do Sul, Petrpolis e Trs Rios,
estando includo na mesorregio Centro Fluminense e na microrregio Trs Rios.
composto apenas pelo distrito de Areal (IBGE, 2008).
Paraba do Sul limitado pelos municpios de Areal (RJ), Belmiro Braga (MG),
Comendador Levy Gasparian (RJ), Paty do Alferes (RJ), Petrpolis (RJ), Rio das
Flores (RJ), Trs Rios (RJ) e Vassouras (RJ), estando includo na mesorregio Centro
Fluminense e na microrregio Trs Rios (IBGE, 2008). Este municpio composto
pelos distritos Inconfidncia, Paraba do Sul, Salutaris e Werneck.
A localizao da regio de estudo pode ser observada na Figura 1 e as
caractersticas dos municpios desta regio esto resumidas na Tabela 1,
apresentadas a seguir.
Figura 1. Regio de estudo.
Fonte: Guabiroba, 2013.
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
-
8
Tabela 1. Caractersticas dos municpios que compem a regio de estudo
Municpio rea
(km2)
Populao
(hab)
Sapucaia (1) 541 17.525
Trs Rios (2) 326 77.432
Comendador Levy
Gasparian (3) 107 8.180
Paraba do Sul (4) 581 41.084
Petrpolis (5) 796 295.917
Areal (6) 111 11.423
TOTAL 2.462 451.561
Fonte: IBGE (2012)
O presente trabalho avaliar a gerao e gesto de RSU nos municpios
destacados anteriormente, propondo alternativas tecnolgicas como formas de
minimizao da quantidade gerada e dos impactos populao e ao meio ambiente
causados. Primeiramente necessrio definir os conceitos que sero abordados ao
longo dessa anlise.
Segundo a Norma NBR 10.004 Resduos Slidos Classificao, revisada
em 2004, a definio de resduos slidos a seguinte:
Resduos nos estados slido e semi-slido, que resultam de atividades de origem
industrial, domstica, hospitalar, comercial, agrcola, de servios e de varrio. Ficam
includos nesta definio os lodos provenientes de sistemas de tratamento de gua,
aqueles gerados em equipamentos e instalaes de controle de poluio, bem como
determinados lquidos cujas particularidades tornem invivel o seu lanamento na rede
pblica de esgotos ou corpos de gua, ou exijam para isso solues tcnica e
economicamente inviveis em face melhor tecnologia disponvel.
A NBR 10.004 ainda classifica os resduos quanto aos riscos potenciais ao
meio ambiente e sade pblica. A classificao baseia-se nas caractersticas dos
resduos ou quanto concentrao de poluentes em suas matrizes e feita da
seguinte forma:
Classe I Resduos Perigosos
So aqueles cujas propriedades fsicas, qumicas ou infecto-contagiosas
podem acarretarem riscos sade pblica, provocando mortalidade, incidncia de
-
9
doenas ou acentuando seus ndices; e/ou riscos ao meio ambiente, quando o resduo
for gerenciado de forma inadequada.Para que um resduo seja apontado como classe
I, ele deve estar contido nos anexos A ou B da NBR 10004 ou apresentaruma ou mais
das seguintes caractersticas: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e
patogenicidade.
So exemplos de resduos perigosos equipamentos descartados contaminados
com leo, lodos gerados no tratamento de efluentes lquidos de pintura industrial,
lmpada com vapor de mercrio aps o uso (fluorescentes), entre outros. LEO
Classe II Resduos No Perigosos
o Classe II A Resduos No Perigosos No Inertes
So aqueles que no se enquadram nas classificaes de resduos classe I -
Perigosos ou de resduos classe II B - Inertes. Os resduos classe II A No inertes
podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou
solubilidade em gua.
Como exemplos de resduo no perigoso no inerte esto o lixo comum, restos
de alimentos, madeira, materiais txteis, resduos de papel e papelo, sucatas de
metais ferrosos entre outros materiais no perigosos.
o Classe II B Resduos No Perigosos Inertes
So quaisquer resduos que, quando amostrados de uma forma representativa,
segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinmico e esttico com
gua destilada ou desionizada, temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006,
no tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentraes superiores
aos padres de potabilidade de gua, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e
sabor, conforme anexo G, da NBR 10004.
Alm destes critrios, outras formas de classificao dos resduos slidos so
utilizadas. Segundo a PNRS, quanto origem, os diferentes tipos de resduos slidos
so agrupados da seguinte forma:
Resduos Domiciliares
So os originrios de atividades domsticas em residncias urbanas.
Resduos de Limpeza Urbana
-
10
So os originrios da varrio, limpeza de logradouros e vias pblicas e outros
servios de limpeza urbana.
Resduos Slidos Urbanos
So os englobados pelos resduos domiciliares e de limpeza urbana.
Resduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Servios
So os gerados nessas atividades, excetuados os resduos de limpeza urbana, de
saneamento bsico, de servios de sade, de construo civil e de servios de
transporte. Esses resduos, se caracterizados como no perigosos, podem, em razo
de sua natureza, composio ou volume, ser equiparados aos resduos domiciliares
pelo poder pblico municipal.
Resduos dos Servios Pblicos de Saneamento Bsico
So os gerados nessas atividades, excetuados os resduos slidos urbanos.
Resduos Industriais
So os gerados nos processos produtivos e instalaes industriais.
Resduos de Servios de Sade
So os gerados nos servios de sade, conforme definido em regulamento ou em
normas estabelecidas pelos rgos do Sisnama e do SNVS.
Resduos da Construo Civil
So os gerados nas construes, reformas, reparos e demolies de obras de
construo civil, includos os resultantes da preparao e escavao de terrenos para
obras civis.
Resduos Agrossilvopastoris
So os gerados nas atividades agropecurias e silviculturais, includos os relacionados
a insumos utilizados nessas atividades.
Resduos de servios de transportes
So os originrios de portos, aeroportos, terminais alfandegrios, rodovirios e
ferrovirios e passagens de fronteira.
-
11
Resduos de minerao
So os gerados na atividade de pesquisa, extrao ou beneficiamento de minrios.
Desta forma, o presente trabalho avaliar os resduos slidos urbanos
classificados pela PNRS que, segundo a NBR 1004, so resduos no perigosos
inertes ou no inertes (classe II). A fonte dos dados relativos gerao de resduos
ser a Secretaria Estadual do Ambiente - SEA, relativa ao ano 2011.
Para a gesto de RSU, sero propostas alternativas tecnolgicas que visam
minimizar a gerao destes resduos e destin-los para outros fins.
2.2. Gerao e Coleta de RSU na Regio Serrana II
A gerao dos RSU dos municpios Areal, Comendador Levy Gasparian,
Paraba do Sul, Petrpolis, Sapucaia e Trs Rios, que compem a Regio Serrana II,
est indicada na Tabela 2 (SEA, 2011), assim como a gravimetria dos resduos
descartados pelas populaes destes municpios. Observa-se que Petrpolis o
municpio de maior gerao de RSU, seguido por Trs Rios e Paraba do Sul. Nota-se
tambm que a frao de matria orgnica possui maior destaque na composio dos
RSU desta regio.
-
12
Tabela 2. Gerao dos RSU dos municpios da Regio Serrana II, e sua gravimetria
Municpio Distrito Populao
Gerao total Gerao resduos reciclveis
(kg/hab/dia) (ton/dia)
Matria Orgnica
Metal Vidro Plstico Papel Outros
Urbana Rural 53,63% 1,74% 2,84% 20,31% 16,08% 5,40%
Areal Areal 9.923 1.500 0,50 4,962 2,661 0,086 0,141 1,008 0,798 0,268
Comendador Levy Gasparian
Afonso Arinos 1.191 176 0,50 0,596 0,319 0,010 0,017 0,121 0,096 0,032
Comendador Levy Gasparian 6.671 142 0,50 3,336 1,789 0,058 0,095 0,677 0,536 0,180
Paraba do Sul
Inconfidncia 511 1.389 0,65 0,332 0,178 0,006 0,009 0,067 0,053 0,018
Paraba do Sul 18.078 1.551 0,65 11,751 6,302 0,204 0,334 2,387 1,890 0,635
Salutaris 14.432 1.348 0,65 9,381 5,031 0,163 0,266 1,905 1,508 0,507
Werneck 3.133 642 0,65 2,036 1,092 0,035 0,058 0,414 0,327 0,110
Petrpolis
Cascatinha 64.936 - 0,90 58,442 31,343 1,017 1,660 11,870 9,398 3,156
Itaipava 13.843 6.601 0,90 12,459 6,682 0,217 0,354 2,530 2,003 0,673
Pedro do Rio 8.694 5.385 0,90 7,825 4,196 0,136 0,222 1,589 1,258 0,423
Petrpolis 185.876 - 0,90 167,288 89,717 2,911 4,751 33,976 26,900 9,034
Posse 7.937 2.645 0,90 7,143 3,831 0,124 0,203 1,451 1,149 0,386
Sapucaia
Anta 3.494 260 0,55 1,922 1,031 0,033 0,055 0,390 0,309 0,104
Jamapar 3.523 521 0,55 1,938 1,039 0,034 0,055 0,394 0,312 0,105
Nossa Senhora da Aparecida 854 666 0,55 0,470 0,252 0,008 0,013 0,095 0,076 0,025
Pio 0 1.702 0,55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sapucaia 5.402 1.103 0,55 2,971 1,593 0,052 0,084 0,603 0,478 0,160
Trs Rios Bemposta 1.729 2.025 0,70 1,210 0,649 0,021 0,034 0,246 0,195 0,065
Trs Rios 73.436 242 0,70 51,405 27,569 0,894 1,460 10,440 8,266 2,776
Total 423.663 27.898 345,466 185,273 6,011 9,811 70,164 55,551 18,655
Fonte: SEA, 2011.
-
13
Conhecida a previso de gerao dos resduos slidos na regio considerada,
possvel analisar a distribuio da gerao de cada distrito em relao a cada
municpio e a gerao de cada municpio em relao regio total, como mostra as
Figuras 2 e 3. A Figura 2 mostra que Petrpolis o municpio de maior gerao de
RSU, em relao gerao total de resduos na regio em estudo, e Comendador
Levy Gasparian o municpio de menor gerao. A Figura 3 permite identificar a
distribuio da gerao de RSU em cada municpio e com isso, pode auxiliar o
planejamento da gesto destes resduos na regio abrangida pelo consrcio pblico.
Figura 2. Gerao de RSU dos municpios em relao gerao total da Regio Serrana II
Fonte: Elaborao prpria.
-
14
Figura 3.Gerao de RSU dos distritos em relao gerao total dos municpios
Fonte: Elaborao prpria.
Em relao coleta de RSU, Petrpolis o nico municpio que possui um
programa de coleta diferenciada, implementado em junho de 2010, e a separao dos
resduos reciclveis. A empresa responsvel pela gesto dos RSU a COMDEP
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrpolis. uma empresa de
economia mista responsvel pela destinao adequada de resduos de capina, pneus
inservveis, resduos reciclveis e no-reciclveis. A coleta de resduos no-reciclveis
realizada por uma empresa contratada pela COMDEP, enquanto a coleta de
resduos reciclveis realizada pela prpria COMDEP, em sete bairros, Mosela,
Bataillard, Pedras Brancas, Morin, Valparaso, Alto da Serra e Bingen. Para iniciar a
operao de coleta diferenciada, foi arbitrado que os dois tipos de coleta, a
diferenciada e a no diferenciada, no seriam realizadas no mesmo dia, a fim de
facilitar o processo.
-
15
Um ms antes do incio da operao de coleta em um bairro, uma equipe da
COMDEP visita cada residncia. Um panfleto, com a explicao sobre a coleta
seletiva, seus benefcios e a forma de participar do programa, e um im de geladeira,
com o nmero de contato da COMDEP e o dia da semana em que a coleta seletiva
ser realizada neste bairro, so deixados em cada residncia para informar os
moradores. Alm disso, a empresa utiliza um carro de som, ao longo de um ms, para
informar a populao sobre a implementao da coleta seletiva, a data de incio do
programa e o dia da semana de coleta. Esse carro de som continua atuando at
completar dois meses de incio do programa. Uma semana antes do incio da
operao, os agentes da COMDEP visitam novamente as residncias e distribuem os
sacos de lixo para acondicionamento dos reciclveis. Esse saco de lixo transparente,
para que os coletores possam verificar se o morador fez a correta separao dos
materiais reciclveis. Caso a separao no seja correta, o coletor responsvel por
informar o morador o erro cometido e corrigi-lo, orientando-o sobre como a separao
deve ser feita.
Para a realizao da coleta, so disponibilizados de dois a trs caminhes,
dependendo da rea do bairro. So caminhes mdios cabine dupla (peso bruto total
de 9 t, marca Mercedes Benz, modelo 914). As carrocerias podem ser do tipo ba de
alumnio fechado ou carroceria aberta gradeada. Os veculos tem SUS lotao
esgotada por volume e carregam em mdia 900 kg por viagem, realizando em torno de
duas viagens por dia, o que permite coletar em torno de 1000 sacos de lixo cheios por
dia.
Os resduos recolhidos so destinados para cooperativas de reciclagem, que
faro a separao dos materiais por tipo (vidro, plstico, metal, papel e papelo,
alumnio), para que sejam enviados para as respectivas empresas recicladoras. A
cooperativa de reciclagem cadastrada no municpio a Cooperativa Esperana,
responsvel pela separao dos resduos reciclveis e enviodestes resduos para o
agente intermedirio, localizado no municpio Paraba do Sul, que ser o responsvel
direto pela negociao da venda dos resduos reciclveis s empresas recicladoras.
No caso dos municpios Sapucaia, Areal, Comendador Levy Gasparian, Trs
Rios e Paraba do Sul, no existe a coleta diferenciada dos RSU e as prefeituras
municipais so atualmente as responsveis pela coleta e destinao final destes
resduos. Atravs da implantao do Programa Lixo Zero, processos de licitao
sero abertos para a contratao de empresas terceirizadas, que passaro a ser as
responsveis pela coleta e transportes dos RSU para sua destinao final.
-
16
Nestes municpios a coleta seletiva e a separao dos resduos reciclveis
possui pouca expresso, existindo programas que esto sendo estudados e
implementados aos poucos. Outra ao proposta pelo Programa Lixo Zero a
elaborao de um plano de coleta seletiva e reciclagem, que ser feito em conjunto
com a SEA, a fim de implement-lo efetivamente. Nos casos em que os municpios
possuam algum sistema de coleta seletiva, este est em reformulao pelo programa.
2.3. Disposio Final dos RSU na Regio Serrana II
A disposio final dos RSU a prtica de dispor os resduos slidos urbanos
no solo previamente preparado para receb-los, de acordo com critrios tcnico-
construtivos e operacionais adequados, em consonncia com as exigncias dos
rgos ambientais competentes. Segundo a PNRS, disposio final ambientalmente
adequada a distribuio ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais especficas de modo a evitar danos ou riscos sade pblica e
segurana e a minimizar os impactos ambientais adversos. Os RSU podem ser
dispostos da seguinte forma:
Lixo, lanamento a cu aberto ou vazadouro
a forma de dispor os RSU com uma simples descarga sobre o solo, sem
nenhum tipo de proteo ao meio ambiente. Nesta forma no existe nenhum tipo de
controle do volume disposto no solo e da contaminao que este provoca ao meio. Por
isso, suas principais conseqncias so: proliferao de vetores de doenas, gerao
de maus odores, poluio do solo, poluio das guas subterrneas e superficiais e
poluio do ar. Neste tipo de disposio, comum a presena de catadores, que
recolhem dos montantes depositados,materiais que podem ser reaproveitados e
vendidos para empresas recicladoras.
Aterro controlado
Essa tcnica de disposio dos RSU utiliza alguns princpios de engenharia
para confinar os RSU, a fim de minimizar a contaminao do meio ambiente e
exposio da populao local contaminao por vetores de doenas, como a
cobertura dos resduos com material inerte na concluso de cada jornada de trabalho.
Porm no apresenta nenhum tipo de impermeabilizao do solo da base da
disposio, levando com isso ao comprometimento da qualidade das guas
subterrneas e do prprio solo (Faria, 2002).
-
17
Aterro sanitrio
Segundo a ABNT, NBR8419/84, o aterro sanitrio uma tcnica de disposio
dos resduos slidos no solo, sem causar danos sade e segurana pblica,
minimizando os impactos ambientais; mtodo este que utiliza princpios de engenharia
para confinar resduos slidos menor rea possvel e reduzi-lo ao menor volume
permissvel, cobrindo-os com uma camada de terra na concluso de cada jornada de
trabalho, ou em intervalos menores, se necessrio. Essa tcnica utiliza um projeto de
impermeabilizao da base do aterro, sistemas de drenagem perifrica e superficial
para afastamento de guas de chuva, sistemas de drenagem de fundo para a coleta
do percolado (chorume), sistema de tratamento do percolado drenado e um sistema
de drenagem e queima dos gases gerados durante o processo de bioestabilizao da
matria orgnica.
Dentre as principais vantagens dos aterros sanitrios, esto os baixos custos
de implantao e de operao; possibilidade de utilizao de mo-de-obra no
especializada; aceitao de qualquer tipo de resduo, at industriais, desde que
projetados e construdos para tal; possibilidade de recuperao de gs; controle de
vetores de doenas e a transformao natural e biolgica do material degradvel em
estabilizado (Faria, 2002).
As principais desvantagens so a dificuldade em encontrar reas de tamanho
adequado, prximas aos centros de produo dos resduos; gasto com transporte e
disposio dos resduos; dificuldade de obteno de materiais para a cobertura das
clulas; necessidade de controle contnuo para que se evite a deteriorao do aterro,
transformando-o em vazadouro e necessidade de encontrar outra rea aps o
esgotamento do aterro (Faria, 2002).
Os municpios da Regio Serrana II utilizam, em sua maioria, os lixes, como
principal forma de disposio final dos RSU, com exceo dos municpios de
Petrpolis e Sapucaia.
O municpio de Petrpolis destina seus resduos para um aterro controlado no
distrito de Pedro do Rio, que j se encontra numa situao de saturao e por isso
considerado como um vazadouro, em recuperao. Este aterro est situado margem
direita da rodovia BR-040, no sentido Juiz de Fora-Rio de Janeiro, de coordenadas
N=7530600 e E=691800, distando cerca de 40 km da regio central do municpio de
Petrpolis. O aterro utiliza uma rea de transbordo localizada no km 70 da BR-040,
que tem capacidade para receber aproximadamente 300 t/dia.
-
18
J o municpio de Sapucaia utiliza um aterro sanitrio para dispor os RSU
gerados. Esse aterro foi projetado e construdo pela empresa Furnas/Eletrobrs a fim
de cumprir a condicionante da licena para a instalao do empreendimento
Aproveitamento Hidreltrico (AHE) Simplcio, no rio Paraba do Sul. Antes da
construo do aterro, os resduos provenientes do municpio de Sapucaia eram
dispostos num antigo vazadouro no distrito de Anta. Por pertencer rea de
construo da barragem da hidroeltrica de Simplcio, Furnas/Eletrobrs se tornou a
responsvel pela remediao deste passivo ambiental e pela construo de um local
adequado para a disposio de resduos. Assim, a Furnas/Eletrobrs responsvel
por administrar o aterro e a empresa Novatec a responsvel pela sua operao.
O aterro sanitrio de Sapucaia est localizado a 7,9 km de Sapucaia (N=
7499514,90 E=802864,10), no km 124,4 na BR 393, pertencente Fazenda
Mangueira da Boa Esperana. Foi projetado para receber um montante de 250.000 tde
RSU, ao longo de 18 anos de funcionamento e ocupar uma rea de 8,41 hectares,
conforme foi definida pela sua licena de instalao, LI N IN001508 emitida pelo
Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
De acordo com o relatrio mensal de operao de junho de 2012, a operao
do aterro engloba as seguintes atividades:
Recebimento, espalhamento, compactao e cobertura diria do lixo
proveniente, exclusivamente, do Municpio de Sapucaia;
Coleta, transporte e tratamento do chorume contido no tanque de
armazenamento. O tratamento efetuado pela Concessionria guas do
Imperador, em sua Estao de Tratamento Palatinado, no Municpio de
Petrpolis;
Manuteno das vias de acesso externas e internas s clulas do Aterro
Sanitrio;
Manuteno de pista de acesso nova clula da fase 2 do Aterro Sanitrio;
Manuteno da drenagem pluvial em meias-calhas de concreto,DN= 40 cm;
Irrigao diria com pipa rebocvel de todas as reas plantadas, com nfase
nas recm hidro-semeadas;
Manuteno dos taludes na cota 265 do Aterro Sanitrio;
Recomposio dos drenos de percolados danificados e/ou entupidos pela lama
da poca das chuvas, com a substituio das pedras e da geomanta.
-
19
Os municpios de Trs Rios e Areal destinam seus resduos para um lixo
localizado em Trs Rios. J Comendador Levy Gasparian e Paraba do Sul possuem
lixes prprios, para onde so destinados os RSU gerados nestes municpios.
As aes propostas pelo Programa Lixo Zero para esta regio, elaborado pelo
Governo do Estado em conjunto com a SEA, prevem, em sua 1 Fase, a adequao
do aterro sanitrio de Sapucaia para receber os resduos provenientes dos municpios
de Sapucaia, Trs Rios, Areal, Comendador Levy Gasparian e Paraba do Sul. Este
ser um aterro consorciado para estes municpios, com exceo de Petrpolis, que
continuar com o vazadouro ativo. A 1 Fase do projeto est prevista para ser iniciada
quando do trmino da concesso de operao do aterro pela Furnas/Eletrobrs, que
est previsto para acontecer ainda no ano de 2013. J a 2 Fase do projeto, prev a
desativao dos aterros de Sapucaia e Petrpolis e a construo de um aterro
sanitrio consorciado em Trs Rios, que ser construdo com recursos do FECAM
(Fundo de Estadual de Conservao Ambiental e Desenvolvimento Urbano). Ainda
no existe uma data prevista para a concluso dessa fase.
O projeto executivo do aterro sanitrio de Trs Rios ainda no foi elaborado e,
segundo a SEA, encontra-se em processo de avaliao para adoo da modalidade
parceria pblico-privada. A princpio sua localizao seria junto ao atual lixo em Trs
Rios, km 17 da rodovia BR 040 (N= 7565822,73 E= 706472,06).
O projeto do Consrcio da Regio Serrana II se encontra no seguinte status:
Aterro Sanitrio de Sapucaia
Gleba 1: em operao pela Furnas/Eletrobrs, atendendo ao municpio de
Sapucaia. Possui pendncias no licenciamento em relao licena de operao
(LO).
Gleba 2(vida til: 2 anos): construdo pela Furnas/Eletrobrs, para atender ao
Consrcio. A operao consorciada est em fase de nova licitao pelo consrcio com
transbordo no atual lixo de Trs Rios, sendo um destino provisrio, com exceo de
Petrpolis. O aterro possui uma licena de instalao (LI) e a licena de operao (LO)
ainda precisa ser requerida pela prefeitura.
Aterro Sanitrio de Trs Rios
O municpio est declarando a rea como de utilidade pblica. A Ecologus a
empresa responsvel pela elaborao do termo de referncia para contratao da
adequao do projeto bsico existente, incluindo remediao do lixo em Trs Rios,
-
20
melhorias no acesso rea e obteno da licena prvia (LP), alm de ser
responsvel pelo edital de concesso. O Consrcio contar com a participao do
Estado e conceder a construo e operao da Central de Tratamento de Resduos.
A partir da apresentao dos municpios pertencentes regio de estudo e a
caracterizao dos RSU gerados, ser proposta uma reformulao da gesto de RSU
para esses municpios, considerando o Programa do Lixo Zero elaborado pela SEA
para o consrcio pblico da Regio Serrana II. Essa proposta levar em considerao
dos princpios da gesto integrada de RSU e o modelo apresentado no Manual para
Implantao de Compostagem e de Coleta Seletiva no mbito de Consrcios Pblicos
(MMA, 2010), sendo feita uma comparao posteriormente com exemplos prticos que
existem hoje de municpios brasileiros que realizam a coleta seletiva.
3. Proposta de Reformulao da Gesto de RSU
3.1. Gesto Integrada de RSU
Segundo a PNRS, gerenciamento de resduos slidos o conjunto de aes
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinao final ambientalmente adequada dos resduos slidos e
disposio final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano
municipal de gesto integrada de resduos slidos ou com plano de gerenciamento de
resduos slidos. Gerenciar os resduos de forma integrada articular aes
normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma administrao
municipal desenvolve, apoiada em critrios sanitrios, ambientais e econmicos, para
coletar, tratar e dispor o lixo de uma cidade,ou seja: acompanhar de forma criteriosa
todo o ciclo dos resduos, da gerao disposio final, empregando as tcnicas mais
compatveis com a realidade local (SCHALCH et al, 2002).
O Gerenciamento Integrado de RSU emprega o envolvimento de diferentes
rgos da administrao pblica e da sociedade civil com o propsito de realizar a
limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposio final do lixo. Por ter o propsito
de garantir a qualidade de vida da populao, leva em considerao as caractersticas
das fontes de produo, as caractersticas sociais e peculiaridades demogrficas, o
volume e os diferentes tipos de resduos, para dar a eles um tratamento diferenciado e
disposio final tcnica e ambientalmente adequadas. Para tanto, as aes
operacionais, financeiras e de planejamento devem se realizar de modo articulado,
segundo a viso de que elas encontram-se interligadas.
-
21
Por conta desse conceito, no gerenciamento integrado so preconizados
programas enfocando a mxima reduo da produo de lixo, o mximo
reaproveitamento e reciclagem de materiais e, ainda, a disposio dos resduos de
forma mais sanitria e ambientalmente adequada, abrangendo toda a populao e a
universalidade dos servios.
A Tabela 3 e Figura 4 sugerem as aes obrigatrias e recomendveis para o
gerenciamento integrado de resduos slidos e a Figura 5 sugere as operaes a
serem efetuadas.
Tabela 3. Aes obrigatrias para o gerenciamento integrado de resduos slidos
Servio de Limpeza Pblica Metas
Limpeza Acondicionamento, coleta
e transporte
Coletar e transportar o lixo
pelo qual a prefeitura
responsvel
Destinao (disposio)
final do lixo
Lixo ou aterro controlado Remediar lixo
Implantar aterro sanitrio
Aterro sanitrio
Assegurar que a operao
atenda padres tcnicos e
ambientais, o que inclui a
reutilizao da rea no
futuro
Fonte: SCHALCHet al, 2002.
Figura 4. Aes recomendveis para o gerenciamento integrado de resduos slidos
Fonte: SCHALCH et al, 2002.
-
22
Figura 5. Operaes efetuadas na rea de resduos slidos
Fonte: SCHALCH et al, 2002.
-
23
Finalmente, o gerenciamento integrado revela-se com a atuao de
subsistemas especficos que demandam instalaes, equipamentos, pessoal e
tecnologia, no somente disponveis na prefeitura, mas oferecidos pelos demais
agentes envolvidos na gesto, entre os quais se enquadram:
a prpria populao, empenhada na separao e acondicionamento
diferenciado dos materiais reciclveis em casa;
os grandes geradores, responsveis pelos prprios rejeitos;
os catadores, organizados em cooperativas, capazes de atender coleta de
reciclveis oferecidos pela populao e comercializ-los junto s fontes de
beneficiamento;
os estabelecimentos de sade, tornando os resduos inertes ou oferecendo
coleta diferenciada, quando isso for imprescindvel;
a prefeitura, atravs de agentes, instituies e empresas contratadas, que por
meio de acordos, convnios e parcerias exerce o papel protagonista no
gerenciamento integrado de todo o sistema.
Segundo o manual de orientao dos planos de gesto de resduos slidos,
elaborado pelo Ministrio do Meio Ambiente, nos municpios, nas regies em
consorciamento ou em consrcio pblico j constitudo, o processo de elaborao do
PGIRS, pode seguir uma metodologia passo a passo indicada a seguir, avanando
gradativamente nos primeiros esforos de estruturao das instncias de elaborao,
para a fase de diagnstico participativo, para o planejamento coletivo das aes e, por
final, para a etapa de implementao.
1. Reunio dos agentes pblicos envolvidos e definio do Comit Diretor para o
processo;
2. Identificao das possibilidades e alternativas para o avano em articulao
regional com outros municpios;
3. Estruturao da agenda para a elaborao do PGIRS;
4. Identificao dos agentes sociais, econmicos e polticos a serem envolvidos
(rgos dos executivos, legislativos, ministrio pblico, entidades setoriais e
profissionais, ONGS e associaes, etc.) e constituio do Grupo de
Sustentao para o processo;
5. Estabelecimento das estratgias de mobilizao dos agentes, inclusive para o
envolvimento dos meios de comunicao (jornais, rdios e outros);
6. Elaborao do diagnstico expedito (com apoio dos documentos federais
elaborados pelo IBGE, Ipea, SNIS) e identificao das peculiaridades locais;
-
24
7. Apresentao pblica dos resultados e validao do diagnstico com os rgos
pblicos dos municpios e com o conjunto dos agentes envolvidos no Grupo de
Sustentao (pode ser interessante organizar apresentaes por grupos de
resduos);
8. Envolvimento dos Conselhos Municipais de Sade, Meio Ambiente e outros na
validao do diagnstico;
9. Incorporao das contribuies e preparo de diagnstico consolidado;
10. Definio das perspectivas iniciais do PGIRS, inclusive quanto gesto
associada com municpios vizinhos;
11. Identificao das aes necessrias para a superao de cada um dos
problemas;
12. Definio de programas prioritrios para as questes e resduos mais
relevantes com base nas peculiaridades locais e regionais em conjunto com o
Grupo de Sustentao;
13. Definio dos agentes pblicos e privados responsveis pelas aes a serem
arroladas no PGIRS;
14. Definio das metas a serem perseguidas em um cenrio de 20 anos
(resultados necessrios e possveis, iniciativas e instalaes a serem
implementadas e outras);
15. Elaborao da primeira verso do PGIRS (com apoio em manuais produzidos
pelo Governo Federal e outras instituies) identificando as possibilidades de
compartilhar aes, instalaes e custos, por meio de consrcio regional;
16. Estabelecimento de um plano de divulgao da primeira verso junto aos
meios de comunicao (jornais, rdios e outros);
17. Apresentao pblica dos resultados e validao do plano com os rgos
pblicos dos municpios, e com o conjunto dos agentes envolvidos no Grupo de
Sustentao (ser importante organizar apresentaes em cada municpio
envolvido, inclusive nos seus Conselhos de Sade, Meio Ambiente e outros);
18. Incorporao das contribuies e consolidao do PGIRS;
19. Discusses e tomada de decises sobre a converso ou no do PGIRS em lei
municipal, respeitada a harmonia necessria entre as leis de diversos
municpios, no caso de constituio de consrcio pblico;
20. Divulgao ampla do PGIRS consolidado;
21. Definio da agenda de continuidade do processo, de cada iniciativa e
programa, contemplando inclusive a organizao de consrcio regional e a
reviso obrigatria do PGIRS a cada 4 anos;
22. Monitoramento do PGIRS e avaliao de resultados.
-
25
3.2. Possveis Formas de Tratamento de RSU
Os municpios da regio estudada encontram-se numa situao crtica quando
analisada a gesto dos RSU gerados. Os lixes so utilizados como principal forma
de disposio dos RSU nestes municpios, no existe nenhuma forma de tratamento
alternativo dos resduos nesta regio e poucas campanhas so realizadas a fim de
conscientizar a populao para a reduo da gerao de resduos atravs do
reaproveitamento e reutilizao dos materiais.
Este cenrio mostra a importncia deste estudo em apresentar novas prticas
que possam promover um processo de gesto mais adequado, quando so
considerados os impactos ambientais e a qualidade de vida da populao,
considerando as aes que esto sendo adotadas pelo Programa do Lixo Zero.
Desta forma, este trabalho prope as seguintes prticas, que podero ser adotadas a
fim de reduzir o volume de RSU destinado aos aterros.
3.2.1. Reciclagem
o processo pelo qual um material separado do lixo e reintroduzido no ciclo
produtivo como matria-prima e transformado em novo produto, seja igual ou
semelhante ao anterior e podendo assumir caractersticas distintas das iniciais.
O processo de reciclagem envolve o princpio da coleta seletiva, em que so
separados previamente pela populao, em cada residncia, os resduos de acordos
com seus tipos, plstico, papel e papelo, vidro e metal. A coleta feita de forma
diferenciada, de acordo com a separao feita pela populao. A prxima etapa
consiste na triagem, onde se dar uma nova etapa de separao, porm mais
detalhada que a anterior. Aps esta etapa, os materiais so beneficiados e
acondicionados. Os metais e papis so prensados e enfardados, os vidros so
triturados, os plsticos so lavados e transformados em pequeninas pelotas (Faria,
2002).
Tanto a triagem como o beneficiamento e o acondicionamento so realizados
em locais especificamente destinados a estas finalidades, sendo chamados de
Centros de Reciclagem (ou de Triagem). Em seguida, os materiais so armazenados
para distribuio s indstrias recicladoras. A ltima etapa acontece no prprio
processo industrial, atravs do aproveitamento dos materiais para produo de bens,
tanto os dirigidos para o consumidor final quanto os destinados ao processamento
industrial intermedirio (Faria, 2002).
-
26
O processo de reciclagem de grande importncia nos dias atuais. Atravs
dele, pode-se diminuir consideravelmente o peso e o volume dos resduos que so
encaminhados aos aterros e pode-se obter um retorno financeiro do processo,
podendo viabilizar as solues para gerenciamento dos resduos slidos.
3.2.2. Compostagem
A compostagem definida como o ato ou ao de transformar a frao
orgnica dos resduos, atravs de processos fsicos, qumicos e biolgicos, em uma
matria orgnica mais estvel e resistente ao das espcies consumidoras (Faria,
2002).
A matria orgnica presente no lixo sofre decomposio aerbia e anaerbia
pela ao de microrganismos. Esse processo possibilita uma enorme reduo da
quantidade de material a ser encaminhado para os aterros sanitrios. Apesar de ser
considerado um mtodo de tratamento, o composto tambm pode ser entendido como
um produto da reciclagem da matria orgnica (Faria, 2002).
Os sistemas de compostagem utilizam os princpios fsicos e biolgicos e se
diferenciam quanto aos equipamentos, a forma de disposio, entre outras
caractersticas. O tratamento fsico destina-se ao preparo dos resduos, favorecendo a
ao biolgica. Nesta etapa, os resduos sofrem processo de separao manual e/ou
mecnica, onde a frao inorgnica retirada da massa. A seguir, os resduos
restantes so gradualmente triturados, homogeneizados e enviados para leiras, onde
permanecem de 90 a 120 dias. A partir da, se dar o tratamento biolgico, com a
decomposio da matria orgnica. Pode-se adicionar lodo de estaes de tratamento
de esgotos a fim de acelerar o processo (Faria, 2002).
No Brasil um pas de origem agrcola, h pouca tradio na produo de
compostos orgnicos, existindo um nmero reduzido destes sistemas em operao.
No Estado do Rio de Janeiro so inmeras as usinas de reciclagem e compostagem
construdas pelas prefeituras e, atualmente, desativadas (Faria, 2002). As prefeituras
justificam o fracasso por diversas razes:
Falta de caracterizao dos resduos processados, causando uma avaliao
equivocada do sistema;
Ausncia de recursos financeiros para manuteno do sistema;
Inexistncia de capacitao tcnica para operar adequadamente;
Falta de tradio no uso do composto oriundo do lixo.
-
27
O composto orgnico produzido pela compostagem do lixo domiciliar tem como
principais caractersticas a presena de hmus e nutrientes minerais, e sua qualidade
em funo da maior ou menor quantidade desses elementos. O composto orgnico
pode ser utilizado em qualquer tipo de cultura, associados ou no a fertilizantes
qumicos. Pode ser utilizado para corrigir a acidez do solo e recuperar reas erodidas
(Delgado, 2009).
Cabe ressaltar que esse composto deve ser regularmente submetido a anlises
fsico-qumicas de forma a assegurar o padro mnimo de qualidade estabelecido pelo
governo federal. Uma das principais preocupaes em relao presena de metais
pesados em concentraes que possam prejudicar as culturas agrcolas e o
consumidor, porm a legislao brasileira atual no define parmetros de
concentraes dessas substncias (DAlmeida e Vilhena, 2000). A Portaria do
Ministrio da Agricultura n 84, de 29/03/82 apenas exige que haja uma declarao
expressa da ausncia de agentes fitotxicos, metais pesados, agentes poluentes,
pragas e ervas daninhas (Monteiro, 2001).
Tendo em vista os processos apresentados, este trabalho avaliar a adoo
destas prticas na gesto de RSU na Regio Serrana II, levando em considerao os
custos dos processos que seriam introduzidos nesta gesto e as quantidades de
resduos que seriam administradas para a destinao final.
3.3. Proposta de Implantao da Coleta Seletiva em Consrcios
Pblicos
O Manual para Implantao de Compostagem e de Coleta Seletiva no mbito
de Consrcios Pblicos (MMA, 2010) prope as etapas para a implantao da coleta
seletiva e estabelece os procedimentos que devero ser adotados para que ela seja
implantada. Por estar diretamente vinculada Poltica Nacional de Resduos Slidos
(Lei N 12.305, 2010), que consagra a coleta seletiva como um dos principais
instrumentos da gesto dos resduos, este manual servir de base para as situaes
propostas levantadas neste trabalho.
Em linhas gerais, os modelos de coleta seletiva podem ser classificados em
dois grandes grupos: a coleta porta a porta, em que veculos especficos percorrem as
ruas fazendo a coleta em cada domiclio, e a coleta em pontos determinados para os
quais a populao leva os resduos separados, os PEVs (Pontos de Entrega
Voluntria) ou LEVs (Locais de Entrega Voluntria), chamada de coleta ponto a ponto.
-
28
Neste caso, os pontos de entrega so identificados para receber resduos previamente
selecionados pela populao, que deve transport-los at esses locais.
Em relao coleta seletiva porta a porta, as vantagens observadas so em
relao manter o mesmo manejo da coleta convencional, em que a populao
dispe os resduos em determinados dias e horrios, acondicionados de maneira
separada. Esse modelo concentra a mudana de comportamento na segregao dos
resduos e dispensa o transporte dos resduos por parte do usurio at o local da
coleta, permitindo maior adeso da populao ao programa e uma melhor correo da
segregao pela possibilidade de contato direto do agente da coleta com o morador.
Dentre as desvantagens, podem ser destacados os altos custos de transporte e a
baixa produtividade por quilmetro percorrido.
Na coleta feita em PEVs ou LEVs, o sistema permite menores custos de
transporte, pois concentra a coleta em pontos pr-determinados, evita que a
populao necessite de local prprio para acumulao dos reciclveis e facilita a
separao por tipo de resduo, facilitando o processo de triagem. A formao de
parcerias e a publicidade, permitida por esse sistema, diminui os custos de
implantao e manuteno. Por outro lado, esse sistema possui algumas
desvantagens, como a necessidade de um grande nmero de recipientes, que devem
ser adquiridos pelo poder pblico, demanda maior disposio da populao e no
facilita o contato direto com os usurios, no permitindo a correo da segregao
mais de perto.Alm disso, os containeres ficam sujeitos a atos de vandalismo e
exigem constante manuteno e limpeza.
Desta forma, o manual surge com um modelo proposto que rene as
vantagens de cada modalidade, buscando ao mesmo tempo equacionar a presena
dos catadores no processo da coleta seletiva, de forma organizada e estruturada e sob
responsabilidade do consrcio. O modelo engloba o contato direto com os usurios, a
facilidade de verificar a adeso do usurio ao servio, a dispensa de deslocamento do
usurio ao PEV, que amplia as possibilidades de adeso, que so a proposta da
coleta porta a porta, e a economia de custos de transporte, proposta pelo sistema de
coleta em PEVs.
O modelo da coleta seletiva proposto prev a coleta porta a porta com
catadores, a concentrao provisria do material recolhido num ponto, que deve ser
uma instalao usada tambm para entrega de pequenos volumes de resduos slidos
domiciliares e resduos da logstica reversa, e o transporte com veculos maiores
destes pontos at os galpes de triagem. Ao invs do usurio levar os resduos a um
-
29
ponto previamente estabelecido, os catadores so os responsveis por tal ao,
depois de percorrerem um roteiro de coleta planejado em conjunto com a prefeitura. E
para isso, devem ser remunerados, passando-se a encarar a coleta seletiva como um
processo permanente, parte do servio de manejo de resduos slidos municipais. Os
catadores faro a coleta porta a porta com carrinhos manuais ou veculos econmicos
(dependendo das condies operacionais especficas), interagindo com os moradores,
informando e ajudando a corrigir as imperfeies na segregao, e levando os
resduos para pontos pr-definidos de acumulao temporria (MMA, 2010).
H duas grandes etapas na implantao da coleta seletiva: a etapa de
planejamento e a etapa de implantao propriamente dita. A etapa de planejamento
compreende:
O diagnstico da situao de RSU gerados no consrcio;
A definio de objetivos e metas de curto, mdio e longo prazos;
A definio de programas, projetos e aes necessrias para atingir os
objetivos e as metas traadas;
A definio da estrutura fsica e gerencial necessria;
Os programas e aes de capacitao tcnica e de educao ambiental
voltados para sua implementao e operacionalizao da coleta seletiva;
Os investimentos necessrios e sistema de clculo dos custos da atividade de
coleta seletiva, bem como a forma de cobrana;
O sistema de monitoramento e avaliao sistemtica da eficincia e eficcia
das aes programadas, por meio de indicadores de desempenho operacional
e ambiental;
As aes para emergncias e contingncias.
A etapa de implantao propriamente dita compreende:
A elaborao de projetos;
A realizao de obras;
A aquisio de veculos, equipamentos e materiais;
A estruturao de grupos de catadores e apoio sua organizao;
A sensibilizao e mobilizao dos geradores;
A capacitao das equipes envolvidas;
A articulao de parcerias;
A operao da coleta;
A operao das unidades de triagem.
-
30
O planejamento um dos principais fatores para o sucesso da coleta seletiva,
e para isso preciso partir de um bom diagnstico, com conhecimento do nmero de
domiclios a serem atendidos, os circuitos de coleta a serem percorridos, a quantidade
de resduos que poder ser recuperada, a distribuio geogrfica e a caracterizao
da gerao de resduos, os recursos disponveis, as experincias acumuladas e a
situao do mercado de reciclveis.
Tambm importante realizar o levantamento do nmero de catadores
atuando nos municpios, quantos so e em que condies trabalham. Experincias
que vem sendo desenvolvidas em alguns municpios brasileiros mostram que a
atuao conjunta com os agentes de sade dos municpios permite identificar
rapidamente os catadores em determinada regio. Esses agentes de sade so
ligados aos Programas de Sade na Famlia, s equipes de Agentes Comunitrios de
Sade e s equipes de Vigilncia Sanitria e sua rotina a visitao contnua dos
domiclios, vrias vezes ao ano, criando vnculos de confiana e conhecimento sobre a
situao de cada famlia. So eles, portanto, os agentes pblicos nas melhores
condies para o reconhecimento de catadores que trabalham em cada local de forma
isolada (MMA, 2010).
A implantao da coleta seletiva no mbito do consrcio dever ser orientada
por um Programa de Coleta Seletiva, que pode comportar trs projetos: um Projeto de
Coleta e Triagem de Materiais Reciclveis, um Projeto de Incluso dos Catadores e
um Projeto de Mobilizao Social e Educao Ambiental.
O Projeto de Coleta e Triagem de Materiais Reciclveis se encarregar da
elaborao da setorizao e do traado dos roteiros de coleta, estudo do transporte e
gesto da frota, estudo e definio da localizao das unidades de recepo provisria
dos resduos e dos galpes de triagem, seu dimensionamento, estudo da operao
interna e dos fluxos de materiais nos galpes, escolha de equipamentos de coleta e
processamento dos materiais, proposio de rotinas operacionais na coleta e na
triagem. Os setores devem ser definidos com roteiros traados de forma a atender a
todos os domiclios ali localizados; os pontos de acumulao temporria devem ser
instalados de forma a atender cerca de 25 mil habitantes, ou que permita a coleta num
raio de cerca de 1,5 km (Figura 6). Os setores (1) convergem resduos
temporariamente (2), que so encaminhados a galpes (3) para triagem (MMA, 2010).
-
31
Figura 6. Modelo de setorizao da coleta nos municpios
Fonte: MMA, 2010.
Para a coleta porta a porta podem ser utilizados carrinhos manuais, carrinhos
eltricos, motos com carreta adaptada, Kombis com carroceria adaptada ou outros
veculos leves com caractersticas semelhantes. Caminhes podero ser utilizados em
reas de grande densidade de produo de reciclveis, como reas comerciais,
condomnios ou reas residenciais, cujas construes sejam predominantemente
grandes prdios de apartamentos, embora os custos operacionais sejam bem mais
elevados. Para o transporte dos pontos de acumulao temporria aos galpes de
triagem os veculos mais apropriados so caminhes com carroceria tipo ba ou com
carroceria adaptada (aberta gradeada). A capacidade de transporte varia segundo o
tipo de veculo; carrinhos manuais podem transportar 2 m3, moto com carreta ou
carrinho eltrico 4 m3, Kombi com carroceria aberta tipo gaiola at 8 m3 e caminho
ba ou com carroceira aberta tipo gaiola 32 m3. A velocidade de coleta no varia com
diferentes tipos de veculos, pois determinada pela velocidade de abordagem do
catador em cada residncia; admite-se que no modelo proposto a velocidade mdia de
coleta seja de 4 km/h; a velocidade de transporte dos caminhes que levam resduos
dos pontos de acumulao temporria aos galpes de triagem deve ser considerada
como de 40 km/h, em mdia (MMA, 2010).
O planejamento da coleta seletiva tambm deve prever a instalao de
unidades de triagem dos materiais coletados. Para triagem de 1 t/dia de resduos so
necessrios aproximadamente 300 m2 de rea no galpo de pequeno porte, 650 m2 de
rea no galpo de mdio porte, para 2t/dia, e necessrios 1.200 m2 de rea no galpo
de grande porte, para o processamento de 4 t/dia (MMA p. 47, 2010).
-
32
3.4. Gesto de Resduos Slidos em Cidades Brasileiras
Algumas cidades brasileiras j possuem um sistema de gesto de RSU que
adotam prticas alternativas de tratamento dos resduos que promovem a reduo do
volume de resduos que deve ir para a destinao final. importante serem avaliados
esses sistemas de gesto para que essas cidades possam ser um exemplo para os
municpios em questo e serem modelos que se comprovaram ser efetivos e
vantajosos. Os municpios selecionados so os cinco municpios brasileiros onde a
prefeitura faz chegar o servio de coleta seletiva a 100% das residncias, segundo
pesquisa realizada em 2010 pela empresa Compromisso Empresarial para
Reciclagem (CEMPRE, 2010). Apenas o municpio de Tibagi no est includo nesta
pesquisa, porm um exemplo prtico de um municpio com uma central de
compostagem interligada a uma unidade de triagem, para o tratamento de resduos
reciclveis e matria orgnica.
3.4.1. Curitiba, PR
No municpio de Curitiba, de competncia da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, criada por meio da Lei Municipal n 6.817 de 2 de janeiro de 1986, a gesto
dos resduos slidos.
Os servios de coleta e transporte de resduos slidos domiciliares contemplam
o servio regular de coleta e transporte de resduos, sendo convencional porta a porta
ou indireta; coleta seletiva porta a porta,pelo Programa Lixo que no Lixo, ou em
pontos de troca,pelo Programa Cmbio Verde; e apoio coleta informal realizada
pelos catadores, atravs do Programa Ecocidado (Prefeitura Municipal de Curitiba,
2010).
O plano de coleta convencional porta a porta a disponibilizao do servio de
coleta regular dos resduos comuns oriundos das residncias e comrcios, executada
na quantidade mxima de 600 litros por semana. composto por 164 setores de
coleta, sendo 94 setores diurnos e 70 noturnos. A coleta realizada diariamente pela
manh em 6 setores e em 22 no turno da noite. Todos os resduos coletados neste
servio so encaminhados ao Aterro Sanitrio de Curitiba onde so pesados e a
empresa contratada remunerada mensalmente pela quantidade total de resduos
coletados no perodo de um ms (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2010).
J o plano de coleta seletiva recolhe os resduos potencialmente reciclveis,
como: papis, plsticos, metais e vidros, entre outros. Para a realizao destas coletas
so disponibilizados 31 caminhes bas de 40 m, 52 motoristas e 128 coletores,
-
33
equivalendo este quantitativo a 52 equipes. Todos os veculos e equipamentos deste
servio possuem uma vida til mxima de 5 anos e a empresa contratada
remunerada pelo nmero de equipes apresentadas ao Municpio no perodo de um
ms. Os caminhes, aps a concluso dos setores de coleta e pontos de cmbio
verde, so pesados, lacrados e seguem s Unidades de valorizao de reciclveis
(Prefeitura Municipal de Curitiba, 2010).
Alm disso, existe a coleta em pontos de troca, que consiste no cmbio de
materiais potencialmente reciclveis por produtos hortifrtis da poca, denominada
esta, no Municpio de Curitiba de Programa Cmbio Verde. Os pontos de troca esto
localizados em logradouros pblicos e a troca nestes pontos realizada
quinzenalmente. A cada 4 quilos de material reciclvel o participante recebe um
quilograma de hortifrti (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2010).
O apoio s organizaes de catadores que realizam a coleta de reciclveis est
materializado atravs do Programa Reciclagem Incluso Total ECOCIDADO. O
programa iniciou em dezembro de 2007, com a celebrao do termo de parceria entre
o Municpio de Curitiba, atravs da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da
Fundao de Ao Social com a Associao Aliana Empreendedora, Fundao
AVINA e o Movimento Nacional dos Catadores para a execuo do projeto, que visa
capacitar e proporcionar condies de fortalecimento da atividade, com especial
nfase na implantao dos Parques de Recepo de Reciclveis. Os Parques so
espaos dotados de infraestrutura fsica, administrativa e gerencial para recepo,
classificao e venda do material coletado pelos catadores organizados em sistema de
associaes ou cooperativas. A coleta feita atravs de carrinhos eltricos, operados
pelos catadores (Prefeitura Municipal de Curitiba, 2010).
A principal disposio final dos resduos slidos deste municpio o Aterro
Sanitrio de Curitiba, localizado no bairro da Cachimba na regio sul, desde 1989.
Durante sua operao, outros 17 municpios da Regio Metropolitana de Curitiba
passaram a dispor seus resduos no Aterro Sanitrio.
O plano de gerenciamento do tratamento e destinao de resduos slidos do
Consrcio Intermunicipal para Gesto de Resduos Slidos aponta como alternativa e
soluo tcnica o tratamento e a destinao final do lixo proveniente da coleta
domiciliar, de varrio e limpeza dos logradouros pblicos realizadas de forma direta
ou indireta pelos municpios que integram o Consrcio, o SIPAR - Sistema Integrado
de Processamento e Aproveitamento de Resduos. Tomando como base a
composio gravimtrica dos resduos provenientes dos municpios integrantes do
-
34
Consrcio Intermunicipal, destinados ao aterro sanitrio de Curitiba, buscou-se definir
um modelo tecnolgico adequado, que substitusse o Aterro Sanitrio, uma vez que
este se encontra com a vida til em fase final, com avanos ambientais e sociais, e
com o pertinente desenvolvimento tecnolgico que se pode e deve imprimir Regio
Metropolitana de Curitiba.
O SIPAR no um novo aterro sanitrio, mas sim um sistema composto por
um conjunto de tecnologias, capazes de promover o mximo aproveitamento dos
resduos, mediante a aplicao de processos de recuperao e aproveitamento de
reciclveis presentes nos resduos, que no foram separados nos domiclios,
aplicao de tcnicas de compostagem ou biodigesto visando produzir o composto
orgnico a partir da parcela orgnica que compem os resduos, e ainda a produo
do CDR - combustvel derivado dos resduos, possibilitando o aproveitamento destes
materiais para fins energticos, de forma que a destinao em aterro sanitrio est
limitada 15% de rejeitos do processamento. Trata-se de nova concepo de
tratamento de resduos.
3.4.2. Tibagi, PR
O municpio de Tibagi, localizado a 200 km de Curitiba, apresenta um histrico
de gesto de resduos slidos que atesta a viabilidade da implementao de projetos
de reciclagem e compostagem nas demais cidades do Estado do Paran. Com
aproximadamente 20 mil habitantes, o municpio trata todo o resduo slido domiciliar
gerado atravs da implantao do Centro de Triagem e Compostagem de Tibagi
CTCT (Ministrio Pblico do Estado do Paran, 2012).
A necessidade imediata do municpio era a eliminao do lixo a cu aberto,
que alm de causar impactos ambientais, gerava problemas sociais e de sade
pblica. Desta forma, por meio da iniciativa da gesto pblica municipal, iniciou-se em
2007um trabalho em busca da mudana da realidade dos catadores, atravs da
identificao dos coletores de materiais reciclveis e das pessoas que trabalhavam no
antigo lixo, para o incentivo criao da Associao de Catadores de Materiais
Reciclveis de Tibagi ACAMARTI, que numa parceria com a Prefeitura iniciou as
capacitaes e reunies.
Em seguida, aps dois anos de levantamentos e pesquisas sobre unidade de
triagem de resduos, deu-se incio ao funcionamento do CTCT, com a proposta de
gerao de trabalho e renda aos associados, disposio correta dos resduos
domiciliares e minimizao dos impactos ambientais.
-
35
Deste modo, atravs da coleta seletiva implantada, todos os resduos
domiciliares so encaminhados ao CTCT para triagem e destinao conforme sua
categoria. Os reciclveis so separados, selecionados e prensados para destinao
indstria de beneficiamento. Os resduos orgnicos, que representam 56% dos
resduos domiciliares, so destinados a um ptio de compostagem e vendidos in
natura ou utilizados para produo de flores ornamentais no prprio CTCT, apenas os
rejeitos so destinados ao aterro sanitrio (Ministrio Pblico do Estado do Paran,
2012).
De acordo com as demandas que surgiam, foram adotadas as seguintes aes
pela coordenao tcnica do Programa Recicla Tibagi:
Criao da Associao de Materiais Reciclveis de Tibagi;
Reforma do barraco j existente no municpio;
Construo do Centro de Triagem e Compostagem e aquisio de
equipamentos;
Desativao do lixo a cu aberto;
Construo de aterro sanitrio municipal e seu respectivo licenciamento;
Capacitao dos catadores de materiais reciclveis;
Lei que declara a Associao de Catadores de Tibagi - ACAMARTI o ttulo de
Utilidade Pblica Municipal;
Estudo Legal e Contratao dos servios prestados pela ACAMARTI
Prefeitura Municipal;
Formatao e aprovao do convnio entre Prefeitura Municipal de
Tibagi e ACAMARTI para assegurar condies adequadas para o
desenvolvimento do programa (3 refeies dirias, EPIs, transporte e estrutura
fsica necessria);
Contratao da ACAMARTI para varrio, capina e poda;
Estudo de viabilidade e produo de flores ornamentais a partir da produo de
composto orgnico.
A Prefeitura Municipal aind