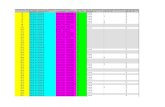issu.fildarte
Transcript of issu.fildarte
-
8/2/2019 issu.fildarte
1/154
1
-
8/2/2019 issu.fildarte
2/154
2
-
8/2/2019 issu.fildarte
3/154
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPRITO SANTONcleo de Educao Aberta e a Distncia
Aissa Aonso Guimares
V i t r i a
2011
Filosofia
da
Arte
-
8/2/2019 issu.fildarte
4/154
LDI coordenao
Heliana Pacheco,Jos Otavio Lobo NameHugo Cristo
Gerncia
Isabela Avancini
Editorao
Weberth FreitasCapa
Weberth Freitas
Impresso
GM Grfca e Editora
Dados Internacionais de Catalogao-na-publicao (CIP)(Biblioteca Central da Universidade Federal do Esprito Santo, ES, Brasil)
_____________________________________________________________
Guimares, Aissa Aonso.
Filosofa da arte / Aissa Aonso Guimares. - Vitria : UFES,Ncleo de Educao Aberta e a Distncia, 2011.
150 p. : il.ISBN:
1. Arte - Filosofa. I. Ttulo.
CDU: 7.01
G963
Presidente da RepblicaDilma Rousse
Ministro da EducaoFernando Haddad
DED - Diretoria de Educao aDistncia Sistema Universidade Abertado Brasil Programa Pr-LicenciaturaCelso Jos da Costa
ReitorRubens Sergio Rasseli
Vice-Reitor e Diretor-Presidentedo Ncleo de Educao Aberta e aDistncia - NeaadReinaldo Centoducatte
Pr-Reitora de GraduaoPro. Sebastio Pimentel
Coordenadora do SistemaUniversidade Aberta do Brasil na UFESMaria Jos Campos Rodrigues
Diretor Pedaggico do NeaadJlio Francelino Ferreira Filho
Diretora do Centro de ArtesCristina Engel de Alvarez
Coordenao do Curso deArtes Visuais -Licenciatura naModalidade a DistnciaMaria Gorete Dadalto Gonalves
Reviso de ContedoMaria Regina Rodrigues
Reviso OrtogrfcaJlio Francelino Ferreira Filho
Design GrfcoLDI - Laboratrio de DesignInstrucional
NeaadAv. Fernando Ferrari, n.514 -CEP 29075-910, Goiabeiras -
Vitria - ES4009 2208
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPRITO SANTO
Imagem da Capa
A Escola de Atenas, de Raael Sanzio.1506 - 1510. (500 cm 700 cm)Palcio Apostlico, Vaticano.Disponvel em:http://pt.wikipedia.org
A reproduo de imagens de obras em (nesta) obra tem o carter pedaggico e cientifco, amparado pelos limites do direito de autor no art.46 da Lei no. 9610/1998, entre elas as previstas no inciso III (a citao em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicao, depassagens de qualquer obra, para fns de estudo, crtica ou polmica, na medida justifcada para o fm a atingir, indicando-se o nome do autore a origem da obra), sendo toda reproduo realizada com amparo legal do regime geral de direito de autor no Brasil.
Copyright 2010. Todos os direitos desta edio esto reservados ao ne@ad. Nenhuma parte deste material poder ser reproduzida,transmitida e gravada, por qualquer meio eletrnico, por otocpia e outros, sem a prvia autorizao, por escrito, da Coordenao Acadmicado Curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distncia.
-
8/2/2019 issu.fildarte
5/154
-
8/2/2019 issu.fildarte
6/154
-
8/2/2019 issu.fildarte
7/154
Apresentao 6
I Filosoa, Educao e Arte na Grcia Clssica 10
Filosoa e Educao na ormao contempornea 10
Sobre a esttica platnica 23
Artes poticas no pensamento de Aristteles 45Orientaes de estudo 62
Filmes indicados 63
IIAs unes da arte na Idade Mdia 64
Imagem e Pensamento na Idade Mdia Ocidental 64
Orientaes de estudo 82Filmes indicados 83
IIIModernidade e autonomia da arte 84
Filosoa da Arte e Esttica: um caminho e muitos desvios 84
Orientaes de estudo 114Filmes indicados 115
IVArte e Cultura na contemporaneidade 116
Notas sobre produo e reproduo da arte na Idade Mdia 116
Orientaes de estudo 131
Filmes indicados 132
Notas 133
Sumrio
-
8/2/2019 issu.fildarte
8/154
8
Este livro oi produzido como material de reerncia
para a disciplina Filosoa da Arte, do Curso de Licencia-
tura em Artes Visuais, modalidade ead da Universidade
Federal do Esprito Santo, e organizado com o obje-
tivo de introduzir a leitura e a refexo loscas sobre
questes relativas arte.
A elaborao do material seguiu a proposta da ead, no
sentido de descentralizar o processo de ensino e aprendi-
zagem da reerncia do proessor, e buscar a diversidade
de metodologias; de modo que o livro uma coletnea de
artigos de dierentes autores , com estilos e abordagens
particulares sobre temas pertinentes ao campo da arte; da
losoa; da losoa da arte; da histria da losoa da
arte e da histria da arte.
Nossa meta oi reunir dierentes artigos que apresen-
tasse um panorama de importantes conceitos e autores
da losoa da arte, em dierentes perodos. As Unidades
seguem uma sequncia cronolgica por uma opo di-
dtica, no entanto a proposta aqui no realizar uma
introduo histria da losoa da arte, mas sim o
aproundamento da leitura dos textos, que nos permite
estudar temas signicativos para a introduo do pen-
samento sobre o belo, a arte e a cultura.
Desse modo, caber aos alunos investigar os concei-
tos apresentados nos textos a partir dos pensadores em
ApreSentAo
-
8/2/2019 issu.fildarte
9/154
9
pauta; retomar a histria da arte, para refetir sobre a
produo artstica da poca e levantar questes para o
debate na Plataorma Moodle. Este processo ser orien-
tado e acompanhado, em suas etapas, pelos componen-
tes que atuam na rede de ensino aprendizagem, proes-
sor, tutor presencial, tutor a distncia e aluno; assim
como o contedo do material impresso est vinculado
ao programa da disciplina e as atividades indicadas na
Plataorma Virtual Moodle.
O livro apresenta-se dividido em quatro unidades.
Cada uma das Unidades est relacionada a um perodo
especco da losoa da arte, a antiguidade clssica; a
idade mdia; a modernidade e a contemporaneidade, e
todas so perpassadas, ainda que indiretamente, pelos
conceitos: de arte, de belo e de mmesis.
O que arte? O que belo? O que mmesis? So,
portanto, as questes ormulares para leitura e com-
preenso de cada um dos textos; do mesmo modo so
undamentais as Orientaes para estudo, pesquisa e
interpretao ao nal de cada Unidade, de modo a a-
cilitar o estudo e a investigao sobre os textos, seguidas
de indicaes de lmes para complementar a discusso
dos temas.
A Unidade I introduz temas da losoa, da educao e
da arte na Grcia Clssica, e composta por trs textos;
-
8/2/2019 issu.fildarte
10/154
10
o primeiro apresenta uma abordagem geral do surgi-
mento da losoa e da educao no pensamento grego
e suas refexes; o segundo reere-se ao pensamento de
Plato e o terceiro ao pensamento de Aristteles, que
so os primeiros e principais pensadores gregos clssi-
cos da losoa da arte. De orma que, os conceitos de
tchne, mmesis, asthesis, etc. e as dierentes teoriza-
es do belo e da arte so abordados nos trs artigos que
compem esta unidade.
O texto da Unidade II se relaciona com a histria da
arte, por meio de uma refexo terico-metodolgica so-
bre os procedimentos comparativos, nas investigaes
acerca das imagens medievais e das imagens sacras em
geral. A opo pela perspectiva da Histria das Ima-
gens ou Antropologia das Imagens para a abordagem
da arte medieval, se deu pelo dilogo estabelecido entre
os contedos das imagens e as relaes com a histria
e o pensamento, assim como pelas amplas possibilida-
des de investigao no que diz respeito ao contedo da
arte sacra, e pelo distanciamento da losoa medieval
a respeito dos temas pertinentes arte, tema que ser
desenvolvido no decorrer da disciplina Filosoa da Arte
na plataorma Moodle.
O texto da Unidade III retoma os conceitos e as questes
undamentais apresentados na Unidade I, relacionando
autores da antiguidade, da modernidade e da contem-
-
8/2/2019 issu.fildarte
11/154
11
poraneidade no contexto da esttica como experincia
sensorial do sujeito no mundo, como losoa da arte,
e como experincia existencial, histrica e poltica.
Na Unidade IV o artigo introduz a discusso contem-
pornea da crtica da cultura, colocando em pauta as
questes relativas reprodutibilidade tcnica, otogra-
a, ao cinema, expanso da comunicao de massa e
da indstria cultural, desde sua ormulao pelos pen-
sadores da Escola de Frankurt at anlises e crticas
posteriores relativas ao campo terico da comunicao
e da cultura.
Este livro o resultado de um empenho conjunto, dos
autores convidados (Fernando Santoro; Luciana da
Cunha e Souza; Lus Felipe Bellintani Ribeiro; Maria
Cristina Correia Leandro Pereira; Priscila Rossinetti Ru-
noni), e de toda a equipe envolvida na elaborao do
material didtico do curso de Licenciatura em Artes Vi-
suais. Constitui um importante elemento pedaggico na
articulao da rede de ensino e aprendizagem que cons-
troem a ead, atravs da Plataorma Virtual Moodle; dos
Plos Regionais; neaad/ufes; da coordenao do Curso
de Artes Visuais; dos proessores; dos tutores e dos alu-
nos. Seu contedo apresenta, luz de dierentes escritas,
tpicos e pensadores undamentais para introduzir os
estudos no campo da losoa da arte e orientar investi-
gaes sobre arte e cultura na contemporaneidade.
Aissa Aonso Guimares(Organizadora)
-
8/2/2019 issu.fildarte
12/154
12
Este artigo desenvolve uma refexo acerca das
condies gerais da educao e da cultura na reali-
dade contempornea mundializada e cienticizada.
De modo que retomaremos as origens do ideal de
ormao e de tica no mundo ocidental a partir
da losoa grega, como instrumento terico para
entender o lugar do pensamento e da educao
como plena ormao cultural.
A losoa teve seu incio nas ilhas jnicas da
Grcia Antiga no sculo vi a.C., posteriormente se
expandiu para o continente (Atenas), para a p-
lis democrtica, atravs da prtica pedaggica. De
orma que, em sua origem, a losoa e a educao
(paidia), enquanto ormao integral do esprito,encontram-se voltadas para a ormao do cida-
do; e tinham como uno prepar-lo para a vida
tica e poltica da sociedade. justamente, esta
onte de valores, da qual se originou a pedagogia, a
poltica, a tica, a esttica e a cincia, que queremos
filosofia, educaoeartena Grcia clssica
I
Aissa Aonso Guimares
Filosoa e Educao na ormao contempornea1
-
8/2/2019 issu.fildarte
13/154
13
resgatar como undamento para pensarmos a crise
de valores que vivemos na contemporaneidade.
Momento em que est posta em questo toda a
ideia de educao, erudio e cultura construda
pelos intelectuais, a partir da ideologia europeia
ocidental, que viam na cincia o caminho natural
de ascenso da humanidade. O ideal de esprito
cultivado, a cultura intelectual homogeneizada, a
antiga esperana de que o desenvolvimento da ci-
ncia se realizasse paralelo ao desenvolvimento da
complexidade histrica das sociedades; todo este
reerencial deve ser repensado diante da radicali-
zao do mundo cientco e do progresso tecnol-
gico nas sociedades ocidentais.
Vivemos um processo de globalizao em que acincia e o discurso cientco esto presentes at
mesmo no senso comum, e parecem determinantes
da verdade e da realidade. Esta perspectiva de vida
se impe como uma ordem planetria, cada vez
mais ampliada e diundida atravs da tecnologia
Rodin O Pensador
-
8/2/2019 issu.fildarte
14/154
14
e dos meios de comunicao de massa. A comuni-
cao na atualidade a atividade totalizante que
invade todos os espaos de relao do homem com
o mundo. E, neste contexto de domnio cientco,
nos perguntamos sobre o papel da educao e da
losoa na sociedade do terceiro milnio.
Para encaminharmos esta anlise recorreremos
losoa grega, como instrumento terico para
pensarmos o sentido dos valores, ou seja, os un-
damentos que deram origem ao modo de vida oci-
dental contemporneo. Privilegiamos neste traba-
lho uma refexo hermenutica2 do pensamento
grego antigo, porque os conceitos e os ideais oci-
dentais de educao, tica, poltica, esttica, etc.
brotam: da mesma onte o esprito humano; na
mesma poca Antiguidade Clssica e no mesmo
lugar Grcia.
Seguiremos a investigao hermenutica destes
conceitos, desde a palavra oracularaltheia (ver-
dade) ao surgimento da losoa (no sculo vi a.C.),
com o estudo dos sicos (pr-socrticos), a peda-
gogia dos sostas, at os ideais depaidia (educa-
o) e episteme undados por Plato (427 a.C. - 347
a. C.) e Aristteles (384 a.C. 321 a. C.)
Estudar questes que se expressam na nossa reali-dade, implica pensar na vida, ou losoar. Mas em
uma sociedade pragmtica, dominada pela produ-
o cientca e pela ideia de produtibilidade e con-
sumo, gerenciada pelo capital das grandes empre-
sas, de ato espantoso pensar na vida; anal para
-
8/2/2019 issu.fildarte
15/154
15
o que serve o pensamento? Qual ser a serventia
daquilo que no produz nada de imediato?
Justamente isto, que no mundo contemporneo nos
parece um absurdo, era o que na Antigidade legi-
timava a losoa como conhecimento superior a
vida contemplativa (bos teorticos), nica atividade
que tem a nalidade em si mesma. Contudo, para
refetirmos sobre a crise epistemolgica e tica que
ameaa todas as ormas de conhecimento na atua-
lidade, necessrio resgatarmos a trajetria do co-
nhecimento desde o entendimento mtico (mthos)
da palavra altheia3 ao conceito de episteme.
Antes da pedagogia e da losoa ter sua gnese
na antiguidade, a sabedoria era um privilgio inal-
canvel, coisa dos deuses. Os nicos homens que
tinham acesso a ela eram os chamados Mestres da
Verdade4, representados pelas guras: do adivinho
aquele que diz as aes dos homens e dos deuses,
sua palavra traz o uturo para o presente; do po-
eta o que conta os eitos dos deuses e dos heris,
atravs das teogonias e epopeias, sua palavra traz o
passado para o presente; e do rei-da-justia deten-
tor da justia (dke) e do destino dos homens, cuja
palavra determina o presente. A palavra dos Mes-
tres ecaz, pura atividade, az acontecer em todasas dimenses temporais do universo. Eles eram os
mensageiros dos deuses, intermedirios da sabedo-
ria, viam o invisvel, a palavra oracular, a altheia
A losoa s oi assim batizada tardiamente; tal
palavra no consta nos poemas de Homero e He-
-
8/2/2019 issu.fildarte
16/154
16
sodo, de modo que, para designar uma habilidade,
arte ou competncia, eram usadas as palavras so-
phs, sopha, traduzidas por sbio, sabedoria. Em
Herclito aparece o uso do substantivo concreto -
lsoo, vide ragmento 35: bem necessrio serem
os homens amantes da sabedoria, lsoos, para
investigar e testemunhar muitas coisas.5 Contudo,
segundo a doxograa insegura de Digenes Lar-
cio6, Pitgoras oi o primeiro a utilizar o substan-
tivo abstrato, losoa.
com a juno destes dois verbos gregos:philo
(amar com amizade, amor admirativo), e os subs-
tantivos,philos (amigo) ephila (amizade, amor);
e sophzo (saber) donde vem sophs (sbio), sopha
(sabedoria), que se nomeia a radicalidade do pen-
samento. Interrogar a losoa desde j pensar o
conhecimento e a educao, levando em conside-
rao o seu carter pedaggico por natureza.
Foi com o estudo daphsis nas ilhas gregas, que
teve origem o pensamento dos sicos ou pr-so-
crticos; a losoa comea pensando a cosmolo-
gia, a ordem universal - origem e movimento da
vida material, da qual o homem participa. atravs
desta atividade do pensamento que surgem as pri-
meiras escolas do ocidente.As escolas jnicas, atravs dos estudos cosmol-
gicos, desenvolveram os undamentos dos diversos
campos do conhecimento. Como exemplo, pode-
mos citar a Escola de Mileto que desenvolveu, atra-
vs de seus principais representantes - Tales, Ana-
-
8/2/2019 issu.fildarte
17/154
17
ximandro e Anaxmenes, a doutrina dos elementos,
o estudo sobre a arkh (origem) daphsis, a ma-
temtica, a astronomia, etc.; a Escola Pitagrica e
os estudos sobre matemtica, msica, tica, etc.;
a Escola Atomista, representada por Demcrito e
Leucipo de Abdera, que pensam a ideia e o movi-
mento dos tomos, dentre outras. Tambm estabe-
leceram as condies para o desenvolvimento da
metasica, atravs das perspectivas da pluralidade
e da unidade, no pensamento de Herclito de eso
e de Parmnides de Elia, a partir das discusses
entre o ser e o devir.
E oi assim que a losoa se expandiu (sculos
vi-v a.C.), ainda pag, sem nome de batismo para o
continente, por intermdio dos sostas. Estes eram
estrangeiros que chegavam a Atenas para ensinar
as virtudes necessrias nova ordem social, ins-
taurada com as reormas de Slon (594 a.C.) e Cls-
tenes (510 a.C.) - a democracia. Assim era chamada
a nova organizao dos gnos (amlias, cls) e
dos dmos (povos, culturas) naplis. A educao
como ormao cultural completa visava, para os
gregos, a permitir que se realizasse a aret7.
Por isso, os cidados deveriam aprender as tc-
nicas necessrias para bem discutir as questes daplis ou Estado, que uncionava como um media-
dor de oras para manter o equilbrio entre os di-
erentes dmos (povos/culturas), evitando a tirania.
Pois tal equilbrio, a democracia, sustentava-se
pela educao voltada no apenas para as virtudes
Raael - A Escola de Atenas
-
8/2/2019 issu.fildarte
18/154
18
(arets) sicas e cvicas, mas tambm para as vir-
tudes estticas e polticas.
Os sostas, esses undadores da pedagogia demo-
crtica, eram mestres no ensino das artes e habili-
dades teis para o homem daplis, pois levavam
para Atenas o debate jnico travado ente o Ser e o
Devir; o conhecimento da histria, inventada por
Herdoto (para narrar as guerras entre os gregos
e os persas); da culinria e da diettica (distino
e combinao de alimentos), que deram origem
medicina; da infuncia da lgica de Parmnides;
da pluralidade no pensamento de Herclito e ou-
tros, que iluminaram a composio das tcnicas de
linguagem, o instrumento da poltica, a retrica,
arte da persuaso.
A retrica era exercida enquanto arte ou habi-
lidade, que podia ser transmitida e apereioada
com o exerccio virtuoso do esprito de refexo
do nmos8 , das leis e dos costumes, das tradies
polticas, intelectuais e religiosas. Neste momento,
o pensamento volta-se para o comportamento hu-
mano (sc.V a.C.), coloca-se, pela primeira vez na
histria das sociedades, a questo da tica, que
nasce do entendimento da aret (virtude - exceln-
cia) como nmos (hbito); ou seja, a virtude en-tendida como um costume que pode ser ensinado
e deve ser exercido, atravs da ormao desde a
inncia (paidia)9.
No caso grego, os poetas picos ensinavam e valo-
rizavam a aret do guerreiro belo e justo, os valores
-
8/2/2019 issu.fildarte
19/154
19
aristocrticos do sangue; os trgicos legitimavam a
vida democrtica undada nas leis, nas assembleias,
em confito com os ideais de sangue, de amlia;
e os sostas, os educadores, estrangeiros instru-
dos, eram aqueles que consolidavam o terreno para
tal democracia, desenvolvendo nos jovens, junto
com a retrica (oratria voltada para a persuaso
poltica), diversas capacidades (tchnes), atravs
daquela inteligncia prtica a qual os gregos deno-
minavam mtis10.
Entretanto, no podemos esquecer que na con-
cepo da politea, na cidade ideal de Plato,
contida na Repblica11, excluem-se os sostas e
os poetas: tanto os picos como os trgicos. O que
motiva tais excluses , propriamente, a relao
inseparvel que Plato estabelece entre episteme
e dxa. Na concepo platnica, a identidade en-
tre os ideais de bem, belo, justo e verdadeiro ex-
clui todas as ormas de conhecimento que no se
comprometam com a descoberta destes valores
transcendentes. A partir das mximas socrticas
Sei que nada sei e Conhece-te a ti mesmo"12, o
discpulo Plato desenvolve a ideia de conceito
universal (episteme), aquele que est acima de to-
das as tchnes e mtis. A episteme, portanto, nopode ser ensinada, mas alcanada atravs de um
mtodo (met - objetivo + ods caminho) a
dialtica (dialgo/dialegmai verbo: conversar,
separar, distinguir, explicar, discutir com algum,
trocar, etc).
-
8/2/2019 issu.fildarte
20/154
20
A episteme ope-se, justamente e diretamente, s
opinies de cunho social, ou seja, as discusses co-
letivas dos cidados sobre a sociedade (plis). Neste
contexto, a dxa tida como a opinio vulgar, des-
provida da universalidade to undamental para o
pensamento cientco. A dialtica o primeiro m-
todo a excluir as evidncias da nossa experincia
imediata, o sensvel passa a ser pura iluso. O mundo
sensvel deve ser superado para chegarmos ao con-
ceito, ao mundo puramente inteligvel, nesta esca-
lada (dialtica) para o conhecimento undamenta-se
toda dicotomia ocidental entre mundo sensvel (re-
alidade) e mundo inteligvel (pensamento); corpo e
alma; teoria (theora) e prtica (prxis/tchne), senso
comum (dxa) e conhecimento cientco (episteme).
A metasica platnica e a teoria da reminiscn-
cia aastam toda pedagogia que no compartilhe
com o mtodo dialtico da anmnesis, ou do re-
conhecimento ou re-memorao; caminho condu-
tor para o grau mais alto do conhecimento da alma
ou esprito, a episteme, o conhecimento cientco.
Hoje, vivemos a realizao radical deste valor de
verdade, idealizado em conceitos, atravs da cin-
cia; o valor do discurso cientco atrelado ao pro-
gresso tecnolgico exclui no s toda e qualquermetasica como a prpria losoa.
Decorridos tantos sculos de histria, pergun-
tamo-nos - Ser possvel resguardar alguns valores
e criar condies para uma educao mais huma-
nitria e menos cienticista, ou ser preciso que
-
8/2/2019 issu.fildarte
21/154
21
expulsemos todas as ormas de pedagogia que no
se submetem ao carter pragmtico e dominador
do ideal tecno-cientco? Onde habita ainda a -
losoa, qual o lugar do pensamento refexivo e da
educao como plena ormao cultural?
A educao, nesta perspectiva, a viabilidade da
propagao da existncia social e espiritual de um
determinado povo, pois participa na expanso e
no crescimento da vida social, tanto no seu carter
externo de enmeno, quanto na condio interna
do desenvolvimento do esprito. Esta cultura do es-
prito, o humanismo grego, no a descoberta do
eu subjetivo ou o culto contemporneo do indivi-
dualismo, mas a gradual tomada de conscincia das
leis gerais que regem o esprito humano conorme
a natureza (phsis), o undamento originrio que
brota da vida em comunidade, a necessidade de
elevao espiritual e desenvolvimento das capaci-
dades humanas atravs da cultura.
A conscincia grega descobre atravs da contempla-
o daphsis e da escuta do lgos: a educao, a tica,
a esttica, a cincia e todas as demais artes do esprito.
Na antiguidade, a sistematizao dos diversos
campos do conhecimento se deu com Aristteles
no sculo iv a.C.; para o pensador o conhecimento uma inclinao natural do ser humano, Todos
os homens, por natureza, tm o desejo de conhecer
(Livro i - Metasica); e a episteme (origem losca
da cincia) uma obra do esprito coletivo, assim
justica Aristteles13 (Livro i i, da Metasica):
-
8/2/2019 issu.fildarte
22/154
22
O estudo da verdade , num sentido, dicil e, nou-
tro, cil. [...] Cada lsoo tem algo a dizer sobre a
Natureza em si mesma; esta contribuio no nada
ou pouca coisa, mas o conjunto de todas as refexes
produz um resultado ecundo.
A losoa, vida contemplativa (bos teortikos),
grau mais elevado dos saberes, assegurava todas as
artes do esprito. Para Aristteles, nela habitava a
totalidade de todos os saberes. E, mesmo aps tan-
tos sculos, destituda desta uno , justamente,
nela que reside a liberdade de suscitar questes que
perpassam dierentes campos do saber.
A losoa moderna atravs de Descartes, Kant,
Hegel e outros pensadores, trabalha no sentido de
undamentar a conana epistemolgica herdada
dos pensadores gregos, que estruturou e mapeou
todo o campo terico no qual avana a cincia
ainda hoje. Toda dicotomia entre conhecimento
cientco e senso comum, to legitimada na moder-
nidade, para armar a superioridade e a condio
paradigmtica das cincias exatas (e, mais especi-
camente, da matemtica), encontra suas origens na
ideia grega de episteme, ormulada por Plato, em
oposio dxa.Na crise de valores que vivemos na contempo-
raneidade, paradoxalmente, nos deparamos com a
distncia e a proximidade dos valores e dos pensa-
mentos que undamentaram a educao, a cultura
e o conhecimento desde a Antiguidade.
-
8/2/2019 issu.fildarte
23/154
23
O potencial tecnolgico no qual se traduziu os co-
nhecimentos cientcos ao longo destes sculos, no
atinge apenas a tcnica e a tecnologia, mas todo dis-
curso sobre elas, pondo em xeque toda conscincia
losca e conana epistemolgica; assim como
todo ideal de educao, de erudio e de cultura,
construdo pelos intelectuais, a partir da ideologia
europeia ocidental, que viam na cincia o caminho
natural de desenvolvimento do esprito humano.
O ideal de uma cultura intelectual homogeneizada,
alentada pelo modelo de racionalidade cientca
com princpios epistemolgicos e regras metodol-
gicas preestabelecidas, que se estendeu aos estudos
humansticos, a partir do sculo xviii, est, hoje,
posto em questo, assim como o mito burgus do
esprito cultivado; a uno da educao, como
meio de constituio do ser social no indivduo; a
antiga esperana de que o desenvolvimento da cin-
cia se realizasse paralelamente ao desenvolvimento
da complexidade social, todo este reerencial hist-
rico e terico, est hoje posto em questo.
Esta desterritorializao dos acontecimentos e da
prpria histria nos remete ao que Nietzsche apon-
tou como o aproundamento do processo histrico
do Niilismo Ocidental, quando nem mais Deusnem a moral geram valores capazes de conter o
desenvolvimento da cincia, que conduz ao esva-
ziamento dos signicados (contedos), ao total es-
gotamento dos valores tradicionais, a ascenso do
niilismo europeu.
-
8/2/2019 issu.fildarte
24/154
24
nesta perspectiva, quando a metasica tecno-
cientca domina todos os valores ticos e episte-
molgicos, que Nietzsche aponta para uma Trans-
valorao de todos os Valores, para o retorno aos
princpios originrios da vida, anteriores histria
(judaico-crist) e construo do sujeito social.
Na estrutura social contempornea, o papel do Es-
tado e seus desdobramentos, a educao; a alta tecno-
logia; o capital transnacional; a globalizao; todos
reicados pela eetiva e ecaz atuao dos sistemas
de comunicao de massa ou dos media modernos,
impem-se como questes to explcitas e emergentes,
que parece no dar mais tempo de pens-las. De ato,
o tempo e o espao histrico parecem ter chegado ao
esgotamento, como sugere Baudrillard, para dar pas-
sagem ao tempo e ao espao de simulaes, no qual
avana a cincia, atropelando as culturas, as ticas
e as estticas, em nome de uma diuso planetria.
precisamente o que vivemos nas sociedades
actuais, que se empenham em acelerar todos os corpos,
todas as mensagens, todos os processos, em todos os
sentidos e que, com os media modernos, criaram para
cada acontecimento, para cada narrativa, para cada
imagem, uma simulao de trajetria at o innito14.
Tais simulaes espao-temporais surgem como
desdobramentos do desenvolvimento cientco,
que tem a tecnologia como agente modicador do
sujeito, da tica, da sociedade.
-
8/2/2019 issu.fildarte
25/154
25
E todo processo educacional se encontra subme-
tido ao poderoso domnio da cincia; saber e poder
se identicam na estrutura social a partir do dis-
curso das competncias. E, neste movimento totali-
zante, a cincia tende a mediar atravs do discurso
legitimado, da ala do proessor especialista, a ex-
perincia da dicotomia entre o cientco e a vida
cotidiana. Por isso, optamos por resgatar o sentido
primeiro da educao, em que o processo educacio-
nal antes de tudo umaprxis social, que est dire-
tamente relacionada ormao do cidado. E onde
o proessor age como mediador interativo entre o
aluno e o conhecimento e no como transmissor
legitimado do conhecimento cientco.
Nesta perspectiva, entendemos a educao de
orma transdisciplinar e humanstica, como um
processo que busca os undamentos e a constru-
o do conhecimento, da tica, da esttica. Pensar
a educao e o conhecimento como exerccio co-
letivo ouprxis social tambm resgatar a peda-
gogia como arte democrtica, ou ormao integral
do esprito humano paidia (ormao).
Sobre a esttica platnica1Lus Felipe Bellintani Ribeiro
O ponto de partida
Esttica platnica... No seria esse ttulo uma
espcie de oximoro, como ogo rio ou noite
-
8/2/2019 issu.fildarte
26/154
26
ensolarada? Quem aceitar a provocao dessa
pergunta tender a pensar que a sugerida incon-
gruncia entre esttica e platonismo se deve bem
conhecida hostilidade de Plato rente arte e aos
artistas, simbolizada emblematicamente pela no
menos conhecida expulso do poeta da cidade,
operada na Repblica, e pela consequente passa-
gem do cetro dapaidea s mos do lsoo. Em-
bora isso tambm seja, em alguma medida, correto,
a razo daquela provocao provm de uma con-
siderao do prprio corao, diga-se, metasico
da losoa platnica; a saber, do sempre reiterado
desprestgio da sensao e do sensvel em avor
da inteligncia e do inteligvel, isto , do enalteci-
mento do notico puro em detrimento do esttico,
em sentido rigoroso, como aquilo que relativo
sensao [asthesis].
[...] h muitas coisas belas e muitas coisas boas
e outras da mesma espcie, que dizemos que
existem e que distinguimos pela linguagem. [...]
E existe o belo em si, e o bom em si, e, do
mesmo modo, relativamente a todas as coisas
que ento postulamos como mltiplas, e,
inversamente, postulamos que a cada uma
corresponde uma idia, que nica, e
chamamos-lhe a sua essncia. [...]
E diremos ainda que aquelas so visveis, mas
no inteligveis, ao passo que as idias so
inteligveis, mas no visveis.2
-
8/2/2019 issu.fildarte
27/154
27
E, no entanto, essa dupla acepo de esttico e
de sua respectiva recusa, no caso de Plato, que
no conhece investigao nem especicamente es-
ttica nem especicamente metasica, desdobra-se
a partir de uma nica onte, a um s tempo esttica
e metasica, se se quer. No toa que o recal-
camento denitivo da arte se undamente no ato
de a ela corresponder o modo-de-ser nmo numa
escala trina que aparta o ser uno e verdadeiro da
ideia de seus mltiplos participantes, e mais ainda
das meras imitaes desses participantes, aastadas
trs pontos da verdade.
Acaso no existem trs ormas de cama? Uma que
a orma natural, e da qual diremos, segundo entendo,
que deus a coneccionou. Ou que outro ser poderia
az-lo?
Nenhum outro, julgo eu.
Outra, a que executou o marceneiro.
Sim.
Outra eita pelo pintor. Ou no?
Seja.
Logo pintor, marceneiro, deus, esses trs seres presi-
dem aos tipos de leito.
So trs.
[...]
[...] deus, querendo ser realmente o autor de uma cama
real, e no de uma qualquer, nem um marceneiro qualquer,
criou-a, na sua natureza essencial, una.
Assim parece.
-
8/2/2019 issu.fildarte
28/154
28
Queres ento que o intitulemos artce natural da
cama, ou algo semelhante?
justo, uma vez que oi ele o criador disso e de tudo
o mais na sua natureza essencial.
E quanto ao marceneiro. Acaso no lhe chamaremos
o artce da cama?
Chamaremos.
E do pintor, diremos tambm que o artce e autor
de tal mvel?
De modo algum.
Ento que dirs que ele , em relao cama?
O ttulo que me parece que se lhe ajusta melhor o
de imitador daquilo que os outros so artces.3
A condio ontolgica (desavorvel) da mi-
mese, alis, o que permite que, a um s golpe,
alm da arte, tambm a sostica sucumba pre-
tenso de hegemonia da losoa.
ESTRANGEIRO: E ento, quando se arma que tudo
se sabe e que tudo se ensinar a outrem, por quase
nada, e em pouco tempo, no caso de pensar que
se trata de uma brincadeira?
TEETETO: Creio que sim inteiramente.
ESTRANGEIRO: Ora, conheces alguma orma de
brincadeira mais sbia e mais graciosa
que a mimtica?
[...]
Assim, o homem que se julgasse capaz, por uma
nica arte, de tudo produzir, como sabemos, no
-
8/2/2019 issu.fildarte
29/154
29
abricaria, anal, seno imitaes e homnimos das
realidades. Hbil, na sua tcnica de pintar, ele poder,
exibindo de longe os seus desenhos, aos mais ingnuos
meninos dar-lhes a iluso de que poder igualmente
criar a verdadeira realidade, e tudo o que quiser azer.4
E de novo, por outro lado, na elevao da con-
dio ontolgica da asthesis que estaria o erro de
Protgoras e seu squito de poetas, sicos e sostas,
conorme a clebre exposio do Teeteto5 : Ao que
parece, pois, trata-se de maniesta impossibilidade
armar que sensao e conhecimento so idnticos.
E, no livro gama daMetasica6 de Aristteles, l-se:
Porque, certamente, conundem pensamento e sensa-
o, e esta com uma alterao, dizem que o enmeno
segundo a sensao verdadeiro por necessidade.
Por tais razes, antes de sair cata de um con-
tedo doutrinrio para uma eventual esttica pla-
tnica, deve-se perguntar se o que quer que seja
que merea a adjetivao de platnico no seria,
antes, antiesttico por excelncia. possvel que a
pura e simples ideia de uma esttica seja como
legislao (ainda que dissimulada sob a orma de
descrio) losca da arte (legislao no arts-
tica da arte), seja como refexo racional acerca dasensibilidade (refexo no sensvel da sensibili-
dade) j encerre em si o paradoxo que se quer ver
no platonismo especicamente. Por ora, entretanto,
cabe apenas constatar que to bvio quanto dever
toda histria da esttica comear por Plato o
-
8/2/2019 issu.fildarte
30/154
30
ato de ser ele at hoje o espantalho mor de todas
as investidas antimetasicas interessadas na reabi-
litao da arte, da sostica, do corpo, do devir, do
mundo sensvel, da nitude, do que or, e que isso
insinua uma ambivalncia digna de considerao.
O incio da reverso
Uma, por enquanto, hipottica recusa do hipot-
tico oximoro acima sugerido comea timidamente,
como no poderia deixar de ser, com a consta-
tao de que, ao azer da arte tema explcito, no
bojo de uma discusso de primeira ordem acerca
da pedagogia apropriada a uma determinada or-
dem poltica proposta, por sua vez, no intuito de
encontrar a essncia da justia e da injustia, para
alm de suas eventuais vantagens e desvantagens,
e isso, em ltima instncia, como ator de xito
ou malogro da vida Plato levou muitssimo a
srio os poderes da arte em todos esses domnios.
Falar, bem ou mal, sobre algo j acontecimento
da histria da logia desse algo.
claro que levar a srio a arte por seus poderes
pedaggicos, polticos, ticos, etc. pode signicar
exatamente no lev-la a srio. Far-se-ia mais pelaarte, talvez, indagando pelos poderes artsticos de
toda e cada pedagogia, poltica, tica. Mas como
decidir, em se tratando de Plato, e a rigor de toda
cultura pr-moderna, o que o determinante e o
que o determinado? Ora, numa ordem em que o
-
8/2/2019 issu.fildarte
31/154
31
mbito da arte , de sada, inseparvel dos demais
mbitos da vida, todo linguajar que parte da sepa-
rao para depois tentar dar conta de uma uso
originria ou uma determinao de c para l ou
de l para c racassa inclusive este, que j se
expressou em termos de mbitos discernveis.
Limitaes de linguagem parte, registre-se ape-
nas o carter nada simples da situao em que o
processo de emancipao e autonomia da arte,
que deveria corresponder enm irrupo do arts-
tico propriamente dito, leva ao seu aniquilamento
pela necessidade de libertao de todo resqucio
essencialista, seja quanto ao sujeito artista, seja
quanto ao objeto obra de arte ou quanto ao m-
todo. No que diz respeito a Plato (e a rigor a toda
cultura pr-moderna), inversamente, o enreda-
mento da arte nas malhas dos demais mbitos su-
prarreeridos deve ser compreendido no como re-
duo condio de meio para um m alheio, mas
como rede originria de uma vida no seccionada,
em que nem a arte, nem nada mais est livre do
restante e, por isso mesmo, vigora plenamente em
tudo, como meio e m, recproca e simultaneamente.
[...] a boa qualidade do discurso, da harmonia,
da graa e do ritmo dependem da qualidade
do carter [...].7
[...] a educao pela msica capital, porque o ritmo
e a harmonia penetram mais undo na alma e aetam-
na mais ortemente [...].8
-
8/2/2019 issu.fildarte
32/154
32
Plato no desdenha os poderes da arte, em ltima
instncia, porque tambm no desdenha os poderes
da sensibilidade. Nada que chegue aos olhos e ou-
vidos dos mais jovens inoensivo no processo de
ormao de suas almas. Por isso, aps legislar sobre
as partes da msica, no livro ii i da Repblica, par-
tindo do princpio de que h um nexo intrnseco en-
tre o tipo de msica e o tipo de carter, virtuoso ou
vicioso, estende os preceitos da legislao pintura,
tecelagem, arte de bordar, arte de construir
prdios e, at mesmo, marcenaria e abricao
dos demais utenslios. Bem dierente a condio
hodierna. No obstante sejam hoje todas as quin-
quilharias cotidianas de alguma maneira esteticiza-
das, nem mesmo a arte que ainda se pretenda mais
do que simples indstria do entretenimento chega a
sugerir o menor abalo na posio ontolgica domi-
nante. E o discurso tedioso da bonomia pr-cultura,
a sosticao tediosa dos meios artsticos e das
prprias obras completam-se com o desleixo pela
orma dos apetrechos mais ordinrios, pela tex-
tura dos pisos para o acolhimento dos ps e pela
atmosera dos ambientes, sob teto e luz quaisquer.
A considerao de Plato pela arte e pelo sensvel,
porm, no se restringe a um respeito desconadoe resignado diante de seus poderes inquestionveis.
Certamente, na hostilidade diante do rival, reco-
nhecido como tal, j vai boa dose de estima diante
de um igual. Mas no apenas na condio de opo-
sitor Plato se pe no mesmo patamar dos artistas.
-
8/2/2019 issu.fildarte
33/154
33
Artista ele mesmo, no queimou junto com suas
tragdias o talento de tragedigrao. Se o alcance
do preceito do livro ii i da Repblica, segundo o
qual se deve banir a msica inteiramente baseada
na imitao como a tragdia e a comdia, e a que
mistura narrao e imitao, como a epopeia, para
reter apenas a simples narrao osse evidente e
incontroverso, por que ento a prpria obra de Pla-
to, baseada no dilogo direto, no o aplica? No
seria a sugesto original do nal do Banquete, de
que deveria caber a um mesmo homem a composi-
o de tragdias e comdias, reerncia ao prprio
Plato, autor, anal de contas, dos discursos de
Aristanes e Agato?
O ato evidente de os textos platnicos pertence-
rem tanto histria da literatura quanto da lo-
soa acilita deveras a apresentao de um Plato
artista. Muito mais importante que isso, entretanto,
reconhecer Plato como expoente dessa tarea
histrica que a inveno da prpria losoa. No
havia, quela altura, nenhuma histria da litera-
tura que corresse separadamente de uma histria
da losoa. A conuso do elemento mtico, no
seio da obra de Plato, com o elemento dito racio-
nal mais o testemunho do processo de criao deuma tradio por vir do que incipincia perdovel
de estgio primitivo de um dado necessrio. Ora,
a razo que opera naturalmente as separaes
exatamente a obra de arte dessa criao: o rebento
no pode ser o critrio de julgamento do parto, por-
-
8/2/2019 issu.fildarte
34/154
34
que o critrio deve existir antes daquilo que julga.
Tudo isso ainda pouco: Plato legislador-peda-
gogo reverente ao poder da msica. Plato mimeta
de todas as suas personagens, inclusive das anti-
platnicas, mimeta de Grgias, de Protgoras, de
Trasmaco, de Hermgenes e de Crtilo, de Lsias e
de Scrates com e sem inspirao, de Eutidemo e
de Dionisodoro... Plato criador, pelo dilogo mi-
mtico, da losoa como gnero literrio mpar.
Tudo isso pouco porque ainda v o artstico da
obra platnica pela posio do sujeito Plato,
ou pelo carter do remate de sua mo. preciso
v-lo, porm, no prprio contedo dessa obra, na
sua objetividade.
preciso problematizar acima de tudo o conceito
de imitao, j que no contexto do dilogo a par-
tir do qual normalmente se depreende a esttica
platnica, a Repblica, somente a msica, par-
cial ou totalmente, mimtica que rejeitada. Uma
msica puramente diegtica (narrativa) no o
no livro ii i, bem como no seria no livro x uma
pintura que contemplasse diretamente a ideia e
no um homnimo sensvel, e que, com isso, dei-
xasse de ser mimtica para se elevar condio
de demirgica dois, e no mais trs pontosaastada da verdade.
Quanto ao problema da imitao em Plato, con-
vm distinguir, de um lado, a ocorrncia, aparente-
mente controlada, e o respectivo campo semntico
dos substantivos mmesis e mmema, do verbo mi-
David A Morte de Scrates
-
8/2/2019 issu.fildarte
35/154
35
momai, do adjetivo mimetiks, , n e derivados,
e, por outro lado, a presena, nada espordica, de
nveis distintos de experincias caracterizveis
como imitao, ainda que no expressas por essas
palavras. claro que, se o seu emprego de ato
controlado por Plato, o intrprete no deve ser
ingnuo a ponto de buscar semelhana onde de-
veria buscar dierena. Seja como or, o primeiro
e mais elementar desses nveis de experincia, e
pelo qual os dois sentidos de esttica se tocam de
modo igualmente elementar, o ato de os homens
ormarem o seu ser, naturalmente inorme, pela
imitao das ormas circunstantes, notadamente
pelo mundo cultural j ormado pelos outros ho-
mens. A pedagogia, em sentido rigoroso como a
conduo das crianas, questo cara a Plato
por ser a instncia capaz de operar sobre o crculo
conservador da tradio cultural, pelo qual cada
um educa os demais e por eles educado vale
dizer, serve de modelo para a imitao dos demais
e os imita. Colorindo, sonorizando, perumando a
circunstncia da criana, se lhe molda o carter de
modo correspondente, pois ela h de imitar o que
v, ouve, sente.
Interessante: a ormao do carter da crianapor via esttica comparvel ao processo de gra-
vura e escultura. Imprimir [ensemano] o carter
na alma e moldar [plsso] a alma so as expres-
ses utilizadas. Como o demiurgo molda o mundo
no Timeu, como o onomaturgo nomoteta molda
-
8/2/2019 issu.fildarte
36/154
36
os nomes no Crtilo, e como o nomoteta Scra-
tes molda com seus interlocutores, na Repblica, a
politea que d nome ao dilogo, assim tambm o
pedagogo dessapolitea (que o prprio nomoteta,
j que estabelecer sua lei outra coisa no seno
educar para essa lei) molda as almas das crianas
e jovens que sero seuspoltai. O resultado dessa
modelagem, o homem belo e bom, obra boa de
contemplar pelo simples prazer de sua ruio. O
resultado desse processo de imitao de paradig-
mas ministrados conscientemente aos sentidos
ele mesmo paradigma para outras imitaes.
Logo, quem zer convergir, intimamente, na sua
alma, boas disposies, que, no seu aspecto externo,
condigam e se harmonizem com aquelas, por
participarem do mesmo modelo, tal pessoa ser a
mais bela viso para quem puder contempl-la?9
Aquilo que posto em relao nos processos de
engendramento supracitados, por intermdio dos
respectivos intermedirios, no pouca coisa,
bem se sabe, no contexto da metasica platnica.
Trata-se da (re)ligao de sensvel e inteligvel, al-
mejada pela doutrina da participao, como des-dobramento da doutrina da separao previamente
admitida. O dilogo Parmnides mostra quo cons-
ciente estava Plato, pelo menos a partir de certo
momento de sua trajetria, das consequncias ca-
tastrcas de uma separao sem a participao
-
8/2/2019 issu.fildarte
37/154
37
correlata: sensvel e inteligvel seriam instncias
paralelas incomunicveis, nem os homens co-
nheceriam as ideias, nem, pior, deus conheceria
as coisas do mundo humano. Da ser preciso de-
monstrar a participao para evitar uma espcie
de ceticismo bem peculiar. Da haver o platonismo
tombado eetivamente nesse ceticismo diante da
impossibilidade daquela demonstrao. Para Aris-
tteles, a insucincia nesse terreno que sela a
impropriedade da infao ontolgica operada pela
doutrina da separao, espcie de duplicao.
Os que pem as idias como causas, buscando primeiro
apreender as causas dos entes daqui, aduziram depois
outros, iguais em nmero a esses, como se algum,
querendo contar, achasse no ser capaz de contar
menos entes, e contasse, depois de az-los mais.10
E dizer que estas (as idias) so modelos e as
outras coisas participam delas alar no vazio
e dizer metoras poticas.11
Das dierentes modalidades de participao ex-
perimentadas no Parmnides e malogradas diante
das crticas do eleata, mais as mencionadas de
passagem no Fdon e no investigadas, participa-o por presena [parousa] e por comunidade
[koinona], mais as pressupostas em ormulaes
que no a problematizam, aquela que, margem
das objees, expressa a ora do dogma a que se
vale da imagem mtica de um artce transerindo
-
8/2/2019 issu.fildarte
38/154
38
para uma espcie de matria inorme previamente
disponvel as propriedades de ormas contempla-
das como modelos. Quase nunca, para caracterizar
esse processo, so empregadas as palavras da am-
lia de mmesis. A noo central a de semelhana
e de imagem: as coisas so semelhantes [homoi-
mata] s ideias, so imagens delas [eikasthnai
autos] como mostra a tentativa mais contundente
do Parmnides de caracterizar o modo de ser da
separao e da participao:
Por um lado, as ormas em si, como modelos, jazem na
natureza, por outro lado, as outras coisas se parecem
com elas e lhes so semelhantes, e a participao como
tal das outras coisas nas ormas no consiste seno em
se parecerem.
[T mn ede tata hsper paradegmata estnai en t
phsei, t d lla totois eoiknai ka enai homoi-
mata, ka he mthexis hate tos llois ggnesthai tn
eidn ouk lle tis eikasthnai autos]12
Sempre presente tambm a meno ao ato de
o artce olhar [blpein], contemplar, manter os
olhos xos no paradigma. A ligao propriamente
dita entre as duas instncias, a tal transerncia, dita com o verbo apodidnai, embora a ao
como tal seja caracterizada simplesmente como
produzir [poien], estabelecer [tithnai], operar
[apergzesthai]. No Timeu, de acordo com a passa-
gem supracitada do Parmnides, o produto, a obra
-
8/2/2019 issu.fildarte
39/154
39
em questo, isto , o mundo, dito um eikna tins,
imagem de algo. No entanto, h uma ocorrncia,
sim, em que a obra do artce dita o resultado de
uma imitao, um mimema. No nal do Crtilo,
Scrates arma:
O nome , ento, como parece, uma imitao pela
voz daquilo que ele imita.
[nomrestn, hos oike, mmema phon ekenou
ho mimetai]13
Que Plato tenha percebido imediatamente nessa
expresso o perigo de equivocidade parece claro
pelo ato de azer Scrates esclarecer de pronto
que a imitao pela voz em questo se distingue
daquela operada pela pintura e pela msica. Para
reerir-se galinha, por exemplo, no o caso de
imitar seu cacarejo, como azem as crianas. Trata-
se de uma imitao da essncia [ousa] da coisa em
questo: o nome diz aquilo que a coisa .
Essa qualicao permite alinhavar mais um sen-
tido de imitao, dierente 1. da repetio que as
crianas realizam das circunstncias que lhes so
proporcionadas e 2. da mera reproduo da apa-
rncia desprovida de essncia que a arte realizados entes. Com esse terceiro sentido, de ordem me-
tasica, ganha-se a possibilidade de repor o pro-
blema da rejeio do segundo sentido, pelo qual se
d a rejeio da arte ou pelo menos da maior parte
da arte, que mimtica. Deve-se, porm, evitar
-
8/2/2019 issu.fildarte
40/154
40
conuso intil nesse ponto, pois o prprio Plato
nunca aprovou o apego demasiado s palavras em
detrimento da preciso conceitual. A dierena en-
tre o processo de produo originria das coisas
e nomes do mundo, como imagens semelhantes
aos paradigmas, e o processo de produo derivada
de simulacros, pela imitao das coisas e nomes
do mundo, parece assinalada com toda veemn-
cia por Plato. Mas ele assinalou tambm que essa
mxima dierena reside num deslocamento m-
nimo como o animal mais dierente do co, o
lobo, tambm o mais parecido. Alis, para car
na oposio lsoo-sosta que vale, entretanto,
tambm para a oposio lsoo-artista, pois que
ambas se reduzem oposio lsoo-imitador
diga-se de passagem que a dierena mxima entre
o cone e o antasma, entre a cpia e o simu-
lacro, ocorre no interior do universo da idolopoese,
da produo de imagens, pois ambos so ima-
gens, s que:
E esta primeira parte da mimtica no deve
chamar-se pelo nome que anteriormente lhe
havamos dado, arte de copiar? [...]
Mas que nome daremos ao que parece copiar o
belo para espectadores desavoravelmente
colocados, e que, entretanto, perderia esta
pretendida delidade de cpia para os olhares
capazes de alcanar, plenamente,
propores to vastas?14
-
8/2/2019 issu.fildarte
41/154
41
A meno a essa passagem do Sosta comea a
indicar o ponto aonde se queria chegar. Ora, se o
que distingue o produtor de cpias do produtor
de simulacros no uma questo de contedo
(ontologia, sica, poltica, tica, etc.), nem
de mtodo (dialtica e por que no? retrica,
com inteno erstica e catrtica), mas uma ques-
to de perspectiva, de eeito-perspectiva, ento,
ainda que tudo em Plato seja regrado, em ltima
instncia, por um critrio metasico, adequao
ou inadequao ideia, sua metasica ela mesma ,
em ltima instncia, denida por critrios estticos,
e o ulterior ao ltimo (ou o anterior ao primeiro)
o verdadeiro primeiro-ltimo, o princpio.
O remate
Qual , anal, a ndole da teoria das idias, to
atacada, de Aristteles a Quine, por proceder a uma
multiplicao desnecessria de entes? Uma res-
posta a essa pergunta comea a surgir quando se
percebe que a rejeio desse ltimo ao que parece,
a seus olhos, barroquismo ontolgico, deve-se na
verdade a uma preerncia esttica: o gosto por
paisagens desrticas. Fosse, entretanto, apenas ocaso de opor uma ontologia minimalista a uma
rococ j se teria uma oposio de ordem est-
tica. Mas a verdade que a teoria das ideias brota
exatamente de uma reclamao de economia, de
enxugamento, diante do turbilho pr-socrtico
-
8/2/2019 issu.fildarte
42/154
42
em perptuo devir e do torpor que sua experincia
proporciona. A ideia ruto de uma operao mi-
nimizante: no se trata de car com dois mundos
no lugar de um, no se trata de car com mais
mundos, mas de car com menos, com um nico
mundo e apenas com aquilo que dele se deixa re-
ter nos traos que distinguem uma coisa de ou-
tra. De cada classe povoada por innitos exem-
plares, que que apenas um, que , em todos, o
mesmo exemplo, que o universal dizvel, j que
o absolutamente particular innito e indizvel.
Que dizer, ento, do timo de ida/edos? H oxi-
moro maior do que idia invisvel? No curioso
que o conceito undamental da metasica plat-
nica tenha sido tirado de uma experincia sensitiva,
a viso? Na verdade, o desprestgio de uma viso
esttica em avor de uma viso notica se deve
no ao desprestgio da viso como tal, mas ao ato
de a nesis, mais que a asthesis, realizar plena-
mente aquilo que caracterstico da viso, a saber,
conter cada coisa no seu limite distintivo, mostrar
cada coisa em sua essncia prpria, nominvel por
seu nome prprio.
Que dizer, mais ainda, daquela ideia que est
acima de todas as ideias, que sequer uma essn-cia [ousa], mas um poder de essencializao, que
no mais uma orma iluminada no cu das or-
mas, mas um poder de iluminao [katlampsis]?
Se possvel denir o bem, to somente por esse
poder. Como dizer, ento, que a arte em Plato
-
8/2/2019 issu.fildarte
43/154
43
sempre avaliada a reboque de tica, se o bem, que
undaria essa ltima, expressa to somente a re-
clamao por conteno e nitidez, isto , uma exi-
gncia de que cada ente realize as possibilidades
de sua entidade at o limite que a determina como
tal, sem negligenci-lo nem pretender ultrapass-
lo? Melhor seria dizer que a tica platnica que
determinada por uma esttica, diga-se, apolnea.
A meno explcita a Apolo e a vitria de sua m-
sica sobre do stiro Mrsias, bem como a reite-
rada meno ao orculo de Delos como instncia
decisria ltima da convenincia ou no de cada
lei proposta na Repblica, so apenas sintomas de
supercie. O desdobramento poltico desse impera-
tivo esttico o preceito segundo o qual, naplis
em questo, cadapoltes realiza uma nica obra,
segundo a sua natureza e no tempo certo.
Um pequeno parntese antes de prosseguir:
claro que os indivduos doprincipium individu-
ationis em questo, no caso da metasica, so as
ormas, que a rigor no so indivduos em sen-
tido estrito e sim universais. Mas as ormas entre
si, em suas relaes horizontais, so os habitan-
tes, unos e mpares, de um mundo plural em
seu conjunto. Tambm na cidade o que importa a dierena do rgon, que em si j uma classe:
o lavrador, o pedreiro, o tecelo... Suas die-
renas, alis, tambm se amalgamam at que sur-
jam os grandes traos dierenciais que importam:
os clebres trs gne da Repblica, as trs gran-
-
8/2/2019 issu.fildarte
44/154
44
des personagens dessa histria. De resto, mesmo
o indivduo s pode ser reconhecido como tal se
contiver um mnimo de universalidade, isto , se
puder ser reconhecido como um e mesmo em pelo
menos duas situaes dierentes. O indivduo que
pode ser apontado e nomeado j a espcie nma.
Note-se que essa ambivalncia resta guardada na
amiliaridade etimolgica das palavras ida e idi-
tes, orma e indivduo, espcie e aspecto que dis-
tinguem e identicam Fulano e a sua classe, bem
como na prpria condio do mito, peripcia de in-
divduos que conta a saga universal dos prottipos.
Retornando questo do carter esttico da on-
tologia platnica e seus desdobramentos em todos
os nveis, vale lembrar que no so poucas as ana-
logias que Plato az de diversos assuntos com ai-
nas diversas de diversos artistas. J se alou da pe-
dagogia como gravura e escultura. J se alou do
prprio princpio do mundo e da linguagem como
demiurgia, comparvel arquitetura, carpintaria,
olaria. No incio do Timeu, que apresenta um
resumo da Repblica, esta caracterizada como
um grande quadro, exuberante, mas imvel, com
o que surge a reclamao por v-lo em movimento.
A reclamao por esse kinematgraphos permitever at cinema em Plato. O Crtias seria o roteiro
desse primeiro lme. Mas nenhuma passagem
mais exemplar do esprito da obra platnica como
esttica do limite do que a smile da cidade com
uma esttua pintada:
-
8/2/2019 issu.fildarte
45/154
45
Era como se estivssemos a pintar uma esttua e
algum nos abordasse para nos censurar, dizendo
que no aplicvamos as tintas mais belas nas partes
mais ormosas do corpo (de ato, os olhos, sendo a
coisa mais linda, no seriam sombreados com cor de
prpura, mas a negro). Parece que nos deenderamos
convenientemente replicando: Meu caro amigo, no
julgues que devemos pintar os olhos to lindos que
no paream olhos, nem as restantes partes, mas
considera se, atribuindo a cada uma o que lhe
pertence, ormamos um todo belo15.
A arte propriamente dita que emerge do contexto
em que vigora uma metasica aparentemente hi-
perblica expressa por um talento alegrico como
o do Fedro, , na verdade, to simples que preciso
que se advirta que as multides ho de se entediar
diante dela:
Ora, o que contm material para muita e variada imita-
o a parte irascvel; ao passo que o carter sensato e
calmo, sempre igual a si mesmo, nem cil de imitar
nem, quando se imita, cil de compreender, sobre-
tudo num estival e perante homens de todas as prove-
nincias, reunidos no teatro. Porquanto essa imitao
seria de um sorimento que, para eles, estranho.16
Enm, a navalha de Ockam, princpio to caro
matemtica e cincia ocidental, matemtica por
excelncia, incua a essa losoa que undou
-
8/2/2019 issu.fildarte
46/154
46
a epistme e a hegemonia da epistme atravs do
hipostasiar da matemtica. Dir-se-ia que hiposta-
siar a matemtica j congura barba suciente
para justicar a necessidade daquela navalha. Mas
a vigncia dessa hipstase independe de posio
terica explcita. A exuberncia alegrica do texto
platnico, que, anal de contas, culmina no elogio
sobriedade lacnica embalada pela simplicidade
da ctara em escala drica, nesse domnio bem
menos metasica que o imprio diuso da cincia
e da tcnica modernas.
A verdadeira separao que a doutrina da separa-
o pe em jogo no a que separa o mundo sen-
svel do mundo inteligvel, mas a que separa cada
ente dos outros entes, sem o que no valem os princ-
pios de identidade e de no-contradio. E porque
h uma instncia em que tudo est misturado em
tudo [memchtai pn en pant], e Plato sabe disso,
que o lsoo postula uma outra instncia em que
cada coisa est separada das demais. Ser verdadeiro
ou ser also pode at ser questo de gnosiologia e l-
gica, mas determinar o verdadeiro pela clareza e dis-
tino, isso no mais lgico nem se inere de uma
realidade em si: cria-se por uma deciso esttica,
j que o ser no mais distino que indistino.Mas os que seguem inercialmente no rastro de
uma deciso criadora tendem a perder de vista o
carter de vir-a-ser de seu ser e a tom-lo por b-
vio. Assim o Ocidente essa grande obra de arte
que consiste na compreenso histrica que v e az
-
8/2/2019 issu.fildarte
47/154
47
ver cada ente como idntico a si, como sendo o que
e no sendo o que no , indivduo discreto con-
tido nas ronteiras de sua determinao. Plato, por
sua vez, o artista dessa obra, que trabalhou sobre
a matria pr-socrtica, oriental, da compreen-
so segundo a qual tudo o que , mas tambm,
de alguma maneira, o que no , com o que cada
coisa to idntica a si quanto dierente, por no
ser mais indivduo discreto do que turbilho, fuxo,
vrtice concreto.
Este texto comeou com a sugesto de que est-
tica platnica seria um oximoro e termina com a
concluso de que, no s no nenhum oximoro,
como, ao contrrio, o platonismo que seria esttico.
Rebatize-se, ento, o texto: platonismo esttico.
Introduo
Estamos convidados a pensar e alar sobre a Arte,
no pensamento de Aristteles. Com certeza, sabe-
mos que a Arte variou ao longo das dierenas de
pocas e de culturas, de modo que a Arte, pensadapor Aristteles, a Arte produzida pelos Gregos
Antigos, e no poderia ser outra. Sabemos, tambm,
que cada lsoo, ao pensar a questo da Arte, a
pensou desde sua perspectiva prpria de organizar
e compreender o mundo. Assim, mesmo pensando
Artes poticas no pensamento de Aristteles1Fernando Santoro
-
8/2/2019 issu.fildarte
48/154
48
o mesmo enmeno, nas mesmas circunstncias, o
modo como Aristteles pensou dierente do de Pla-
to. Ora, so essas dierenas e caractersticas o que
nos interessa primeiro quando estamos discutindo
a Arte, vista pelos grandes lsoos da Histria.
Mas h algo que no espervamos e que nos sur-
preende especialmente quando abordamos os textos
de Aristteles que tratam de Arte. No se trata de
vericar apenas que a Arte estudada por Aristteles
a Arte de seu tempo. H uma dierena mais radi-
cal ainda entre ns e o pensamento de Aristteles
no tocante Arte. que sequer podemos dizer que
as coisas que hoje ns chamamos de obras artsticas
entre os gregos antigos, eram do mesmo modo con-
sideradas obras de artistas por Aristteles e mesmo
por seus contemporneos. Isto quer dizer, objetiva-
mente, que para o que chamamos hoje de Arte se-
quer havia um conceito equivalente entre os gregos.
O conceito grego de arte
O conceito grego de tchne, que costumamos tra-
duzir por arte, no ala da realizao dos artistas,
no tem o compromisso esttico nem o valor de
genialidade que lhes atribumos hoje. A tchne uma atividade humana undada num saber azer.
Aquele que tem uma arte detm um saber que o
orienta em sua produo. A arquitetura e a medi-
cina, a olaria e a orja so artes da mesma orma que
a msica e a pintura. Ou melhor, no exatamente
-
8/2/2019 issu.fildarte
49/154
49
da mesma orma, mas todas so artes: tchnai.
No da mesma orma, porque h, entre as diversas
artes, especialmente no pensamento de Aristte-
les, uma srie de dierenciaes e hierarquias que
vo separar modos dierentes de arte. Porm, e a
que a dierena radical de pensamento aparece,
nenhuma dessas valoraes e categorias enquadra
pereitamente o que hoje chamamos de Arte, e
isto, visto no prprio universo da produo artstica
dos gregos antigos!
O conceito que mais se aproxima do que entende-
mos hoje por Arte o conceito com que Aristteles
denomina o gnero potico, j no primeiro cap-
tulo da seu tratado sobre aArte Potica: trata-se da
arte mimtica que ele delimita do seguinte modo:
A epopia e a poesia trgica, assim como a com-
dia, a poesia ditirmbica, a maior parte da aultica
e da citarstica, consideradas em geral, todas se
enquadram nas artes de imitao.2
O enquadramento da poesia entre as artes mim-
ticas no uma inveno aristotlica. J Plato,
no dilogo de losoa poltica Repblica, dene a
poesia como imitao. Plato o az explicitamente
para denegrir a poesia, para torn-la de mesmo
valor que a pintura ou escultura, coisa de artesos(bnausoi), prosso de artces manuais, social-
mente ineriores na hierarquia da cidade antiga. A
perplexidade com que os cidados comuns rece-
bem esta teoria demonstra o quanto, para os gregos
em geral, o valor da arte potica era dierente do
-
8/2/2019 issu.fildarte
50/154
50
valor das artes plsticas em geral, as quais sequer
eram distintas das demais atividades produtivas,
de modo que no h o pintor em abstrato mas o
oleiro que pinta seus vasos, no h o escultor, mas
uma equipe de mestres, pedreiros e carpinteiros
que edica o templo, e assim por diante.
Dizer que a poesia imitao, para Plato, dis-
tanci-la duplamente da verdade, pois em primeiro
lugar est a verdade na ideia em si mesma de algo;
se um arteso vislumbra esta ideia e produz um ob-
jeto, este gerado a uma certa distncia da verdade,
e se um poeta canta nos seus versos este objeto, en-
to ele est aastado em dobro da verdade. O poeta,
sendo imitador, um artce de segunda categoria,
o mais aastado da verdade, prximo aos prestidi-
gitadores e ilusionistas. Isto quase uma aronta
ao senso comum dos gregos, que cultuavam seus
poetas como os mais sbios dentre os homens.
Aristteles herda de Plato a categoria de arte
mimtica, mas, ao menos no tocante ao que ns
chamamos de artes literrias, ele est disposto a
resgatar-lhes o valor arcaico tradicional de sabedo-
ria e verdade. J no que diz respeito s outras artes
mimticas, as no literrias, Aristteles, por omis-
so, as deixa no mesmo patamar em que sempreestiveram: ocio de arteso, atividade socialmente
inerior, servil. Quando muito, o Filsoo az uma
distino entre os mestres arquitetos e os que sim-
plesmente obram com as mos. Uma tal distino
ainda salva do total desprestgio algum como Fdias,
-
8/2/2019 issu.fildarte
51/154
51
o arquiteto e mestre escultor dos monumentos da
Atenas de Pricles. Quer dizer: se Aristteles chegou
a enquadrar num mesmo gnero mimtico as artes
literrias e as artes plsticas, no era por lhes dar o
mesmo valor artstico. A mmesis aristotlica um
contraponto mmesis de Plato, no dene o valor
artstico mas o valor de verdade: se, para Plato, a
imitao era o distanciamento da verdade e o lugar
da alsidade e da iluso, para Aristteles, a imita-
o o lugar da semelhana e da verossimilhana,
o lugar do reconhecimento e da representao. A
uno mimtica, em Aristteles, nem uma exclu-
sividade das artes poticas, ela apresenta-se tambm,
por exemplo, na linguagem humana em sua uno
de representar as coisas. Tal uno, a de adequar
o nome ou signo em geral coisa signicada a
uno mimtica ou representativa da linguagem,
lugar em que pode acontecer o verdadeiro ou o also.
At agora, vimos o quanto de anacrnico haveria
numa exposio do pensamento de Aristteles so-
bre a Arte, se quisssemos descobrir em suas obras
uma teoria que abrangesse o mesmo domnio do
que entendemos atualmente por Arte. Isto no im-
pede, porm, que vejamos o que ele pensa, num
domnio das artes que compreendido tambmdentro do que ns hoje entendemos por Arte. O do-
mnio da Arte Potica, tratado no livro homnimo,
obviamente, mas tambm no seu tratado sobre A
Poltica, em que, como na Repblica de Plato, a
educao da alma se az por via das msicas.
-
8/2/2019 issu.fildarte
52/154
52
A recepo da Potica de Aristteles
Para aumentar nossa perplexidade sobre o tema,
cabe ainda uma inormao histrica, de muita im-
portncia. A Potica de Aristteles, em que o l-
soo analisou o modo de ser e proceder da epopeia
e da tragdia, no primeiro livro, e da comdia, no
segundo livro (o que oi perdido), , sem dvidas, a
obra terica mais estudada, pela Esttica e Filoso-
a da Arte, de todos os tempos. A obra teve grande
infuncia na teoria literria e na oratria at a
Antiguidade tardia, passou pelas tradies cultu-
rais helenistas e rabes enquanto era posta de lado
pela Europa medieval, at que, editada e impressa
no nal do sc. xv e incio do sc. xvi (principal-
mente a edio veneziana de Aldo Manuzzio), pas-
sou a ser leitura obrigatria em todas as escolas de
Arte europeias, principalmente as italianas. Acon-
tece que, paralelamente, no Renascimento Italiano,
pela primeira vez, a pintura e a escultura passaram
a ser igualmente consideradas Belas Artes e a ter
um status social equivalente ao das Artes Poticas.
Neste momento, a recepo da Potica tratou de
azer aquela operao que acabamos de chamar de
anacrnica, i.e. de tomar o que Aristteles dizia so-bre as artes literrias, para aplicar refexo tam-
bm das demais artes, inclusive as artes plsticas,
que no estavam no escopo original do Filsoo.
Portanto, ainda que Aristteles no tenha pen-
sado sobre as Artes, tal como as entendemos hoje,
-
8/2/2019 issu.fildarte
53/154
53
o que ele escreveu oi decisivo ao longo da his-
tria das Artes ocidentais, especialmente aps o
Renascimento. A Potica de Aristteles muitas
vezes chegou a determinar os cnones de vrios
estilos, principalmente, os de inspirao clssica:
classicismos e neoclassicismos diversos. E mesmo
quando se queria contestar alguma tradio ou
escola artstica, a Potica serviu, quando no era
o modelo a seguir, de modelo a contestar, como,
por exemplo, ao se criticar o naturalismo, ou o
gurativismo, ou as amosas prescries de uni-
dade (de tempo, de espao, de ao). Assim, se
Aristteles no pensou as Artes tal como as en-
tendemos hoje, em contrapartida ele oi decisivo
para o que entendemos hoje como Arte. Muitas
das clivagens, dos valores, das categorias e dos
princpios das teorias estticas modernas e con-
temporneas tm origem nas especulaes de
Aristteles sobre a poesia pica, sobre a msica e
sobre a poesia dramtica.
Vamos apresentar, de modo sucinto, alguns des-
ses valores e categorias que tm sido to impor-
tantes para o pensamento losco sobre as Artes
e tambm para a constituio de tantos estilos e
tantas ormas eetivas de se azer Arte, ao longo daHistria ocidental. Trataremos, primeiro, de uma
distino que aparece na Poltica, entre atividades
teis e atividades belas, depois veremos a dierena
entre msicas didticas e catrticas e, a partir disso,
discutiremos algumas questes relativas nali-
-
8/2/2019 issu.fildarte
54/154
54
dade e ao sentido da Arte, quando usaremos os
pensamentos aristotlicos acerca da educao, da
catarse e do prazer, em algumas passagens antol-
gicas do questionamento esttico.
Artes teis e artes belas
Chamamos as Artes por vezes de Belas Artes, para
dierenci-las de outras atividades produtivas cujo
produto tem em vista somente alguma utilidade.
que entendemos que a nalidade da obra de
arte est na sua prpria ruio e entendemos que
belas so as coisas que desejamos por elas mes-
mas, enquanto teis so aquelas que desejamos em
vista de um outro bem. Esta dierena para marcar
as Artes que visam o belo j recebeu tambm a
qualicao de livre (artes liberais) e chegou a
inspirar a determinao kantiana para a sua teoria
do juzo de belo, como um juzo de valor desin-
teressado. Esta clivagem tem origem na tica e
na Poltica de Aristteles, ainda que no visasse
exatamente a uma distino nas artes, mas an-
tes s atividades humanas em geral. Vejamos esta
passagem do stimo livro da Poltica:
Toda a vida est dividida em negcio e cio, guerra e
paz, e dentre as aes, umas so necessrias e teis, e
outras, por outro lado, so belas. [...] A guerra existe
em benecio da paz, o negcio em vista do cio e as
coisas necessrias e teis tm por m as coisas belas.3
-
8/2/2019 issu.fildarte
55/154
55
As coisas belas, para Aristteles, so menos os
objetos produzidos pelas diversas artes do que as
melhores e mais elizes aes humanas, principal-
mente a ao teortica ou contemplativa. Mas, diz
ele, as diversas msicas e a poesia devem educar-
nos para os melhores valores, os valores do ho-
mem livre e suas aes belas e nobres. De certo
modo, Aristteles prope uma educao esttica,
em que no apenas se vo aprender contedos
ticos importantes, mas em que, por meio da arte,
j se vai tomando gosto pela atividade mais nobre
e mais divina no homem que a atividade con-
templativa. Assim, mais do que produzir coisas
belas, importante aprender a agir de modo belo
e, portanto, a beleza est inserida na realizao
das belas artes, mais na atividade contemplativa
do espectador do que nas habilidades ou geniali-
dades artsticas do autor, do produtor, do artista.
Mais do que o deslocamento do valor da realiza-
o artstica do artista para o espectador da obra,
o que diere de nossa poca a ideia de que as
atividades teis esto a servio das que no ser-
vem a mais nada e so desejadas por si mesmo.
O cio e as coisas eitas por si mesmas, as coisas
belas, para Aristteles, no apenas valem mais,mas devem determinar e dominar as coisas teis
e necessrias, pois no nal das contas elas devem
servir a esta vida humana livre, ociosa, divina,
cuja ao mais eliz a contemplao do real, da
verdade, das coisas belas.
-
8/2/2019 issu.fildarte
56/154
56
Msica didtica e msica catrtica
Ainda na Poltica, enquanto trata da educao hu-
mana na cidade, Aristteles az uma outra cliva-
gem decisiva para o domnio das artes. Uma di-
erena que o Filsoo colhe no domnio musical,
quando separa a msica em didtica ou tica, de
um lado, e orgistica ou catrtica, de outro. Con-
vm lembrar que os gregos chamam de msicas
todas as atividades propiciadas pelas musas: a epo-
peia, a tragdia, a comdia, a poesia lrica, a ertica
e assim por diante.
Vejamos esta passagem, em que Aristteles clas-
sica a arte da fauta, a aultica, entre as msicas
orgisticas: Ademais, a fauta no da ordem dos
costumes mas, sim, ela orgistica, de modo que
se deve se servir dela naquelas circunstncias nas
quais o espetculo tem o poder de purgar, no o
de ensinar.4
A msica didtica, ns a conhecemos desde as
refexes platnicas sobre a educao na cidade
e desde a armao exemplar de Herdoto sobre
Homero ser o grande educador da Grcia. Aris-
tteles tambm a chama de tica, pois o que se
aprende com tais msicas e seus mitos antes detudo o thos herico, os valores que dignicam
uma pessoa entre os gregos: a coragem de Aquiles,
a astcia de Ulisses, a dignidade de Ignia, entre
outros. Quando, na Potica, Aristteles or tratar
do objeto de imitao na poesia, dir que aquilo
-
8/2/2019 issu.fildarte
57/154
57
que se imita , sobretudo, o carter dos homens
e suas aes. Imitaes de aes de carter nobre
so as imitaes da epopeia e da tragdia, imita-
es de caracteres mesquinhos so as imitaes da
comdia. Todas tm uno didtica, seja de servir
de mulo e meta no caso das personagens picas
e trgicas, seja para servir de escrnio e provocar
vergonha no caso das personagens cmicas. Assim,
a comdia uma imitao mais verdadeira, en-
quanto a tragdia mais comovente; isso porque
esta exprime homens melhores e como gostara-
mos de ser, ao passo que aquela, piores e como
gostaramos de no ser; ora, o que gostaramos de
ser ainda no somos e nos move mais do que o que
gostaramos de no ser, mas j somos. Prova disto
que da tragdia samos motivados para aes
elevadas e da comdia samos envergonhados, e a
vergonha um reconhecimento. Motivao e reco-
nhecimento so unes didticas da msica.
Mas Aristteles no apenas v o carter didtico
das msicas na ormao do carter do indivduo.
Ele tambm atribui ao poeta uma visada sobre o
real que o aproxima da perspectiva universal de
conhecimento, como o lsoo. que o poeta trata
em seus enredos daquilo que possvel de acon-tecer, quando segue as regras da verossimilhana
e da necessidade.
O ocio do poeta no descrever coisas acontecidas,
ou ocorrncia de atos. Mas isso quando acontece,
-
8/2/2019 issu.fildarte
58/154
58
segundo as leis da verossimilhana e da necessidade.
[...] A dierena entre historiador e poeta a de que o
primeiro descreve atos acontecidos e o segundo atos
que podem acontecer. Por isso que a poesia mais
elevada e losca que a histria; a poesia tende mais
a representar o universal, j a histria, o particular.
A idia de universal ter um indivduo de
determinada natureza, em correspondncia s
leis da verossimilhana e da necessidade.5
Alis, porque o poeta mostra o universal como
possvel, na imitao de uma ao concretizada
num indivduo, ele torna mais evidente o prprio
universal, cria-lhe uma situao exemplar. Assim,
o Filsoo, sobretudo o lsoo que pensa as ques-
tes da ao humana, o lsoo da teorizao tica,
nunca deixar de se servir destes modelos de ao
que so as personagens das epopeias e das tragdias,
para compreender a natureza humana e para extrair
lies e sugestes que iluminem as diceis horas de
deciso. Mas nem s didtica e losca a msica.
A msica catrtica ou orgistica, a despeito da co-
lossal bibliograa que se produziu sobre o tema da
catarse em Aristteles, continua muito mais miste-
riosa. O que sabemos resume-se a algumas passa-gens da Poltica, a qual, quando poderia aproundar
a questo, simplesmente a remete (em 1341b 38) para
o que j se tinha tratado na Potica. Na Potica, po-
rm, sobrou-nos apenas a meno da purgao das
aeces ligadas ao terror e compaixo, na deni-
-
8/2/2019 issu.fildarte
59/154
59
o da tragdia. Meno das mais enigmticas e dis-
cutidas de toda a Histria da Filosoa. Toda a grande
teoria da catarse de Aristteles parece que se perdeu
com o desaparecimento do segundo livro da Potica.
Aristteles associa esta msica orgistica aos del-
rios bacantes, e sabemos que muitas estas e rituais
religiosos eram denominados de catrticos, puri-
cadores ou purgadores.
Pois a disposio est unida a algumas almas de modo
intenso, embora ela subsista em todas, dierindo-se
pela menor e pela maior intensidade e tendo como
exemplos a piedade, o medo
e o entusiasmo; pois alguns que so possudos por
essas perturbaes, vemo-los por causa dos cantos
sagrados, no momento em que se prestam aos cantos
suas almas so lanadas em delrio, apresentando-se
como os que se encontram sob tratamento e purgao;
isto mesmo ento oroso que soram tanto os piedo-
sos quanto os medrosos e os que em geral so sensveis,
e os outros na medida
em que o mesmo se lana sobre cada um deles;
e a todos ocorre uma purgao e sentem alvio
junto com prazer.6
A ktharsis aparece requentemente no vocabu-
lrio religioso e, posteriormente, no vocabulrio me-
dicinal grego. Aristteles mesmo usa o termo menos
na teoria da arte, contando apenas com as obras que
nos restaram, e muito mais em contextos de descrio
-
8/2/2019 issu.fildarte
60/154
60
de siologia biolgica, em que no apenas se reere
a uma tcnica medicinal, mas tambm poda das vi-
nhas, ao crescimento de cabelos e chires nos animais
ou ao fuxo menstrual das mulheres, entre outros.
O mais interessante, no que toca teoria da Arte,
que a uno catrtica das msicas opera na trans-
ormao das emoes humanas, tais como o terror, a
compaixo a clera e outras. Aristteles percebe que a
provocao e a transormao das emoes humanas
nas obras poticas algo tanto ou at mais importante
que a expresso de valores e contedos morais. No
ora isto, e a catarse das emoes no seria conside-
rada como a nalidade mesma da tragdia, pelo que
lemos na amosa denio do captulovi da Potica:
Portanto, a tragdia a imitao de uma ao
sria e acabada, que possui grandeza, que compraz
pela palavra, com separao de cada uma das espcies
em partes, atravs da atuao e no de um relato,
que por meio da piedade e do medo consuma a
purgao dessas aeces.7
O que quis dizer exatamente Aristteles ao escre-
ver que a tragdia, mediante a piedade e o medo,
produz uma catarse: uma "purgao", ou "puri-cao"? Trata-se de uma extirpao ou erradica-
o, de uma moderao ou suavizao, ou de uma
claricao das prprias emoes? As teorias sobre
o tema so muitas, e no cabe descrev-las aqui,
mas as repercusses do problema oram to impor-
-
8/2/2019 issu.fildarte
61/154
61
tantes para a refexo ocidental sobre as paixes
humanas, que vamos citar apenas um exemplo
para dimensionar sua penetrao. O aspecto ca-
trtico da clnica psicanaltica, na teoria de Freud,
oi elaborado a partir de um dilogo intenso com
um Fillogo Alemo, chamado Jacob Bernays, que
renovara a interpretao da catarse na Potica de
Aristteles num artigo de 1857, republicado em
1880, Zwei Abhandlungen ber die aristotelische
Theorie des Drama. Bernays8 ez aparecer com
mais ora o carter corporal e patolgico das
transormaes emocionais; ora da discusso mo-
ral que considerava, platonicamente digamos, as
paixes como vcios a serem corrigidos e transor-
mados em virtudes, ou extirpados, com alvio de
seu carter doloroso. Discusso que cara em voga
no Romantismo alemo, alimentada sobretudo pe-
las consideraes de Lessing sobre a dramaturgia.
Finalidade da obra de arte mimtica
Tendo revolvido algumas das questes suscitadas
pelas refexes de Aristteles no tocante s artes
poticas ou musicais, seria interessante refetir so-
bre a nalidade ou nalidades das obras de arte,entendendo, um tanto moda aristotlica, que a
nalidade consuma a plenitude de sentido daquilo
que se est investigando.
Se a realizao da obra de arte voltada para
a beleza, podemos entender que a nalidade pri-
-
8/2/2019 issu.fildarte
62/154
62
meira da obra de arte est, de certo modo, j na sua
simples presena, ela deve ser autnoma e bastar-
se a si mesma, de nada mais carecer. Na Potica, h
uma nica meno sobre a beleza do mito potico:
O belo, seja um ser animado, seja qualquer outro
objeto, desde que igualmente constitudo de
partes, no s deve apresentar nessas partes
certa ordem prpria, mas tambm deve ter, e
dentro de certos limites uma grandeza prpria;
de ato, o belo consta de grandeza e de ordem;
portanto, no pode ser belo um organismo
excessivamente pequeno, porque nesse caso
a vista conunde-se, atuando num momento
de tempo quase imperceptvel; e tampouco
um organismo excessivamente grande, como
se se tratasse, por exemplo, de um ser de dez mil
estdios, porque ento o olho no pode alcanar todo
o objeto no seu conjunto, e ogem, a quem olha, a
unidade e a sua orgnica totalidade [...] 9
H uma precisa interpretao desta passagem, es-
crita por Fernando Pessoa, nas suas Obras Estticas:
O m da arte imitar pereitamente a Natureza. Este
princpio elementar justo, se no esquecermos que
imitar a Natureza no quer dizer copi-la, mas sim
imitar os seus processos. Assim a obra de arte deve
ter os caractersticos de um ser natural, de um animal;
deve ser pereita, como so, e cada vez mais o vemos
-
8/2/2019 issu.fildarte
63/154
63
quanto mais a cincia progride, os seres naturais; isto
, deve conter quanto seja preciso expresso do que
quer exprimir e mais nada, porque cada organismo
considerado pereito, deve ter todos os rgos de que
carece, e nenhum que lhe no seja til.10
Mas a beleza da obra potica tambm acompa-
nhada de um prazer prprio no reconhecimento
do que est sendo expresso ou representado. Deste
prazer no reconhecimento resulta a eccia da
uno didtica e losca da obra de arte. Se a
obra de arte educa e instrui, isto uma consequn-
cia do prazer que o homem sente na imitao e na
representao em geral, no propriamente uma
nalidade mas uma utilidade adjacente ou coinci-
dente. A prova disto que, se azemos a obra de
arte pensando somente em instruir, corremos srio
risco de no cuidar da expresso da beleza e, por
isso mesmo, de nem agradar e nem tampouco ins-
truir; mas se buscamos azer a obra realmente bela,
na pereio do que quer exprimir, por si mesma
ela gera prazer e tambm o saber no reconheci-
mento. De modo que o homem se compraz na re-
presentao e na expresso, das quais decorre como
consequncia uma experincia de aprendizagem.Est na natureza do homem o carter mimtico,
por isso ele representa o mundo e tem linguagem,
por isso ele se compraz em conhecer e reconhecer,
em experimentar e saborear as dierenas do real.
O imitar congnito no homem (e nisso diere
-
8/2/2019 issu.fildarte
64/154
64
orientaesde estudo
Destacar os principais conceitos de cada um dos textos da
Unidade I, e escrever pequenos textos sobre cada um deles,
especicando a acepo dos termos em cada um dos pensadores
gregos abordados, de modo a construir um glossrio.