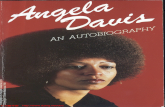El is Angela
-
Upload
manoelnascimento -
Category
Documents
-
view
7 -
download
4
description
Transcript of El is Angela
-
1
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA UNEB DEPARTAMENTO DE CINCIAS HUMANAS CAMPUS V PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA REGIONAL E LOCAL
A BAHIA IMAGINANDO-SE NAO: DISCURSOS QUE FORJARAM UMA IDENTIDADE CULTURAL BAIANA ENTRE AS DCADAS DE
1940 E 1970.
ELISNGELA SALES ENCARNAO
SANTO ANTONIO DE JESUS-BA MAIO/2010
0
-
2
ELISNGELA SALES ENCARNAO
A BAHIA IMAGINANDO-SE NAO: DISCURSOS QUE FORJARAM UMA IDENTIDADE CULTURAL BAIANA ENTRE AS DCADAS DE
1940 E 1970.
Dissertao apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Histria Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como parte dos requisitos necessrios obteno do ttulo de Mestre. Orientadora: Mrcia Maria da Silva Barreiros Leite.
MAIO / 2010
-
3
E561 Encarnao, Elisngela Sales.
A Bahia imaginando-se nao: discursos que
forjaram uma identidade cultural baiana entre as
dcadas de 1940 e 1970. / Elisngela Sales
Encarnao - 2010.
189 f.: il Orientadora: Profa. Dra. Mrcia Maria da Silva Barreiros Leite. Dissertao (mestrado) - Universidade do Estado da Bahia, Programa
de Ps-graduao em Histria Regional e Local, 2010.
1. Nordeste - Bahia. 2. Identidade social. 3. Cultura - Bahia I. Leite, Mrcia Maria da Silva. II. Universidade do Estado da Bahia, Programa de Ps-graduao em Histria Regional e Local.
CDD: 306.098142
Elaborao: Biblioteca Campus V/ UNEB
Bibliotecria: Juliana Braga CRB-5/1396.
-
4
A BAHIA IMAGINANDO-SE NAO: DISCURSOS QUE FORJARAM UMA IDENTIDADE CULTURAL BAIANA ENTRE AS DCADAS DE 1940 E 1970.
ELISNGELA SALES ENCARNAO
Orientadora: Mrcia Maria da Silva Barreiros Leite
Dissertao de Mestrado submetida ao Programa de Ps-Graduao em Histria Regional e Local, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, como parte dos requisitos necessrios obteno do ttulo de Mestre. Aprovada por: BANCA EXAMINADORA: _______________________________________________ Profa. Dra. Mrcia Maria da Silva Barreiros Leite Orientadora _______________________________________________ Prof. Dr. Rinaldo Cesar Nascimento Leite ________________________________________________ Prof. Dr. Aldo Jos Morais Silva ________________________________________________ Profa. Dra. Ana Maria Carvalho dos Santos Oliveira Suplente ________________________________________________ Prof. Dra. Andrea da Rocha Rodrigues Suplente
MAIO / 2010
-
5
A minha me D. Isabel mulher guerreira e contadora de histrias. Presente at na ausncia.
A Luis Gustavo companheiro e amigo. A meu filho Augusto farol, fora, inspirao.
A minha Famlia.
-
6
AGRADECIMENTOS
Agradecimentos so muitos. A minha orientadora, a professora Dra. Mrcia
Maria da Silva Barreiros Leite, pelo apoio e ajuda competente e sensvel.
coordenadora do Programa de Ps-Graduao em Histria Regional e Local
Dra. Maria das Graas Leal e a todos os professores, tcnicos e colegas do
programa. Aos professores do Colegiado de Histria da Universidade do Estado da
Bahia, Campus V.
Fundao Casa de Jorge Amado pelo acesso ao acervo documental,
indispensvel pesquisa, especialmente a Fernanda, Diego e Bruno estagirios de
arquivologia que tanto me ajudaram no garimpo no emaranhado das fontes.
banca de qualificao, os professores Dr. Rinaldo Leite e Dr. Aldo Morais,
pela leitura atenta e pelas sugestes to preciosas. amiga e professora Dra. Ana
Maria Carvalho, pelo incentivo carinhoso. Ao AFROUNEB - Ncleo
Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, do qual fao parte, pela
experincia, pelas discusses.
A minha amiga Ms. Andra Barreto Borges de Souza pela reviso do texto.
Isento-a, no entanto, das escolhas que conscientemente fiz em desobedec-la.
Aos meus alunos da educao bsica dos Colgios Luis Eduardo Magalhes, em
Muniz Ferreira, e do Rmulo Almeida, em Santo Antonio de Jesus. Tambm aos
meus alunos do curso de Histria da Uneb, campus V.
A minha famlia, meu marido, meu filho, minha sogra, meus irmos, agradeo o
apoio recebido e peo desculpas pelos momentos de ausncia. Aos amigos e colegas
de trabalho, pela fora e confiana.
A todos, meu muito obrigada.
-
7
Uma cultura nacional no um folclore, nem um populismo abstrato, que se cr capaz de descobrir a verdadeira natureza de um povo. Uma cultura nacional o conjunto de esforos feitos por um povo na esfera do pensamento para descrever, justificar e louvar a ao pela qual esse povo se criou e se mantm em existncia. (Frantz Fanon. Pele Negra, Mscaras Brancas).
Nordeste Independente J que existe no Sul este conceito que o Nordeste ruim, seco, ingrato j que existe a separao de fato preciso torn-la de direito Quando um dia qualquer isso for feito todos dois vo lucrar imensamente comeando uma vida diferente da que a gente at hoje tem vivido imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente Dividido a partir de Salvador o Nordeste seria outro pas vigoroso, leal, rico e feliz sem dever a ningum no exterior Jangadeiro seria o senador o caador de roa era o suplente cantador de viola o presidente o vaqueiro era o lder do partido Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar Independente Em Recife o distrito industrial o idioma ia ser Nordestinense a bandeira de renda cearense Asa branca era o hino nacional O folheto era o smbolo oficial a moeda o tosto de antigamente Conselheiro seria inconfidente Lampio o heri inesquecido Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar Independente
-
8
O Brasil ia ter que importar do Nordeste algodo, cana e caju carnaba, laranja e babau abacaxi e o sal de cozinhar O arroz, o agave do lugar o petrleo, a cebola, a aguardente o Nordeste auto-suficiente e o seu lucro seria garantido Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar Independente Se isso vier a se tornar realidade e algum do Brasil nos visitar nesse nosso pas vai encontrar confiana, respeito e amizade Tendo o po repartido na metade tendo o prato na mesa, cama quente Brasileiro seria irmo da gente v pra l que ser bem recebido Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar Independente Eu no quero com isso que vocs Imaginem que eu tente ser grosseiro pois se lembrem que o povo brasileiro amigo do povo portugus Se um dia a separao se fez todos dois se respeitam no presente se isso a j deu certo antigamente nesse exemplo concreto e conhecido Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar Independente (Braulio Tavares/Ivanildo Vilanova)
-
9
RESUMO
O presente trabalho problematiza o processo de (re)construo da identidade cultural baiana entre as dcadas de 1940 e 1970. Pensa como se deu a passagem de uma identidade cultural pautada nos valores das elites para uma outra que levava em considerao os valores da populao afro-baiana. Elegemos como fonte principal para estudar essa nova identidade a obra do escritor baiano Jorge Amado, dentre elas, especialmente, os livros Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistrios da cidade do Salvador (1945) e Tendas dos Milagres (1969). No entanto, outras fontes foram tambm utilizadas como, a exemplo, dos escritos freyrianos, de jornais e discursos de parlamentares baianos e nordestinos para entender um outro fenmeno que ocorreu nesse mesmo perodo estudado: a insero da Bahia na regio Nordeste e como isso afetou (ou no) essa nova identidade cultural baiana. Compreendemos que apesar da entrada da Bahia na regio Nordeste, ela continuou afirmando uma identidade cultural particular e apesar dessa nova identidade ter positivado alguns dos valores culturais dos afro-baianos, muitos dos esteretipos existentes sobre esse grupo tnico foram mantidos. PALAVRAS-CHAVE: Bahia, Identidade, Jorge Amado, Nordeste, Mestiagem.
-
10
ABSTRACT
This paper discusses the (re)construction process of cultural identity in Bahia between the 1940s and 1970s. It considers how was the transition of a cultural identity based on elites values to another that took into account the values of Afro-Bahian population. We chose, as a main source to study this new identity, Jorge Amados work, and among them, especially the books Bahia de Todos os Santos: A guide to streets and mysteries (1945) and Tent of Miracles (1969). However, other sources were also used, as the example of Gilberto Freyres writings, newspapers, and speeches from Bahia and Norhteast legislators to understand another phenomenon that occurred during the same studied period: Bahias insertion in the Northeast region and how it affected (or not) this new Bahias cultural identity. We understand that despite the entry of Bahia in northeast region, it continued to sustain a specific cultural identity and although this new identity has positivised some of the cultural values of many Afro-Bahians, many of the existing stereotypes about this ethnic group were maintained.
KEYWORDS: Bahia, Identity, Jorge Amado, Northeast, Miscegenation.
-
11
SUMRIO
1.0 - INTRODUO...............................................................................................11 2.0 - CAPTULO I- NARRATIVAS DA NAO: UMA COMUNIDADE
IMAGINADA............................................................................................................22
2.1Como se Narra uma Nao: uma contribuio da Histria e da
Literatura...................................................................................................................22
2.2 - Narrativas Regionais: o difcil desafio do equilbrio de interesses...................32
2.3 -Em Favor do Nordeste: um manifesto pela preservao dos valores culturais
mais autnticos do pas........................................................................................39
2.4 - O Outro Nordeste: entre representaes e apropriaes................................54
3.0 - CAPTULO II - A BAHIA IMAGINANDO-SE NAO: A NARRATIVA DA BAHIA COMO UMA NARRATIVA NACIONAL..........................................72 3.1 - Identidades Individuais e Coletivas: solo movedio sobre o qual construmos a
nao....................................................................................................................72
3.2 - A Essncia Baiana: O Guia Bahia de Todos os Santos como uma narrativa
regional-nacional.................................................................................................80
3.3 Em Defesa da Bahia: um Estado empobrecido e suas
reivindicaes....................................................................................................105
4.0 CAPTULO III - A BAHIA NO POPULAR: A NOVA IDENTIDADE BAIANA..................................................................................................................126 4.1 Embates entre a Velha e a Nova: A Athenas Brasileira versus a Mulata Velha......................................................................................................................126 4.2 Negros e Mestios na Identidade Cultural Brasileira.....................................135 4.3 A Bahia sob o olhar de Gilberto Freyre..........................................................150 4.4 Miscigenao: a maior contribuio do Brasil para a Humanidade...............157 5. 0 - CONSIDERAES FINAIS........................................................................ 176 6.0 FONTES CONSULTADAS...........................................................................179 7.0 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS............................................................184
-
12
1.0 - INTRODUO
Ao iniciar sua fala na Aula Inaugural no Collge de France, pronunciada em
dezembro de 1970, Michel Foucault exps sua
inquietao diante do que o discurso em sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita; inquietao diante dessa existncia transitria destinada a se apagar sem dvida, mas segundo uma durao que no nos pertence; inquietao de sentir sob essa atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina; inquietao de supor lutas, vitrias, ferimentos, dominaes, servides, atravs de tantas palavras cujo uso h tanto tempo reduziu as asperidades. 1
deste poder do discurso que fala este trabalho. Dos seus perigos, do poder que
possui de produzir e intervir no real vivido ou consumido, de suas vitrias, de sua
durao indeterminada.
As vrias instncias do discurso (oral, escrito, visual, simblico, etc.), mais do
que meros reflexos estticos da realidade social, so instrumentos de constituio de
poder e de transformao da realidade. A representao do real, ou o imaginrio, , em
si, elemento de transformao do real e de atribuio de sentido ao mundo.2
Fruto do racionalismo cientfico do sculo XVIII, a oposio entre razo e
imaginao, processo histrico que marginalizou o imaginrio, foi o responsvel pela
viso deste como algo inventado, fantasioso, no srio porque no cientfico. Neste
trabalho, porm, pensaremos o imaginrio, o simblico, no como o inverso da razo,
mas sim como uma outra instncia humana capaz tambm de dar conta de explicar
determinados processos sociais.
A rigor, todas as sociedades, ao longo de sua histria, produziram suas prprias representaes globais: trata-se da elaborao de um sistema de idias-imagens de representao coletiva mediante o qual elas se atribuem uma identidade, estabelecem suas divises, legitimam seu poder e concebem modelos para a conduta de seus membros. Seriam, pois, representaes coletivas da realidade, e no reflexos da mesma. H, assim, uma temporalidade da histria nas representaes.3
1 FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso: a aula inaugural no Collge de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 8 ed., So Paulo: Loyola, 2002, p. 8. 2 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Em busca de uma outra histria: imaginando o imaginrio. In: Revista Brasileira de Histria, So Paulo: Contexto, v. 15, n. 29, ANPUH, 1995, p. 18. 3 Ibidem, p. 16.
-
13
O controle, a reproduo, a difuso, o gerenciamento e a manipulao do
imaginrio possuem impacto sobre condutas individuais e coletivas, influenciando
escolhas, forjando mitos, crenas, smbolos etc. A literatura um campo privilegiado de
contato com o imaginrio, tem o poder de reconstituir a vida cotidiana, desvendar
contradies e revelar divergncias presentes nas relaes sociais e nas suas
representaes.4 Vemos, assim, a literatura como capaz de construir histrias,
memrias, prticas sociais, identidades.
Neste trabalho buscamos entender com se deu o processo de (re)construo da
identidade cultural baiana entre as dcadas de 1940 e 1970, elegendo como fonte
principal, para entender essa identidade, os escritos literrios do escritor baiano Jorge
Amado (1912-2001), mais detidamente o guia Bahia de Todos os Santos: guia das ruas
e dos mistrios da cidade do Salvador5 e o romance Tenda dos Milagres6, sem deixar,
no entanto, de dialogar com outras fontes como os discursos dos parlamentares baianos
proferidos no Senado e na Cmara Federal, os textos do socilogo pernambucano
Gilberto Freyre, escritos amadianos em peridicos, jornais sobre a Bahia e sobre a obra
de Jorge Amado.
Buscamos entender tambm como ocorreu o processo de integrao da Bahia
recm criada regio Nordeste. Na primeira diviso regional do Brasil feita pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) na dcada de 1940, a Bahia no fazia
parte desta regio. Em 1958, o conceito de Nordeste reformulado pelo governo
Federal com a criao do Banco do Nordeste do Brasil, demarcando o Nordeste numa
rea denominada Polgono das Secas. S ento que a Bahia seria includa nessa
regio.7 A Bahia, no entanto, no ser conhecida/reconhecida no Brasil e fora dele por
conta das mazelas da seca, mas por suas festas, sensualidade, exuberncia.
O recorte temporal se processou, desta forma, no intuito de perseguir as duas
problemticas centrais desse trabalho, perceber como se d a passagem da identidade
baiana centrada nas elites para uma outra pautada nos valores culturais das classes
populares e como ocorreu a insero da Bahia na regio Nordeste. 4 ANDRADE, Celeste Maria P. de. A literatura no ensino da histria da Bahia: a obra de Jorge Amado. In: Sitientibus, Feira de Santana: UEFS, n. 14, 1996, p. 13. 5 AMADO, Jorge. Bahia de Todos os Santos: guia das Ruas e dos Mistrios da Cidade do Salvador. 2 ed., So Paulo: Livraria Martins Editra S.A, 1951. 6AMADO, Jorge. Tenda dos Milagres. So Paulo: Martins, 1969. 7 MARTINS, Paulo Henrique N. O Nordeste e a Questo Regional: os equvocos do debate. In: SILVA, Marco A. da. Repblica em Migalhas: histria regional e local. So Paulo: Marco Zero, 1990, p.54.
-
14
Em estudo sobre a identidade baiana, entre as dcadas de 1910 e 1920, Rinaldo
Leite8 percebe que esta era pautada nos ideais das elites baianas, mas que estas mesmas
elites j davam sinais de perda do poder de representao. A literatura amadiana se
insere nesse contexto como uma nova possibilidade de representao. O Guia, escrito
em 1945, apesar de no figurar entre suas obras mais vendidas, se apresentava como um
marco. um manifesto de amor Bahia. Um convite que, de uma forma ou de
outra, figurar presente em todos os seus demais escritos. Tenda dos Milagres, de 1969,
foi dos seus romances um dos mais aplaudidos pela crtica. Nele, Jorge Amado tematiza
os embates existente nas relaes raciais baianas fazendo uma apologia mestiagem
como a resoluo mais perfeita para essa questo.
A instalao da Petrobrs, a criao da SUDENE - Superintendncia de
Desenvolvimento do Nordeste, a insero da Bahia na regio Nordeste, na diviso
territorial oficial proposta pelo IBGE, marcaram as dcadas de 1950-1970 e so tambm
elementos importantes que mediaram decisivamente o processo de reconfigurao da
identidade cultural baiana.
Jorge Amado nasceu em Itabuna, regio sul da Bahia, no incio do sculo XX e a
partir da terceira dcada deste sculo narrou a Bahia para o Brasil e para o mundo.
Autor de mais de trinta ttulos foi durante muito tempo o escrito brasileiro mais vendido
dentro e fora do pas, s sendo ultrapassado por Paulo Coelho na dcada de 1990. Alm
disso, ainda o escritor brasileiro mais traduzido para outras lnguas. Adaptado para o
cinema, televiso, teatro, revistas em quadrinhos, seus romances inspiraram msicos,
artistas plsticos, seus personagens tornaram-se nomes de ruas, bares, restaurantes etc.
Sua obra teve um alcance at ento desconhecido por qualquer artista brasileiro e, dessa
forma, contribuiu no processo de conhecimento/reconhecimento da Bahia e dos baianos
pelo restante do mundo, inclusive pelo Brasil.
Com sua militncia poltica de esquerda conquistou respeito nos meios poltico
e intelectual. A sua sada do PCB - Partido Comunista Brasileiro, em 1956, inaugura
uma nova fase na sua carreira com o gradativo abandono da literatura engajada no
objetivo da transformao social para o tratamento literrio das relaes de gnero e
etnia, questes muito presentes nos anos de 1950-60 com a emergncia dos movimentos
negro e feminista, sinal do tempo e traos de uma escrita permanentemente demarcada
8 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. A Rainha Destronada: Discursos das elites sobre as grandezas e aos infortnios da Bahia nas primeiras dcadas republicanas. Tese de doutorado, So Paulo, Doutorado em Histria Social/PUC, 2005.
-
15
pelo relgio da histria9. Por essa razo a obra do escritor baiano Jorge Amado ser
tomada aqui como corpus privilegiado na construo/divulgao10 dessa nova
identidade cultural baiana. A Bahia que emerge destes discursos est fortemente
carregada pelos signos da mestiagem, da religiosidade, das tradies culturais, da
sensualidade, da exuberncia da natureza, do exotismo de seu povo, da singularidade de
sua cozinha, de sua dana, de sua msica, de seus batuques. Na Bahia tem-se a
impresso de que todo dia dia de festa. Festa de igreja brasileira com folha de canela,
bolo, foguete, namoro.11
No discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, em 1961, Jorge Amado
nos conta sobre o impacto que o livro Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre,
causou na intelectualidade brasileira e estrangeira da poca, bem como a influncia em
sua obra.12 A tese freyriana da miscigenao harmoniosa das raas passa a ser a teoria
mais adequada para explicar o fenmeno da mestiagem brasileira, sem igual em
qualquer outro lugar. A alta carga de positividade dada mestiagem, nessa obra, era
uma novidade, visto que, at ento, a mistura de raas era apontada como o motivo do
atraso econmico, poltico e humano do Brasil. No entanto, o livro Casa-grande &
Senzala no um fenmeno isolado, muitos outros autores j caminhavam no sentido de
positivar a influncia negra na constituio da identidade nacional brasileira. Manoel
Quirino, Arthur Ramos, Thales de Azevedo e Edson Carneiro so exemplos disso.
A obra do escritor baiano Jorge Amado, assim como os escritos de Gilberto
Freyre, foram partcipes da construo de uma imagem de Bahia, alegre, mestia,
sensual. Esta Bahia criada, assim como na inveno do Nordeste, tambm se
configurar num espao da saudade, de apego nostlgico ao passado, de um tempo de
riqueza e poder das elites locais.
9 DUARTE, Eduardo de Assis. Classe, gnero, etnia: povo e pblico na fico de Jorge Amado. In: Cadernos de Literatura Brasileira: Jorge Amado, n. 3, 1997, p. 97. 10No se est postulando que Jorge Amado seja o criador da identificao da Bahia como mestia e sensual, pois isso algo presente desde o desembarque dos primeiros colonizadores, nos relatos dos viajantes, nos poemas de Gregrio de Matos, nos escritos de Gilberto Freyre, entre outros. No entanto, pela dimenso da repercusso de sua obra ele pelo menos o principal responsvel pela elaborao do perfil mais bem acabado da baianidade e pela socializao dessa memria. Alm dos tericos da baianidade, entre eles Roberto Albergaria e Antnio Risrio, Durval Muniz Albuquerque Jr. e Maria Celeste Pacheco Andrade tambm coadunam dessa opinio. 11 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da economia patriarcal. 34 ed., Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 289. 12 AMADO, Jorge. Discursos. Salvador: Casa das Palavras; Fundao Casa de Jorge Amado, 1993, p. 18.
-
16
Nas sacadas dos sobrados Da velha So Salvador H lembranas de donzelas Do tempo do Imperador Tudo isso na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito
Que nenhuma terra tem13
Aliado inveno do Nordeste como um espao da saudade, a partir de Casa-
Grande e Senzala, veremos a construo da Bahia como o ltimo espao de conservao
desta memria, reforada em artigos de jornais escritos por Freyre e tambm nas obras
de Jorge Amado e Dorival Caymmi. No prefcio primeira edio, em 1933, repetido
na integra nas demais edies, o autor nos conta sobre sua visita Bahia, este ltimo e
Deus queira que invencvel reduto14 da tradio de um Brasil patriarcal, e exalta as
qualidades da velha cozinha das casas-grandes.15
justamente a melhor lembrana que conservo da Bahia: a da sua polidez e a da sua cozinha. Duas expresses de civilizao patriarcal que l se sentem hoje como em nenhuma outra parte do Brasil.16
A Bahia seria ento para Freyre a matriz da sua to famosa teoria da
miscigenao harmoniosa das raas, no s porque o Brasil nasceu na Bahia, mas
tambm porque essa desempenhou muito bem seu papel nesta teoria, alm de
transformar-se no melhor reduto de conservao de sua tese. Por figurar como espao
da saudade e bero da democracia racial brasileira a identidade baiana, tanto a humana
quanto a geogrfica, ser construda em franca oposio imagem do Sul moderno e
desagregador. Veloz, que no respeita o ritmo da natureza. Povo que no encontra
tempo nem para dar dois dedos de prosa, contribuindo, inclusive, na criao dos
esteretipos da lentido e da preguia baiana.
Amado e Freyre podem ter sido os mais importantes propagandistas das
qualidades baianas do sculo XX, mas no foram os nicos. A Agncia Baiana de
13 CAYMMI, Dorival. Voc j foi Bahia? lbum Dorival Caymmi, Odeon, 1969. 14 FREYRE, G. Casa-Grande e Senzala...op.cit., Prefcio, p. XLV. 15 Ibidem, p. XLV. 16 Ibidem, p. XLVI
-
17
Turismo, a Bahiatursa, soube muito bem se aproveitar dos discursos desses dois autores
para exaltar os atrativos desse Estado. Slogans como Bahia, o Brasil nasceu aqui ou
Bahia, terra da alegria foram forjados por essa instituio e veiculados em
propagandas na televiso, rdios, outdoors etc., sintetizando dois elementos da
identidade cultural baiana. Um mais antigo nos fala da primordialidade baiana, bero da
civilizao brasileira, cidade-me do Brasil. O outro, mais recente, nos seus contornos
atuais, exalta essa terra boa, farta de alegria, a terra da felicidade. Ambos,
entretanto, visam apreender (e vender) a Bahia.
A identidade cultural baiana, tal qual a conhecemos hoje fruto de um longo
processo de mudanas e adaptaes aos novos tempos. A representao da Bahia foi
afetada por ela ter sido o palco do Descobrimento, por ter sediado a primeira capital,
porque durante muito tempo foi o centro econmico, cultural e intelectual, por um lado,
e pela grande presena negra, de outro. Por muito tempo, a representao da elite baiana
era tomada para representar todo o Estado, escondendo a tenso de uma populao
majoritariamente negra ou mestia. As sucessivas crises econmicas e a perda do posto
de capital abalaram o poder das elites baianas e o seu poder de representao.
A partir da dcada de 1930 do sculo XX houve o surgimento de uma voz que
se tornou uma das mais importantes no processo de reconfigurao da identidade baiana
partindo dos valores culturais das classes populares. A obra literria do escritor baiano
Jorge Amado ser palco de um repensar da identidade cultural baiana, na qual tentou
aliar as antigas representaes como a originalidade, a primordialidade, a tradio, com
os valores culturais da populao afro-baiana. Com o passar do tempo essa nova
identidade se tornou hegemnica, especialmente nos meios miditicos e tursticos, mas
em momento algum pode ser considerada como nica.
Na contramo da idia de que a baianidade centrada em Salvador e no
Recncavo seja a nica identidade cultural baiana, temos a dissertao Cartografia da
Saudade: Eurico Alves e a inveno da Bahia sertaneja de Valter Guimares Soares17,
que tematiza a construo de uma sertanidade baiana nos textos do autor feirense Eurico
Alves. Os escritos de Eurico Alves se inserem, para Soares, na luta pelas representaes
e procura fixar uma paisagem e uma identidade sertaneja no universo identitrio baiano,
rivalizando com a identidade hegemnica, mas tendo em comum com ela a tentativa de
proteger a Bahia da modernidade.
17 SOARES, Valter Guimares. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a inveno da Bahia sertaneja. Universidade Estadual de Feira de Santana; Feira de Santana-Ba, 2003, Dissertao de Mestrado.
-
18
Reafirmando a centralidade de Salvador e do Recncavo baiano na identidade
cultural baiana gestada por Amado est a tese de doutoramento de Celeste Maria
Pacheco de Andrade, Bahia, Cidade-Sntese da Nao Brasileira: uma leitura em Jorge
Amado18, afirmando que esse autor com sua obra definiu uma nova geografia
imaginria sobre a Bahia na qual elegeu a cidade da Bahia como capaz de
representar no s a identidade baiana, mas podendo tambm figurar como sntese da
nao brasileira.
Lizir Arcanjo Alves, em Os Tensos Laos da Nao: conflitos poltico-literrios
no segundo reinado, 19 faz essa discusso recuar no tempo e toma os embates poltico-
literrios travados nos jornais e revistas durante o segundo Imprio entre a Bahia e o
Rio de Janeiro, a antiga e a nova capital federal, para pensar nas disputas dos capitais
simblicos que sero escolhidos para a constituio da identidade nacional.
A Bahia de Jorge Amado de Jacques Salah20 um texto de um autor seduzido
pelo escritos amadianos, os quais considera expresso da verdade baiana, fruto de uma
vivncia popular do escritor Jorge Amado junto ao povo. Conclui semelhana de Ruth
Landes21, quando esteve no Brasil em 1938, que na Bahia no h grandes choques
culturais/raciais, uma vez que o humanismo baiano adoou e amenizou as relaes. J
o estudo de Ilana Goldstein22 toma a obra de Amado como local privilegiado para
pensar a identidade nacional. Tece uma discusso com vistas a desmistificar a
representao da identidade nacional mestia e harmoniosa que a obra amadiana
divulgou com seus best sellers tanto para o Brasil quanto para o mundo, percebendo que
debaixo da aparente calma em relao s questes raciais no Brasil existem tenses,
conflitos, fraes e disputas.
O estudo pioneiro de Mrcia Rios da Silva analisou Jorge Amado de uma
perspectiva bastante diferente da que estamos acostumados, pensando no suas obras,
mas sim sua recepo, por meio da anlise das cartas de fs e de leitores desse escritor
para pensar como a literatura amadiana atuava na vida pessoal de seus leitores. Esta
uma chave de leitura importante para pensar um autor que atravessou o sculo XX
tecendo interpretaes da Bahia, dos baianos, do Brasil e dos brasileiros. 18 ANDRADE, Celeste Maria Pacheco. Bahia, Cidade-Sntese da Nao brasileira: uma leitura em Jorge Amado. Pontifcia Universidade Catlica. So Paulo, 1999, Tese de Doutorado. 19 ALVES, Lizir Arcanjo. Os Tensos Laos da Nao: conflitos poltico-literrios no segundo reinado.Universidade Federal da Bahia. Salvador, vol. I e II, 2000, Tese de Doutorado. 20 SALAH, Jacques. A Bahia de Jorge Amado. Salvador: Fundao Casa de Jorge Amado, 2008. 21 LANDES, Ruth. A Cidade das Mulheres. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002. 22 GOLDSTEIN, Ilana Seltzer. O Brasil Best Seller de Jorge Amado: literatura e identidade nacional. So Paulo: Editora Senac, 2003.
-
19
As mudanas ocorridas no campo historiogrfico e da literatura tornaram nosso
trabalho possvel, pois proporcionaram Histria incorporar a diversidade e a
complexidade a seus mtodos e discursos. A Histria Regional e Local surge nesse
contexto para questionar a temporalidade e os locais de poder. O presente trabalho serve
muito bem a esse propsito. Fazer Histria da Bahia, descortinar os processos histricos
que levaram a Bahia a uma condio poltica e econmica secundria no presente
perceber em ao, a temporalidade dos espaos de poder. Na atualidade, fazer Histria
fora do eixo Rio-So Paulo fazer Histria Regional e Local.23 Curiosamente, h algum
tempo atrs, fazer Histria da Bahia era fazer Histria do Brasil. No entanto, no se
pretende contrapor Histria Nacional a Histria Local e sim perceb-la parte integrante
daquela, no uma histria menor, mas capaz tambm de compreender, sobre outros
ngulos, a histria de um pas.24
Essas novas preocupaes da historiografia tm nos permitido observar a
heterogeneidade das experincias, incorporando toda a complexidade do processo
histrico, o que implica aceitar as mudanas e descontinuidades histricas25; nos
permite, tambm, desierarquizar as fontes e perceber a literatura com capaz de intervir e
instituir reais, de dialogar com o imaginrio, com as representaes sociais. Assim,
tomamos os textos literrios de Amado, os escritos sociolgicos de Freyre, as matrias
dos jornais, a fala do parlamentares, como discursos que ajudaram a configurar a
identidade cultural baiana. Pensamos que o conceito de discurso no encerra apenas a
verbalizao escrita ou falada que assume a forma de um texto, mas como um conjunto
de aes verbais e no verbais intimamente ligadas a uma prtica de produo de
sentidos. Dessa forma, no concebemos a dicotomia entre discurso e prtica, pelo
contrrio, entendemos o discurso como uma prtica consciente ou no de intervir na
instncia do vivido que chamamos de real.
Segundo Michel De Certeau, a operao historiogrfica se inicia na escolha e
seleo das fontes. Este ato transforma certos objetos distribudos de outra maneira
em documentos,
23 ALBUQUERQUE JR., D.M. op. Cit., p. 30. 24 REVEL, Jacques. Microanlise e construo social. In: Revel, J.(org) Jogos de escalas: a experincia da microanlise. Rio de Janeiro: Editora Fundao Getlio Vargas, 1998, p. 28. 25 MATOS, M. Izilda de. Estudos de Gnero: percursos e possibilidades na historiografia contempornea. Cadernos Pagu, n 11, 1998, p. 71.
-
20
Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. [...] Significa transformar alguma coisa, que tinha sua posio e seu papel, em alguma outra coisa que funciona diferentemente.26
Assim fizemos com as fontes eleitas para estudo. E fizemos mais: propusemos tambm
uma forma de ler esses documentos como narrativas nacionais, segundo os critrios
discutidos por Stuart Hall27, como narrativas capazes de, manipulando smbolos e
representaes coletivas, narrar a nao, uma vez que, tanto os escritos freyrianos
quanto os amadianos, ao narrarem o Nordeste e a Bahia pensaram o Brasil e em muito
contriburam para a atribuio de uma identidade cultural brasileira ao pensarem esses
espaos como o Brasil mais autntico, e, por isso mesmo, capazes de represent-lo.
O presente texto est dividido em trs captulos. No primeiro intitulado:
Narrativas da Nao: uma comunidade imaginada, fez-se uma discusso terica sobre
o conceito de nao e sobre como a narrativa nacional se constri, baseado nos escritos
de Benedict Anderson e Stuart Hall. Discutimos tambm os conceitos de regio e
regionalismo, aplicando estas discusses ao caso do Brasil e do Nordeste em particular.
Interpretamos o Manifesto Regionalista de 1926, escrito por Gilberto Freyre, como uma
narrativa regional-nacional, ou seja, como uma narrativa que possui todos os elementos
discutidos por Hall como capazes de contribuir para a atribuio de uma identidade
cultural regional, mas que se quer nacional.
O Nordeste se narra como o espao no qual se encontram os valores culturais
mais autnticos do Brasil, por esta razo pode represent-lo. No entanto, entre a
representao freyriana do Nordeste e a sua apropriao pelos discursos polticos e
jornalsticos houve uma grande distncia, uma vez que a exaltao da riqueza cultural e
da primordialidade nordestina funcionava apenas em parte para atender aos interesses
polticos e econmicos das elites dessa regio. nesse contexto que o discurso da seca
se acentua e o Outro Nordeste aparece exaltando o flagelo das populaes expostas a
esse terrvel fenmeno climtico. Nos discursos dos parlamentares analisados nesse
captulo, o Nordeste aparece como uma regio de grande importncia para o Brasil,
26 CERTEAU, Michel De. A Escrita da Histria. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1982, p. 81-83. 27 HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade.10 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 47-65.
-
21
devido a seu passado, e atender s reivindicaes nordestinas, era condio vital para a
manuteno da unidade nacional.
No segundo captulo, A Bahia Imaginando-se Nao: a narrativa da Bahia
como uma narrativa nacional, discutimos como a Bahia se insere na regio Nordeste e
quais as diferenas e semelhanas nos discursos de Bahia e Nordeste. Para isso,
comparamos alguns discursos de polticos da bancada baiana com o da bancada
nordestina na Cmara de Deputados Federais e no Senado, com o intuito de perceber
quando os baianos se utilizam do discurso da nordestinidade e quando se afastam dele,
afirmando uma Bahia singular, particular no pas, o bero da nao. Propusemos a
leitura do Guia Bahia de Todos os Santos como uma narrativa regional-nacional, que,
assim como o Manifesto Regionalista28, narra a sua regio como a original, a portadora
dos valores mais autnticos do pas. Pensou, inspirado no trabalho de Rinaldo Leite,
como a identidade baiana, que esteve ligada at o incio do sculo XX s representaes
das elites, se constituir com fortes traos populares na obra amadiana.
No terceiro captulo, A Bahia no Popular: a nova identidade baiana, fizemos
uma verticalizao na discusso. Mergulhamos nos romance amadiano Tenda dos
Milagres29 e nos escritos de Gilberto Freyre, com destaque para os textos deste autor
sobre a Bahia reunidos por Edson da Fonseca no livro Bahia e Baianos30 e Sobrados e
Mucambos31, com o intuito de buscar os elementos principais dessa nova identidade
cultural baiana, agora pensada a partir dos afro-brasileiros. Dentro desses escritos, a
mestiagem se destaca. Segundo Amado e Freyre, esta a melhor contribuio do
Brasil para a humanidade. A Bahia aparece nesses discursos como o espao onde a
mistura entre brancos, negros e ndios, as matrizes culturais do Brasil melhor se
processou. No entanto, a miscigenao proposta por esses dois autores se revelou muito
mais adequada s teorias de embranquecimento do Brasil do que positivao dos
valores afro-brasileiros.
Ao longo dos mais de dois anos de pesquisa e escrita desse trabalho, em muitos
momentos, admito, senti uma sensao de dj vu, ao folhear os romances amadianos,
os escritos freyrianos, os jornais, os discursos dos senadores e deputados das bancadas
28 FREYRE, Gilberto. Manifesto Regionalista. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional; Ministrio da Educao e Cultura, 1955. 29 AMADO, Jorge. Tenda dos Milagres. So Paulo: Cia das Letras, 2008. 30 FONSECA, Edson Nery da. Gilberto Freyre: Bahia e Baianos. Salvador: Fundao das Artes; Empresa Grfica da Bahia, 1990 31 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: decadncia do patriarcado rural e desenvolvimento urbano. 5 ed., Rio de Janeiro; Braslia: INL; Jos Olympio Editora S.A, Tomos 1 e 2, 1977.
-
22
baiana e nordestina na Cmara e no Senado Federal, escritos/pronunciados entre as
dcadas de 1940 e 1970, e me deparar com a defesa da produo do lcool extrado da
mandioca, da mamona pelos baianos; com as enchentes nordestinas que deixavam
milhares de pessoas desabrigadas nesse perodo; com a briga para aumentar o valor dos
raylties pago pelo petrleo baiano-brasileiro, questes to em voga em nosso momento
histrico como a destacada presena brasileira em matria de discusso de bio-diesel; as
enchentes sofridas por alguns estados do Nordeste nos anos de 2008, 2009 e 2010 que
causaram mortes e deixaram quase quatrocentas mil pessoas desabrigadas; e pela
polmica causada pelo projeto de Lei 5938/09 que altera a forma de diviso dos
royalties do petrleo advindo da recm descoberta camada do Pr-Sal brasileiro, ainda
em votao no Senado.
O repente Nordeste Independente, composto no incio da dcada de 1980, por
Braulio Tavares e Ivanildo Vila Nova foi muito antes defendido, nas pelejas entre
deputados e senadores nordestinos e tambm de baianos (Bahia Independente!) travadas
entre discursos inflamados na Cmara e no Senado.
Neste trabalho adentramos na rida questo das Identidades Nacional e Regional
e a pensamos, como disse Frantz Fanon32, no como folclore ou populismo, mas como
a ao pela qual esse povo se criou e se mantm em existncia, criando-se e
recriando-se continuamente pela literatura, pela msica, nos jornais, nos discursos dos
polticos, nos filmes, na poesia, no tranado dos cabelos, nas vestimentas e em muitos
outros capitais simblicos que podem ser agenciados para esse fim.
Como ltima observao, gostaramos de assinalar que optamos por deixar a
fonte aparecer, no s por uma paixo particular pelos documentos, mas tambm por
acreditarmos ser importante para os leitores manterem contato direto com esses
discursos e a partir deles tecer outras interpretaes que, por ventura, deixamos de fazer,
ou mesmo discordar das consideraes feitas. Para os que no apreciam a opo fica
franqueada a possibilidade de pular as citaes que julgarem desnecessrias.
32 FANON, FRANTZ. Pele Negra, Mscaras Brancas. Apud: HALL, Stuart. Identidade Cultural e Dispora. Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional. Rio de Janeiro: IPHAN, n. 24, 1996, p.75.
-
23
I CAPTULO
2.0 - NARRATIVAS DA NAO: UMA COMUNIDADE IMAGINADA.
As naes se narram com palavras, com gestos, com bandeiras, com escudos,
hinos nacionais, com tratados, com guerras, com romances, poesia, msicas, filmes,
enfim, de todas as formas que possam pensar a expresso humana.
As narrativas nacionais e regionais nos fazem sentir orgulho de sermos
brasileiros, baianos, nordestinos, nos fazem diferentes dos argentinos, paulistas, norte-
americanos. a trama que nos une indiferente ao fato de no nos conhecermos.
As identidades nacionais e regionais suscitam solidariedades entre os seus e
gestam conflitos com os outros. um campo de batalha a espera do primeiro choque.
2.1 - Como se Narra uma Nao: uma contribuio da Histria e da Literatura.
Sejam bem vindos Bahia de Todos os Santos e de todos os mistrios. Esta
histria que ora se inicia ser o teu guia pelos sinuosos caminhos dos discursos
literrios, polticos, sociolgicos, entre outros. Caminhos escorregadios, enganadores,
que inventaram uma forma de ver e dizer a Bahia. Alguns desses discursos escondem
mistrios e ser preciso l-los nas entrelinhas, outros so bastante explcitos, no entanto,
todos dizem muito mais do que parecem dizer. Ser um subir e descer nas ladeiras dos
conceitos, visitar paisagens pela memria, pela histria, por romances.
H muito j no se pensa que a Histria a medida da verdade e que a fico
seja igual a mentira. Todos os discursos, quaisquer que sejam eles, carregam em si
mecanismos prprios linguagem que jogam com estratgias lingstico-literrias que
nos fazem lembrar e esquecer, acreditar ou duvidar, emocionar. Em especial os
discursos para dizer a nao, a regio, o lugar ao qual se pertence, jogam com
estratgias de no apenas falar a racionalidade humana, mas tambm falar emoo,
para a subjetividade to caracterstica (ou caracterizadora) da espcie humana.
No passado, a disciplina Histria esteve quase que exclusivamente atrelada ao
discurso oficial, e os historiadores, de modo geral, tornavam-se os narradores oficiais
-
24
da nao, aqueles autorizados a contar a sua verdadeira histria. Desde Herdoto,
considerado o pai da Histria, ou mesmo antes dele, percebia-se a importncia de narrar
os grandes feitos, os feitos hericos, de reis, prncipes, imperadores, generais,
representantes supremos da nao. Narrar batalhas, as vitrias, mas tambm louvar a
superioridade cultural, poltica, as grandes obras arquitetnicas foi aos poucos sendo
percebido como importante no processo de alimento do esprito do povo, bem como
para alimentar o temor nos inimigos.
No sculo XIX, quando a disciplina histrica se profissionalizou, bastante
influenciada pelas doutrinas positivista-cientificistas, to em voga naquele momento,
este seu papel de portadora da histria oficial da nao se refora, e seus mtodos
incorporaram esta perspectiva ao privilegiar as fontes escritas oficiais, as temticas
ligadas guerra, poltica e economia, e ao considerar-se uma cincia neutra e capaz de
expressar a verdade dos fatos histricos exatamente como ocorreram.
Os estudos histricos do sculo XX vm questionando estas certezas, e trabalhos
como os de Peter Gay33 e Hayden White34, ao se debruarem sobre esses autores
positivistas, demonstraram as marcas deixadas pela subjetividade, suas filiaes
polticas, ideolgicas, econmicas, de gnero, de raa, de religio, dentre outras.
Ao questionarem a objetividade histrica, esses e outros autores, como a
exemplo de Michel de Certeau, evidenciaram os mecanismos implicados na escrita da
Histria, sugerindo uma aproximao (vista por alguns historiadores como perigosa)
com a literatura. Segundo Certeau,
o historiador aquele que rene menos os fatos do que os significantes. Ele parece contar os fatos, enquanto efetivamente, enuncia sentidos que, alis, remetem o notado (aquele que retido como pertinente pelo historiador) a uma concepo do notvel. O significado do discurso historiogrfico so estruturas ideolgicas ou imaginrias; mas elas so afetadas por um referente exterior ao discurso, por si mesmo inacessvel: R. Barthes chama este artifcio prprio ao discurso historiogrfico, o efeito de real que consiste em esconder sob a fico de um realismo uma maneira, necessariamente interna linguagem, de propor um sentido. O discurso historiogrfico no segue o real, no fazendo seno signific-lo repetindo sem cessar aconteceu, sem que esta assero possa jamais
33 Gay, Peter. O Estilo na Histria. So Paulo: Cia das Letras, 1990. 34 WHITE, Hayden. Meta Histria: a imaginao do sculo XIX. 2 ed. So Paulo: Edusp, 1995.
-
25
ser outra coisa do que o avesso significado de toda a narrao histrica.35
Dessa forma, a operao historiogrfica, que se acreditava transparente e isenta
de subjetividades, se mostra, assim como os demais discursos, inclusive o literrio,
marcados por condicionantes (tempo, espao, lugar social do historiador). Longe de
apenas narrar os fatos tal como eles aconteceram, o historiador lida com os fragmentos
deixados pelos sujeitos histricos e, a partir desses vestgios, tenta colar as partes,
substituindo as que esto faltando por uma pitada de imaginao histrica. A prpria
escolha da temtica j implica seleo, escolhas, esquecimentos36. Assim, continuando
com Certeau, ele nos diz que a linguagem, algo inerente a qualquer trabalho histrico,
mas no restrito a ele, essa mesma linguagem presente no dia-a-dia de todos ns e em
todos os discursos humanos,
tem por funo comprovar o discurso: como referencial, introduz nele um efeito de real; e por seu esgotamento remete, discretamente, a um lugar de autoridade. Sob este aspecto, a estrutura desdobrada do discurso funciona maneira de uma maquinria que extrai da citao uma verossimilhana do relato e uma validade do saber. Ela produz credibilidade.37
Ou seja, a estrutura interna do discurso trapaceia38, nos faz crer que est
dizendo o real, quando na verdade, o mximo que ele pode fazer represent-lo com
maior ou menor proximidade/responsabilidade com o representado, isso depender das
filiaes ideolgicas, bem como das intenes dos sujeitos do discurso. O que nos leva a
perceber que, longe de apenas veicular o real, os discursos so partes importantes na
instituio de reais, parte constituinte daquilo que chamamos realidade.
Essas discusses, fruto daquilo que se convencionou chamar de Nova Histria,
provocaram reviravoltas no campo da Histria, mas no apenas nela. A literatura, que
por conta do surto racionalista do sculo XVIII passa a ser apreendida como fico,
35 CERTEAU, Michel de. A Escrita da Histria. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1982, p.52. 36 WHITE, Hayden, Teoria Literria e Escrita da Histria. In: Estudos Histricos, Rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1991, p. 21-48. 37 Ibidem, p.101. 38 Ibidem, p. 103.
-
26
sinnimo de mentira, do avesso do real, re-adquire um novo status. Essa reconciliao39
entre Histria e Literatura tem gerado muitos frutos Histria, que incorporou uma
outra fonte aos seus estudos: as obras literrias, bem como ficou mais atenta s diversas
formas de funcionamento do discurso, inclusive na sua prpria narrativa/disciplina.
A redescoberta da literatura como um objeto social, fruto de uma sociedade e
tempo, e no apenas da cabea de um artista desligado do tempo e do espao, fez-nos
perceber tambm a importncia da Literatura enquanto narrativa capaz, tanto quanto a
Histria, de recriar o real, (re)orden-lo, de construir sentidos, memrias. Muitas vezes
os discursos literrios, por serem mais acessveis do que o discurso histrico, chegaram
mais facilmente s pessoas, principalmente quando este, acreditando ser cincia exata,
ficou restrito a poucos iniciados capazes de decifrar suas ridas narrativas. A Literatura,
mais do que a Histria, foi a responsvel pelas memrias que se tem de feitos histricos,
hericos etc.
No Brasil, como nos conta Mnica Velloso, a literatura nasceu comprometida
com a interpretao dos problemas sociais do pas, especialmente, a definio de uma
identidade nacional. Dessa forma, foi muito mais influenciada pela nova cincia
sociolgica do que pela arte. Documentar e/ou descrever o real era ento sua tarefa
principal e os autores que no estivessem engajados nessa misso eram taxados de
alienados, descompromissados com as causas nacionais. Assim, as pginas de nossa
literatura ser palco de disputa entre vrios projetos para a construo da nacionalidade.
No sculo XX foi o romance regionalista de 1930 o que atendeu melhor aos anseios da
literatura como espelho da nao, conseguindo unir a objetividade a verdade com
as razes e tradies locais e contribuindo para atribuio de identidades individuais e
coletivas em nvel local, regional e nacional.40
Vemos aqui tambm a literatura narrando nao, auxiliando na construo de
uma coeso social daquilo que hoje chamamos de pas, nao, povo, um conjunto de
pessoas que por diversos fatores se acreditam pertencentes a um mesmo grupo, a uma
comunidade. Essa comunidade imaginada conforme nos assinala Benedict
Anderson, e ela imaginada porque nem mesmo os membros das menores naes
jamais conhecero a maioria de seus compatriotas, nem o encontraro, nem sequer
39 At este surto racionalista do sculo XVIII a Histria era percebida como um ramo da Literatura, a partir da e da profissionalizao da disciplina no sculo XIX que a Histria tenta desvencilhar-se da Literatura como forma de atender aos rigorosos mtodos de objetividade do cientificismo. 40 VELLOSO, Mnica Pimenta. A Literatura como Espelho da Nao. In: Estudos Histricos, Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1988, p. 239-263.
-
27
ouviro falar deles, embora na mente de cada um esteja viva a imagem de sua
comunho .41
E essa percepo de pertencimento fomenta aes. As pessoas matam e morrem
para defenderem aquilo que acreditam serem seus: territrio, cultura, co-irmos.
Percebemos ento a Histria e a Literatura como duas importantes narrativas nacionais.
O nacionalismo, da forma que se apresenta hoje, um fenmeno moderno, do
fim do sculo XVIII. No entanto, os indivduos, ou mesmo as naes, ao narrarem-se,
ao exporem, por meio dos discursos, sua condio de pertencimento a determinada
nao e ou cultura nacional, o fazem como se isso remontasse a tempos imemoriais,
como se seus pases tivessem existido desde o incio dos tempos, buscando muitas vezes
nas razes mais longnquas, nos antepassados mais remotos, o germe da sua
nacionalidade. Este um mecanismo prprio, interno forma da narrativa nacional:
fazer perder-se no tempo, naturalizar a nacionalidade a ponto de que para os seres
humanos modernos parea bvio, inerente humanidade, possuir uma nacionalidade.
Mas, como se conta a narrativa de uma cultura nacional? Stuart Hall responde
este questionamento nos apontando cinco elementos constituidores das narrativas
nacionais42. Primeiramente necessria a criao e narrao de uma trama que
simbolize as experincias partilhadas pelo grupo, suas perdas, os triunfos e os desastres
que do sentido nao.43 Essas histrias contadas pelos relatos oficiais, pela literatura
nacional, pela cultura popular e, mais recentemente, pelas mdias, se constituiro na
trama que conecta nossas vidas cotidianas com um destino nacional que preexiste a ns
e continua existindo aps a nossa morte44, dando sentido e importncia s nossas vidas
para alm da individualidade, ligando cada indivduo, cada existncia, a algo maior: o
destino da nao. Essa narrativa deveras importante, pois ela que d o enredo
comum a todos os indivduos pertencentes nao, ligando suas vidas
irremediavelmente, tornando-se o lastro da comunidade imaginada.
Em segundo lugar, h a nfase nas origens, na continuidade, na tradio e na
intemporalidade. 45 Percebemos esses aspectos diretamente relacionados aos terceiro e
quarto itens discutidos por Hall, a saber, a inveno da tradio e a escolha de um
mito fundacional. A identidade nacional percebida como essncia que permeia todos 41 ANDERSON, Benedict. Nao e Conscincia Nacional. So Paulo: tica, 1989, p. 14. 42 HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 47-65. 43 Ibidem, p. 52. 44 Ibidem, p. 52. 45 Ibidem, p. 53.
-
28
os elementos da nao, dessa forma, sua datao imprecisa, o que algo positivo, pois
importante que ela seja percebida como se sempre estivesse estado l, mas, era
necessrio algo para acord-la do sono, da a necessidade da escolha/criao de um mito
das origens. Um episdio exemplar, no qual os elementos essenciais daquilo que se
projeta enquanto nao estejam presentes.
O mito fundacional escolhido para representar o nascimento do Brasil foi o
encontro romntico entre o portugus e a mulher indgena, habitante do Novo Mundo,
encontro do qual surgiu um povo e uma nao mestia, sensual e harmoniosa. Este mito
foi contado pela Histria e Literatura nacionais, apropriado pela cultura popular e hoje
paira no imaginrio da nao brasileira. Um mito bastante adequado para apaziguar os
nimos, numa nao onde reinava (e ainda reina) o extremo da desigualdade e
explorao, por meio da escravizao de africanos e indgenas.
As tradies inventadas, conceito que Hall toma de emprstimo Eric
Hobsbawn e Terence Ranger46, constitui-se num conjunto de prticas rituais e
simblicas que so organizadas com o intuito de, por meio da encenao do mito (em
paradas, desfiles, cerimnias), mas tambm por meio do respeito e reverncia a
determinados artefatos como bandeiras, roupas militares, medalhas, hino nacional etc.,
reatualiz-lo, tornando o passado um constitutivo do presente e do futuro. A nao se
perde no apenas na intemporalidade do passado, mas tambm se projeta para o futuro.
Ela vence os tempos e resiste mudana porque, enquanto essncia, resiste como aquilo
que h de mais verdadeiro na nao e em suas instituies, sem, no entanto, ser
necessrio dizer com preciso exatamente o que .
O ltimo elemento da narrativa nacional o povo. Idealizado muitas vezes como
puro, original, a fora motriz que carrega nas costas o destino da nao e, como tal, seus
defensores legtimos contra todos aqueles que coloquem em risco a ordem e a coeso
social imaginadas. Esse um elemento de grande tenso, pois ao mesmo tempo em que
(conjuntamente com os demais elementos) gesta a identidade nacional, o ideal de
irmandade e pertencimento a uma nao, gesta tambm conflitos pela alteridade
estabelecida com os demais povos, muitas vezes, inclusive, povos que habitam o mesmo
territrio, do qual determinados grupos se acreditam os verdadeiros donos.
Diante disso, percebemos que a nao narrada como uma comunidade, como
uma grande famlia, na verdade atravessada por tenses e brigas internas. Mais do que
46 HOBSBAWN, E. & RANGER, T(orgs.). A Inveno das Tradies. 3 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2002.
-
29
uma unidade, ns temos um impulso por unificao 47 s custas do apagamento das
diferenas de classes, tnico-raciais, de gnero, dentre outras existentes. A narrativa
nacional precisa por em ao mecanismos de esquecimento.
Os mitos nacionais funcionam como elementos de coeso social, de irmandade,
e, por isso mesmo, precisam esquecer os comeos violentos que a grande maioria das
naes teve em suas origens, especialmente no caso dos pases colonizados. No
interessa identidade brasileira, por exemplo, mas isso se estenderia maioria dos
povos colonizados, o genocdio cometido contra ndios e negros ocorridos em nossas
origens, a miscigenao harmoniosa entre os trs povos: portugueses, africanos e
indgenas, funciona melhor ao interesse da narrativa nacional.
Outro elemento importante que a cultura brasileira (bem como as demais) no
deriva da parceria em iguais condies entre as culturas que a compe, muito pelo
contrrio, fruto da hegemonia efetiva da cultura portuguesa, que, ao representar a si
prpria, faz parecer estar representando igualmente as demais culturas constituintes da
identidade cultural brasileira, mas o faz por cima delas, como normalmente faz o
vencedor. E esse o grande esforo empreendido pelas narrativas nacionais costurar as
diferenas numa nica identidade.48
No Brasil, o projeto de formulao da identidade nacional j se encontrava posto
para a primeira gerao nacional empresria da independncia. Na literatura, com a
gerao dos romnticos, a identidade nacional j nasceu mestia do encontro entre o
portugus e o ndio. Na falta dos cavaleiros medievais, nossos autores vo buscar no
ndio (um ndio idealizado, muito mais prximo do europeu do que de um indivduo
situado nos trpicos) seus heris e heronas. Iracema, a virgem dos lbios de mel, ou o
corajoso e servil Peri, ambos, no entanto, submetidos (pelo amor) ao portugus. A
mestiagem biolgica que acompanhava a conquista era mediatizada pelo amor, e a
fora das armas cedia ante a afeio sincera que enobrecia mais ainda a figura do branco
dominador.49 A Bahia tambm teve sua herona indgena, a Catarina Paraguau, que
tambm por amor a Diogo lvares iniciou a mestiagem em terras baianas.
47 Ibidem, p.59. 48 Ibidem, p.65. 49 PESAVENTO, S. J., Contribuio da Histria e da Literatura para a construo do cidado: a abordagem da identidade nacional. In: LEENHARDT, J. e PESAVENTO, S. J.(orgs). Discurso Histrico e Narrativa Literria. Campinas-SP: Editora da UNICAMP, 1998, p. 25.
-
30
O Instituto Histrico e Geogrfico Brasileiro, a fala autorizada sobre o passado
naquele momento, completa essa viso, dando uma alta carga de positividade ao
europeu colonizador em suas narrativas oficiais.
A primeira Guerra Mundial, a crise econmica de 1929, as ondas nacionalistas
desse perodo e a chamada Revoluo de 1930 no Brasil, foram um momento de
reformulao da identidade nacional brasileira. O Brasil constri para si, por meio de
discursos histricos e literrios, uma identidade particular, individualizada, na qual h a
integrao do mltiplo. Enquanto as demais naes guerreavam por razes tnicas,
econmicas, polticas, o Brasil se auto-representava como uma nao pacfica,
harmoniosa.
Gilberto Freyre, ao fazer a apologia da mestiagem, enfatizando o seu potencial criativo e dulcificando o passado por uma viso compreensiva e sensual das relaes entre a casa grande e a senzala, tornou-se o maior idelogo do novo Brasil. Sua verso da realidade nacional correspondia ao otimismo dos anos 30-40, que parecia encontrar a sada para a modernidade na recomposio da coalizo dominante de classes e acomodando as velhas elites rurais com a nova burguesia urbana nos quadros do Estado.50
Jorge Amado surge tambm nesse contexto e sua literatura, bem como dos
demais romancistas de 1930, traz essas marcas.
Desde sua obra inicial, a proposta de Amado captar a identidade do pas e de sua cultura, e captar singularidade a partir de uma busca das razes populares, da realidade do povo da recuperao para o texto e para a imagem do pas, da fala, das figuras e cenas populares.51
Nesse perodo de incertezas para as nossas velhas elites rurais, em que o Brasil
se mira na Europa e deseja a modernidade por um lado, e que as classes populares esto
ganhando espao no cenrio poltico por outro, gera um momento de tenso que
50 PESAVENTO, S. J., Contribuio da Histria e da Literatura para a construo do cidado: a abordagem da identidade nacional. In: LEENHARDT, J. e PESAVENTO, S. J.(orgs). Discurso Histrico e Narrativa Literria. Campinas-SP: Editora da UNICAMP, 1998, p. 33. 51 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A inveno do Nordeste e outras artes. So Paulo: Cortez, 1999, p. 212.
-
31
movimenta a identidade da nao. No entanto, de acordo com os mecanismos inerentes
narrativa nacional, essa mudana acontece para continuar garantindo a coeso social e
a mudana se d sem grandes choques, visto que a essncia da nao continua a mesma.
No caso especfico do Brasil, seu carter mestio e harmonioso, mesmo que tenha sido
preciso que as classes dominantes cedessem um pouco mais de espao na narrativa
nacional para os elementos populares, tributrios, principalmente, das culturas indgenas
e africanas. Foi preciso mudar para continuar no poder.
Nesse momento, teremos tambm outras vozes, silenciadas pela hegemonia
cultural do eixo Centro-Sul, predominante na cultura nacional desde meados do sculo
XIX, levantando-se. As diferenas regionais e tnicas que o discurso nacional se esfora
em unificar encontram nesse perodo de crise, de incio do sculo XX, terreno propcio
para aflorarem, tomando novo flego. Pases como o Brasil, que carregam dentro de si
regies que so verdadeiras naes, com histrias e literaturas regionais, mitos
prprios e at um povo com caractersticas tnico-culturais bastante diferenciadas,
precisam mediar os conflitos gerados pela luta das representaes, pois cada regio se
acredita a mais importante, a que representa de forma mais autntica a essncia da
identidade nacional brasileira.
O que se v no Brasil, no geral, no so brigas separatistas pelo direito a
diferena. O regionalismo brasileiro briga para se afirmar como hegemnico
culturalmente, ou seja, para definir qual regio tem a verdadeira cara da nao. No
Brasil, essa identidade tem sido mutvel e tem havido alternncia ao sabor das
mudanas econmicas. A Bahia, primeira capital, o Nordeste aucareiro e o eixo
Centro-Sul mineiro-cafeeiro-industrial, j se configuraram como a cara da nao.
Os regionalismos so fruto das desigualdades regionais, ou seja, no processo de
distribuio territorial das benesses do desenvolvimento econmico, onde recursos
escassos so distribudos desigualmente pelo territrio, as regies prejudicadas tendem a
pressionar para a redistribuio, enquanto as mais ricas resistem ou ignoram o
problema. 52
A reivindicao regionalista(...), tambm uma resposta estigmatizao que produz o territrio de que, aparentemente, ela produto. E, de facto, se a regio no existisse como espao estigmatizado, como provncia definida pela distncia econmica e
52 CASTRO, In Elias de. O Mito da necessidade: discurso e prtica do regionalismo nordestino. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S/A, 1992.
-
32
social (e no geogrfica) em relao ao centro, quer dizer, pela privao do capital (material e simblico) que a capital concentra, no teria que reivindicar a existncia: porque existe como unidade negativamente definida pela dominao simblica e econmica que alguns dos que nela participam podem ser levados a lutar ( e com probabilidades objectivas de sucesso e de ganho) para alterarem a sua definio, para inverterem o sentido e o valor das caractersticas estigmatizadas, e que a revolta contra a dominao em todos os seus aspectos at mesmo econmicos assume a forma de reivindicao regionalista.53
E foi assim com o Nordeste, foi assim tambm com a Bahia. Revoltaram-se
contra a m diviso econmica que relegava apenas migalhas a essas regies, mas
brigaram tambm por conta da perda do prestgio, do poder, da importncia simblica,
por tudo o que essas regies representavam: tradio, primordialidade, os valores
culturais mais autnticos. Esses espaos j haviam ocupado os lugares de centros
privilegiados e quando perdem esta centralidade e decaem econmica e
simbolicamente que os surtos regionalistas se intensificam.
Segundo Hall, h naes que se narram no passado. Em momentos de crise no
presente, voltam-se a um passado glorioso, a um tempo perdido, como forma de
retomar o flego, fortalecendo seu povo com a narrativa dos tempos de glria como um
preparativo para uma nova marcha para frente. Percebemos, no entanto, com a anlise
da regio Nordeste e da Bahia, que essa marcha para frente nem sempre acontece, (no
sentido do desenvolvimento econmico, da retomada do poder) e essas naes/regies
parecem ficar presas no passado, a narrativa se repete indefinidamente. A prpria
narrativa do passado passa a ser o seu poder de barganha no presente.
Utilizando-se dos mesmos mecanismos para narrar nao, as regies vo luta
para a conquista ou reconquista da sua fatia do poder, ou at para retomar prestgio e
poderes perdidos. Nordeste e Bahia foram exemplos disso, foram luta e brigaram pelo
poder e prestgio perdidos, por lugares dantes ocupados no cenrio econmico, poltico
e tambm cultural da nao.
Suas reivindicaes obtiveram ganhos como a atuao do DNOCS -
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (1945) da transformao da IOCS -
Inspetoria de Obras Contra as Secas (1909), a mais antiga instituio federal com
atuao no Nordeste; a criao da Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste, a
Sudene (1959), do Banco do Nordeste(1952), da instalao da Petrobrs na Bahia em
53 BOURDIEU, Pierre. O poder do simblico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 126-7.
-
33
1954, entre outros, bem como o sistema de incentivo fiscal criado pelo governo federal,
comprovam isto. Essas medidas foram uma tentativa da nao de manter a coeso social
da comunidade imaginada.
2.2 - Narrativas Regionais: o difcil desafio do equilbrio de interesses.
J dissemos que a narrativa da nao se funda num impulso por unificao.
Todavia, este discurso mal dissimula os conflitos latentes que tenta encobrir. Algumas
situaes so mais propcias ao fortalecimento dessas diferenas como nos momentos
de crise econmica, poltica, cultural. Numa nao do tamanho do Brasil essas
diferenas/divergncias podem tomar, e normalmente tomam, dimenses de lutas
regionais, pois grupos sociais se unem, quase sempre as elites, para melhor lutarem por
aquilo que acreditam estarem perdendo para outros grupos regionais.
Quando algumas regies se desenvolvem mais do que outras, surgem suspeitas,
nem sempre infundadas, de que as verbas nacionais no esto sendo distribudas
igualmente, que algumas esto se desenvolvendo s custas da explorao, da
expropriao de outras.
Num pas do tamanho do nosso, mas mesmo em territrios pequenos,
dificilmente se consegue governar sem dividir, sem diferenciar regionalmente. A
diviso condio de governabilidade. Mas dividir implica em instituir conflitos; as
divises regionais so tanto fruto quanto instituidoras de diferenas e nisso h sempre
perigos, a produo de rivalidades um deles.
Nossa primeira diviso regional fundou-se num decreto real com o qual Dom
Joo III (1532) dividiu sua colnia em quinze partes e as entregou a valorosos
portugueses, com o intuito de povoar e desenvolver economicamente essas suas terras
do alm mar. Esse sistema acabou no dando muito certo devido a falta de recursos e de
interesse dos donatrios, mas deixou marcas profundas na diviso regional brasileira.
Apenas duas capitanias tiveram algum sucesso, a de Pernambuco e a de So Vicente. A
Bahia, com a morte de seu donatrio, retorna s mos do governo portugus que
estabelece ali a sede do governo. Vemos aqui que nossas diferenas regionais vm de
longe.
Bahia e Pernambuco possuram forte influncia econmica e poltica nesse
primeiro momento da histria brasileira. A descoberta do ouro no Centro-Sul, a
-
34
transferncia da capital para o Rio de Janeiro (1763), o declnio da cana-de-acar, o
cultivo do caf e seu ascendente sucesso no mercado internacional, assim como os
primeiros surtos industriais vividos pelo Centro-Sul, impuseram mudanas na diviso
espacial do poder no Brasil. Os estados do Rio de Janeiro, So Paulo e Minas Gerais
passam a ocupar o espao de centralidade na vida poltica e econmica do pas.
No entanto, a diviso dos territrios regionais nunca um processo simples. No
nosso caso no foi dado nica e exclusivamente pelo sucesso ou fracasso das capitanias,
mas tambm pela capacidade de liderana e negociao das elites locais que aqui
estavam se formando. Assim, as regies so inscritas sobre o espao dos interesses, no
qual as classes dominantes tm um importante papel na sua formao/definio. a
materializao de um processo histrico de lutas, interesses, acordos, negociaes,
conquistas, desenvolvimentos, fracassos, inscritos num traado territorial. Mas afinal o
que define uma regio?
As regies j foram pensadas como naturalmente dadas ou mesmo magicamente
reveladas. Mas, longe de serem inscritas na natureza ou em preceitos divinos, elas so
construdas, imaginadas na ao e na imagina-ao de homens e mulheres. Aspectos
fsicos, econmicos, sociais, culturais, identitrios, limites polticos brigam pela
primazia, pelo direito de melhor defin-la. A regio, ou melhor, a definio de uma
regio, sempre foi um (ou no) campo de batalha e no seria diferente no terreno
epistemolgico. A briga pelo campo cientfico da regio ops gegrafos, economistas,
historiadores, etnlogos, socilogos, cada um acreditando serem seus critrios os mais
importantes para definirem uma regio.
J vivemos um perodo da ditadura do natural em que uma regio se definia
apenas por seus aspectos fsicos, que determinariam inclusive as aes humanas. No
entanto, a escola possibilista do gegrafo francs Vidal De La Blache veio nos mostrar
que a regio natural no pode ser o quadro e o fundamento da geografia, pois o
ambiente no capaz de tudo explicar. 54 Segundo esta perspectiva,
as regies existem como unidades bsicas do saber geogrfico, no como unidades morfolgica e fisicamente pr-construdas, mas sim como resultado do trabalho humano em um determinado ambiente. So assim as formas de civilizao, a ao humana, os gneros de vida, que devem ser interrogados para compreendermos uma
54 GOMES, Paulo Cesar da Costa. O conceito de regio e sua discusso. In: CASTRO, I. E. & GOMES, P. C. C. (orgs.) Geografia: conceito e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 56.
-
35
determinada regio. So eles que do unidade, pela complementaridade, pela solidariedade das atividades, pela unidade cultural, a certas pores do territrio.55
Segundo Durval Muniz Albuquerque Jr., a noo de regio, antes de remeter
geografia, remete a uma noo fiscal, administrativa, militar, vem de regere, comandar.
Longe de nos aproximar de uma diviso natural do espao ou mesmo de um recorte do
espao econmico ou de produo, a regio se liga diretamente s relaes de poder e
sua espacializao.56 A regere fines, ou o ato que consiste em traar as fronteiras em
linhas retas, em separar o interior do exterior, o reino do sagrado do reino do profano, o
territrio nacional do territrio estrangeiro, conforme nos assinala Pierre Bourdieu (e
acrescentaramos ainda, o eu do outro), um ato religioso realizado pelo personagem
investido da mais alta autoridade, o rex, encarregado de regere sacra, de fixar as regras
que trazem existncia aquilo por elas prescrito, de falar com autoridade, de um dizer
executrio que faz sobrevir o porvir enunciado.57 o poder de que nos fala Durval
Albuquerque Jr. de traar linhas imaginrias, de dividir, de estabelecer fronteiras.
Para Bourdieu, este ato de direito que consiste em afirmar com autoridade uma
verdade que tem fora de lei um ato de conhecimento, o qual, por estar firmado, como
todo poder simblico, no reconhecimento, produz a existncia daquilo que enuncia.58
Este poder que dizemos simblico, por ser invisvel, uma forma irreconhecvel,
transfigurada e legitimada das outras formas de poder, que permite obter o equivalente
daquilo que obtido pela fora (fsica ou econmica), graas a sua capacidade de
mobilizao, mas que s consegue se exercer se for reconhecida a legitimidade de quem
o enuncia.59
Nesse sentido, exercer um poder simblico no consiste meramente em
acrescentar o ilusrio a uma potncia real, mas em duplicar e reforar a dominao
efetiva pela apropriao dos smbolos e garantir a obedincia pela conjugao das
relaes de sentido e poderio. Assim, para garantir a dominao simblica, de
55 Ibidem, p. 56. 56 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Inveno do Nordeste e outras artes. So Paulo: Cortez, 1999, p. 25. 57 BOURDIEU, P. O poder simblico. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 113-114. 58 Ibidem, p. 114. 59 Ibidem, p. 9-15.
-
36
importncia capital o controle destes meios, que correspondem a outros tantos
instrumentos de persuaso, presso e inculcao de valores e crenas.60
Vemos luz dessas discusses, a conformao histrica de regies, frutos tanto de sangrentas batalhas quanto da enunciao por quem de direito. Se na Antiguidade
estes poderes foram quase sempre exercidos por reis e religiosos, a Modernidade e
Ps-Modernidade trazem consigo novos personagens investidos sobretudo do poder
simblico, do poder de intervir, reelaborar e instituir novos smbolos nos imaginrios
de determinadas coletividades. disso que nos fala os estudos de E. Said, Durval
Muniz Albuquerque Jr., Celeste Maria Pacheco Andrade61, entre tantos outros.
Nestes trabalhos um dado se repete, as recriaes artsticas como a literatura, a
msica, o cinema etc., so tomados como suportes privilegiados de contato com o
imaginrio, corpus no qual smbolos espaciais: locais, regionais, nacionais so
tomados, reelaborados e devolvidos ao pblico com novas feies. Segundo esses
estudos, interesses polticos, econmicos, identitrios etc., se conjugam para o
estabelecimento de novas fronteiras, nem sempre novas demarcaes territoriais, mas
uma nova forma de encar-lo, de identific-lo, ou seja, novos limites simblicos para
v-los e serem vistos.
Este discurso dito regionalista um discurso performativo que tenta impor como
legtima uma nova definio das fronteiras62 fsicas, culturais e identitrias. Mas o
efeito de conhecimento que o fato da objetivao no discurso exerce no depende
apenas do reconhecimento consentido quele que o detm, ele depende tambm do
grau em que o discurso, que enuncia ao grupo a sua identidade, est fundamentado
na objetividade do grupo a que ele se dirige, isto , no reconhecimento e na crena
que lhe concedem os membros deste grupo, assim como nas propriedades
econmicas ou culturais que eles tm em comum, pois somente em funo de um
princpio determinado de pertencimento que pode aparecer a relao entre estas
propriedades.63
60 BACZKO, Bronislaw. Imaginao social. In: ROMANO, Ruggiero (Dir.). Enciclopdia Einaudi: Anthropos-Homem. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, vol. 5, 1985, p. 298-299, 313. 61 SAID, E. W. Orientalismo: O Oriente como inveno do Ocidente. So Paulo: Companhia das Letras, 1990. ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Inveno do Nordeste e outras artes. So Paulo: Cortez, 1999. ANDRADE, M. C. P. de. Bahias de Amado: a fico fundando uma nova geografia. In: FONSECA, Aleilton & PEREIRA, Rubens (orgs). Rotas e Imagens: literatura e outras viagens. Feira de Santana: UEFS/PPGLDC, 2000. 62 BOURDIEU, P. O poder simblico. 3 ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 116. 63 Ibidem, p. 117.
-
37
Por isso que o domnio e manipulao dos smbolos se tornam to importantes,
na medida em que no mais necessrio mover as fronteiras, basta apenas dar novos
significados aos antigos smbolos, bem como forjar outros e ento, movimentaremos
as fronteiras simblicas, dando a antigos espaos, novos contedos. Com isso, pode-
se at suscitar crenas na superioridade de alguns e na inferioridade de outros, e,
como conseqncia, no direito de dominar outros povos (a histria est repleta de
exemplos desta natureza). Vemos assim o poder simblico, as crenas inscritas no
imaginrio social se materializando em aes concretas. Ento, acrescentado mais
um item de complexidade definio de uma regio, no poderemos esquecer que
regies so tambm demarcadas por instncias imaginrias, por meio da manipulao
simblica.
Assim, na luta simblica regionalista, os intelectuais tm grande valor, pois eles
manuseiam o capital simblico da narrativa regional que, assim como o ato de narrar
a nao, cumpre com o importante papel de forjar a identidade cultural por meio da
resoluo (meio mgica) dos conflitos pela narrativa ao atualiz-la e (re)encen-la
toda vez que a narrativa re-contada.
Como j foi dito antes, o povo um dos elementos cruciais ao narrar a nao
e deveras importante que esse povo se reconhea nessa narrativa, que se sinta
orgulhoso e desejoso de nela participar. A identificao com a narrativa um
elemento selante entre o indivduo, a coletividade e o espao, forjando a comunidade
imaginada. Essa condio de pertencimento cria os laos sociais que impulsionam a
ao e reconhece na transformao do espao suas marcas, criando laos
sentimentais que levam proteo do espao visto como auto-proteo, como auto-
preservao.
Nesse contexto, o regionalismo tem em mos todos os elementos capazes de
mobilizar um povo a defender seu espao, seu lugar, portadores da sua identidade
cultural, referncia para sua identidade individual, o espelho para o qual se volta
quando necessita auto-afirmar-se. In de Castro nos sugere que o regionalismo
deve ser entendido como a mobilizao poltica de grupos dominantes numa regio em defesa de interesses especficos frente a outros grupos dominantes de outras regies ou ao prprio Estado, o regionalismo, portanto, um conceito eminentemente poltico, vinculado, porm,
-
38
aos interesses territoriais (...). Em termos objetivos, o regionalismo constitui a expresso das relaes polticas entre regies ou destas com o poder central, sempre que nessas relaes haja opresso poltica, econmica ou cultural. Assim, tanto a interveno e manipulao polticas, como a base territorial, compem as duas dimenses fundamentais do regionalismo.64
Assim, se os intelectuais tm grande importncia num movimento
regionalista ao criar os elementos, os capitais simblicos que forjam a regio, as
elites locais e os polticos tm tambm papel fundamental ao gestar e principalmente
ao manobrar esses capitais simblicos para mobilizar aes de disputa com outras
elites regionais ou barganhar diretamente, junto ao poder central, para angariar uma
maior participao nas benesses do Estado.
Percebemos no Brasil um aspecto que j foi assinalado anteriormente. Este
pas continental, com dimenses e histria to propcias ao aparecimento de
diferenas que desembocaram em regionalismos, de modo geral, no gestou fortes
ideais de separatismos. O regionalismo brasileiro se manifestou dentro da lgica da
luta de representaes. As regies brigam pelo privilgio de representar o Brasil,
para serem a regio hegemnica culturalmente, para serem reconhecidas como
aquela que mais autenticamente representa o pas.
Desse modo, mineiros se narram como sujeitos simples, moderados,
pragmticos, conciliadores, equilibrados, virtudes perfeitas para liderar os destinos
da nao, especialmente nos momentos de crise.65 Sua poca de glria com o ouro
rememorada como fundamental para o destino econmico do pas e certeza de que
nasceram para brilhar. Diferentemente dos gachos (ou melhor, do regionalismo
gacho), que se auto representa como bravos, lutadores, chegados s lutas, aos ideais
de liberdade e at de libertao do Brasil.
O Rio Grande do Sul foi sempre o paladino da liberdade, lutou sempre por causas justas e seu povo possui virtudes inatas, representadas na figura do gacho: altaneiro, destemido, livre, etc. Tal viso idealizada se complementa na idia de que na sociedade sulina
64 CASTRO, In Elias de. O Mito da necessidade: discurso e prtica do regionalismo nordestino. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A., 1992, p. 40. 65 ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Mitologia da Mineiridade. So Paulo: Ed. Brasiliense, 1990.
-
39
no havia hierarquias ou distino sociais. Teria vigorado uma verdadeira democracia dos pampas, na qual peo e estancieiro trabalhavam lado a lado, irmanados ambos pela identificao na mesma figura mtica do gacho, centauro dos pampas, monarca dos coxilhas.66
A classe dominante tenta impor a idia que ela constri de si mesma, como a
vlida para representar toda a populao, como nos fala Sandra J. Pesavento em
relao figura do gacho mtico. Assim, o heri bandeirante, o mineiro
conciliador, o pernambucano vigilante, o gacho mtico, o baiano e sua
primordialidade, sua tradio e intelectualidade, brigam para representar, mas
tambm para liderar a nao. So brigas pelo poder e no apenas o de representao.
A pernambucanidade para Freyre est mais para o lutador gacho do que para a
civilidade baiana. O pernambucano amigo da luta e antes rusticamente cavalheiro
do que maciamente urbano. Como o paulista, seco e calado e no como o baiano, ou
carioca ou cearense, fcil de acomodar-se a estranhos 67. Ou, como sugeria o nome
de um peridico do sculo XIX, so os sentinelas da liberdade na sua primeira
guarita, a de Pernambuco de onde bradam alerta.68
A Bahia se narra, segundo Rinaldo Leite69, como o bero da civilizao
brasileira, a alma mater da nao, como a terra da tradio e da intelectualidade
onde habitam os mais autnticos brasileiros por conta da sua primordialidade. Freyre
refora essa idia ao afirmar que todo brasileiro um pouco baiano, e nos diz:
Triste do brasileiro que no tenha dentro de si algumas coisas de baiano. E no s de urbanidade baiana; no s de polidez baiana; no s de gentileza baiana; no s de civilidade baiana; no s do bom gosto baiano; no s religiosidade baiana; no s de ternura baiana; no s de civismo baiano; no s de inteligncia baiana; mas tambm alguma coisa de malcia, de humor de gaiatice compensadora dos excessos de dignidade, de solenidade e da prpria elegncia.70
66 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Histria Regional e Transformao Social. In: SILVA, Marcos A. da. Repblica em Migalhas: histria regional e local. So Paulo: Marco zero, 1990, p. 73. 67 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: decadncia do patriarcado rural e desenvolvimento urbano. 5 ed., Rio de Janeiro; Braslia: INL; Jos Olympio Editora S.A, 1977, Tomo 2, p. 655. 68 Ibidem, Tomo 1, p. XXXIV. 69 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. A Rainha Destronada: Discursos das elites sobre as grandezas e aos infortnios da Bahia nas primeiras dcadas republicanas. Tese de doutorado, So Paulo, Doutorado em Histria Social/PUC, 2005. 70 FONSECA, Edson Nery da. Gilberto Freyre: Bahia e Baianos. Salvador: Fundao das Artes; Empresa Grfica da Bahia, 1990, p. 10 -11.
-
40
J o regionalismo paulista se configura, pois, como um regionalismo de
superioridade, que se sustenta no desprezo pelos outros nacionais e no orgulho se sua
ascendncia europia e branca. So Paulo seria, para este discurso regionalista, o
bero de uma nao civilizada, progressista e desenvolvimentista.71
Diante disso, podemos ter mnimas noes sobre as lutas travadas no seio da
nao que se quer una. O regionalismo paulista, representando a entrada do Brasil na
modernidade, nos tempos da civilizao e progresso comea a tornar-se hegemnica
a partir de meados do sculo XIX. So Paulo seria a locomotiva que conduziria o
resto do Brasil rumo ao desenvolvimento, deixando para trs seus arcasmos, seus
valores ultrapassados, tradicionais que eram representados principalmente pelos
regionalismos nordestino e baiano. Contexto propcio para o fortalecimento desses
regionalismos que defendiam a validade de suas narrativas regionais/nacionais para a
nao, bem como tentativa de manter-se no poder.
2.3 - Em Favor do Nordeste: um manifesto pela preservao dos valores culturais
mais autnticos do pas.
Na dcada de 1920, houve no Brasil um profundo abalo ssmico, um remexer de
placas tectnicas que fez elevar-se uma nova regio: o Nordeste. As elites dos, ento,
estados do Norte, levantaram-se. Uniram-se para produzir um discurso pautado na seca,
capaz de comover os estados do Sul e o governo Federal e de angariar os recursos
financeiros necessrios sobrevivncia desta mesma elite que, com a Independncia,
vinha perdendo gradativamente (e assustadamente) seu prestgio junto ao poder central.
O regionalismo nordestino proposto estava para alm dos estadualismos e previa
uma