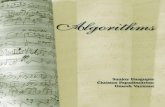a_negacao_banto.pdf
-
Upload
ricardo-campos-castro -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of a_negacao_banto.pdf
-
A NEGAO E M ALGU MA S LNG UAS DO GRUPO BANTO
(NEGATION IN SO ME BAN TU L ANGUA GES) Margarid a Maria Taddoni PETTER (Universidade de So Paulo) ABSTRA CT: This paper pres ents the negation in two bantu languages : kimbundu and kikongo. In these languages the strategy for sentence negation is morphological, with a negative mark preceding the verb (Kimbundu) and doubly marked, with negative marks preceding and following the verbal word (Kikongo ). KEY WORDS: n egation; African languages; Bantu languages ;Kimbundu; Kikongo. 0. Introduo
As lnguas do g rupo banto pertencem ao phylum Nger-Congo, subgrupo Benu -Congo, con fo rme a classi fi cao de Greenb erg (1963), rati ficada pelas propostas atuais (Heine & Nurse, 2000 ). Inclu em mais d e quat rocent as lnguas, faladas n a regio central e sul d a fri ca. Constituem u m conjunto bastante homogn eo do ponto de vista lexical e g ramatical, cuj a unidade foi reconh ecida no sculo XIX, con firmada pelos trabalhos de Meinho f (1899) que reconstituiu o proto-banto. Desde ento, grande p arte dos estudos sobre esse univ erso lingstico dedica-s e a co mparar traos gramaticais das lnguas envolvidas, (Guthrie, 1967/71). Alm de u m l xico co mum, essas lnguas co mpartilham caractersticas tipolgicas i mportantes o sistema de classes no minais e o sistema de extenses verbais.
Este trabalho u m estudo preli minar da neg ao n as lnguas do grupo banto vai fo calizar a frase negativa em duas lnguas desse grupo, faladas em Angola: o qui mbundo e o quicongo, lnguas H20 e H10 , respectivament e, na classi fi cao de Guthrie (1948 ).
Apresent arei as caract ersticas gerais da n egao no conjunto banto (Mu zenga, 1978) e a seguir sero analisad as as mani festaes da n egao em qui mbundo e em quicongo, a p artir dos trab alhos de Pedro (1993) e Ndonga (1992).
1. A Negao
Os estudos comparatistas tradicionais realizados sobre as lnguas bantas observaram qu e o modo do verbo influ encia na posio do mo rfema negativo, que aparece em posio pr-inicial , no indicativo, e em posio ps-inicial , nos outros modos.
C. Meinhof (1906-1948 ) foi o pri meiro o reconstruir os morfemas negativos *ka, *nka, *ta, *nta, s em todavia precisar nem o modo nem a posio em qu e aparecem. Segundo ele, o mo rfema d e tipo si atestado no domnio banto, derivari a de *ka; assi m a seqnci a *-ka-ni- teria cheg ado a si-. Por outro lado, o autor assinala que a si metria entre o negativo e o afirmativo no sempre perfeita. Essa observ ao coloca em questo o estatuto geral da n egao em b anto; pode-s e pergunt ar se a conjugao
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 268-273, 2004. [ 268 / 273 ]
-
negativa difere totalmente d a afi rmativa. A Wern er (1919), que retoma o essen cial das concluses de seus predecesso res, prope a seguinte hiptese: a dissimetria entre o negativo e o afirmativo teri a sido total em p roto-banto; algumas lnguas teriam perdido a conjug ao neg ativa e utilizado o morfema neg ativo esquerda d a forma afirmativ a.
A Meussen (1967 ) reconstri no s os morfemas neg ativos, mas tambm os outros morfemas d a conjugao neg ativa (finais e formativos): pr-iniciais *ka- e *ta- (indicativo), ps-inicias *t- (subjuntivo) e *-ta- (em oraes relativas e com o infinitivo); finais *-i (indicativo presente negativo), *-a (in finitivo e relativas), *-d (passado) e *-e (subjuntivo). Alm disso ele destaca algumas caractersticas do morfema negativo do proto-banto , co mo o contraste tonal entre a pr-inicial neg ativa e o p refi xo verbal (* Tons Bai xo/ Alto), e as formas especi ais do morfema n egativo atest adas na classe 1 expandida (1 sg * c-; 2 sg *ku- ou *tu-; cl. 1 *k- ou t-) o emp rego d e u ma pr-inicial no indicativo e de uma ps-inicial nos out ros modos. Muzenga (1978) con firma esses dados no essencial, distinguindo-se em alguns pontos co mo, por exemplo: pr-inicias *nk- no lugar de *k- e de t-; o emprego de i- co mo prefi xo verbal da 1 p ess. do sg; variante do mo rfema neg ativo diante do prefi xo da 1 sg (nk--/nk-- no lugar de *c-).
Segundo Guth rie (1967-1971), en fim, o proto-b anto teria tido os dois morfemas neg ativos **t e **c, de onde derivariam algu mas das correspondncias que el e prop e (*ca, *ci, *ci , *ka, *nka, *ta, *ti e *yi) .
A fo rma verb al negativa traz ela mes ma a negao; ela fl exional, ao contrrio das lnguas europ ias que recorrem adjuno d e u m morfema n egativo. Para traduzir u ma frase do tipo ns no trabalhamos, a maioria das lnguas bantas utiliza uma forma verbal negativa, caracterizada pela presen a de u m morfema neg ativo. As lnguas sem mo rfema neg ativo tm, em geral, u m advrbio negativo. So lnguas minoritrias, esto situadas em duas pequen as reas nos confins das zonas H, K e B e outra na zona C (lngua dos ribeirinhos); esse grupo comp reende, alm disso, u ma meia dzi a de lnguas isoladas. Pode-se supor qu e elas tenh am p erdido o mo rfema negativo ao longo da histria e que a situao da qu ase totalidade do do mnio banto reflita o estado antigo. A maioria dos co mparatistas percebeu a i mportncia da posio do mo rfema n egativo, que pode preced er o prefi xo verbal (posio p r-inicial), ou seguir (posio ps-inicial) (Mu zeng a, 1978). O constituinte verb al u m co mpl exo de marcas que caract erizam o ncleo central, fo rmado p elo lexema v erbal . Essas marcas situam-se esquerda e di reita do lexema v erbal , nu ma relao hierrquica, isto , cuja pres ena ob rigatria ou facultativa. Enqu anto suporte da funo sinttica de predicado, o constituinte verb al resulta da associao de trs elementos obrigatrios: a marca de tempo, o lexema verbal, e a marca de asp ecto , e de um elemento facultativo - o derivativo (extens o, para os bantustas), qu e segu e o lexema v erbal e t em por funo ampliar o valo r semntico inicial deste, co mo no exemplo em qui mbundo, em qu e IS o ndice do sujeito; tp indica tempo , cl indica a cl asse nominal e NO equivale a no min al n a fun o de objeto:
(1) ngjikl dbt
/ng jik l- / - dbt/ /IS tp lex d eriv. aspecto/ (cl 5) NO/ / eu passado fechar rev ersivo acabado/ a porta/
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 268-273, 2004. [ 269 / 273 ]
-
eu abri a porta (Pedro, 1993: 272 ) 1.1. A Negao em Qui mbundo
A lngua qui mbundo fal ada em Angol a, nas provn cias de Luanda, Bengo, Mal anje, Kw anza Norte e, parcial mente, Uige e Kw anza Sul. Os locutores do qui mbundo so os ambundos, qu e constituem o segundo maior g rupo lingstico de Angola, com mais de u m milho d e falantes . O qui mbundo ad mite variantes region ais que no i mpedem a interco mpreens o (Pedro, 1993: 16).
A negao n essa lngua se faz por meio do morfema /ki-/ negao em geral ou pelo acrsci mo do morfema /ku -/ negao do i mp erativo singular, em posio inicial, antes do ndice do sujeito, co mo se obs erva nos exemplos renumerados, ext rados de Pedro (1993) :
(2a) ngd /ng - d / /IS - tp - base verbal asp ecto/ /eu - passado co mer - acab ado/ Eu co mi (2b) kngd /k ng d - / /neg. IS tp bas e v erbal aspecto/ /neg. eu p as. comer acab ado/ Eu no co mi (3a) tnd /- tnd zero/ /- base v erbal sujeito/ / - sair voc/ Saia! (3b) ktnd / k tnd + (y)/ / n eg. Bas e v erbal + sujeito/ / neg. sair vo c/ No saia! A resposta co mpl eta a u ma interrogao que provoque uma resposta // sim
ou /kn / no ap resentar as formas: (4) Pergunta: mwn w d mbj ? / mwn / w - d / mbj/ / sujeito/ IS tp b ase verb al aspecto / cl 9 No minal objeto + inter./ / ele/ ele- pas . co mer + acab ado /p eixe/
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 268-273, 2004. [ 270 / 273 ]
-
Ele comeu p ei xe?
A interrogao marcad a no nvel tonal, observada na mud ana do to m das duas lti mas slabas do enunciado, que tero , respectivamente, to m descendente, modulado, alto/bai xo (^) e tom bai xo( `), co mo em mbj.
(4a) Resposta afirmativa: mwn w d mbj // mwn / w d / mbj/ /afirm./ sujeito/ IS - tp- base verbal asp ecto/ no minal objeto/ / sim/ ele/ ele- pass . co mer - acabado/ p eixe/ Sim, ele comeu pei xe (4b) Resposta neg ativa: kn mw n kwd mbj /kn/ mw n / k - w d / mbj/ /neg../ suj eito/ neg. - IS - tp - bas e v erbal aspecto/ no min al objeto/ / no / el e/ neg .- ele- p ass. co mer - acabado/ pei xe/ No, ele n o comeu pei xe
1.2. A N egao em Quicongo
Quicongo a denomin ao que d esigna u m conjunto de falares de povos originrios do antigo Reino do Congo, entre os quais o quissicongo, lngua dos bessicongos, que ser aqui apresentad a a p artir do trabalho d e Ndong a (1992). O quicongo situa-se na zona H , sob a sigla H10 , o quissicongo pertence ao g rupo H10f.
A negao nessa lngua duplament e marcada, apresent ando o mo rfema /k-/ anteposto base verb al e o morfema /k/ posposto base verbal. O morfema /k-/ apres enta as v ariantes : k, k, k, resultado de amlgama co m as marcas de sujeito ou de tempo . O mo rfema /k/ o segundo elemento da neg ao, de presen a no obrigatria. Quando aparece, pode estar sep arado do verbo por um ou vrios complementos. Pode ser o mitido nu m enunci ado imperativo negativo expri mindo u ma proibio fo rmal (fo rte) ou nu m enunciado que expri me su rpres a (Ndonga, 1992). Observem-se os exemplos:
(5) k tdd k /k t + O + d- IDI/k/ /neg. IS + i mediato + bas e verbal- asp ecto/neg/ /no/ ns + i mediato+ comer acabado / n o/ Ns no comemos (6) ktng n z k /k + O + tng-i/N+z/k/ /neg. IS - neutro- bas e v erbal i mperativo /cl9 + Nominal objeto/ n eg/ /no-voc + neutro- construir i mperativo/ au mento cl 9 + casa/ n o/ No construa u ma casa
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 268-273, 2004. [ 271 / 273 ]
-
(7) k td ngb k /k-tu+O + t-d -/N +gb/k/ /neg.-IS neutro b ase verbal i mper./ cl 10+no min al objeto/ neg/ / no-ns- n eutro-co mer-i mper/ amendoins/ no/ No co mamos amendoins A marca de negao u m morfema que particip a da flexo do verbo , tanto em
quissicongo como em qui mbundo, como se observou nos exemplos supra citados; ela pode, no entanto, associar-s e a um substantivo, numa construo de identifi cao, em que no aparece a cpula verb al, co mo s e pode const atar no exemplo abai xo , em que o (pronome) suj eito (pri meira pesso a no caso, precedido d e u ma vogal de aumento) reto mado pelo ndice de sujeito, ao qual s e ant epe a marca de n egao:
(8) mn k mfm k /-mn/k --N +f m/k/ /au mento-Suj./n eg-IS-cl9+no minal/neg/ /au mento-eu/no -eu-chefe/no/ Eu, eu no sou chefe (Ndonga, 1992:83) A interrogao em quissicongo se mani festa na curva entonativa ascendente
associada ao mo rfema /-/ que se sobrepe ltima slaba do enunciado. A resposta afirmativa pode cont er os morfemas : , i, l, ng ou ngt sim. A resposta negativa introdu zida p elo morfema w no, como nos exemplos:
Pergunta : (9) nknt( ) ddy? /-N+knt( )/ +O +d- IDI- / / au mento-cl1 + suj eito/ IS+tp+ bas e verbal-aspecto- inter./ / mulher/ela+i mediato- acabado interrog ao/ A mulher co meu? (9a) Resposta afirmativa ng nknt() dd /afirm./-N+k nt()/ +O +d- IDI/ /afi rm/ au mento-cl1+ sujeito/ IS+tp + base v erbal-asp ecto/ /sim/ mulh er/ela+i mediato- acabado/ Sim, a mulher co meu. (9b) Resposta neg ativa w nknt() kdd k /neg./-N+knt()/k- +O +d- IDI/neg/ /neg ./ au mento-cl1 + sujeito/neg- IS+tp+ b ase verb al-aspecto/neg/ /no/ mulher/ela+i mediato- acabado/n o/ No, a mulher no co meu .
2. Consideraes finais
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 268-273, 2004. [ 272 / 273 ]
-
A descrio dos dados em duas lnguas do grupo banto, qui mbundo e
quicongo(quissicongo), demonstrou que, ap esar da grande pro xi midade entre as lnguas pertencem ao mes mo grupo lingstico, Nger-Congo , banto , grupo H (Guthrie) e so faladas em regi es vizinhas, no mesmo pas (Angola) a negao apres enta traos comuns e aspectos div ergentes. Em ambas as lnguas a negao participa d a fl exo do verbo, co m morfemas espec fi cos que t m u ma posio fixa antes do verbo, mais precisamente, antes do ndice do sujeito. Di ferem qu anto ao nmero d e morfemas: o qui mbundo possui um mo rfema e o quicongo utiliza dois morfemas , colocados antes e depois do verbo. Embora os dados lev antados sejam exguos , podemos reiterar a observao d e que a grande div ersidad e das lnguas africanas sugere cuidados ao fazer afirmaes excessivamente genricas . RESUMO: Este texto apres enta a n egao em duas lnguas do grupo banto: qui mbundo e quicongo. Ness as lnguas a negao marcada mo rfologicamente, co m u m morfema negativo precedendo o verbo, em quimbundo, e duplamente marcad a em quicongo, com mo rfemas qu e antecedem e aco mpanham o verbo . PALAVRAS-CHA VE: neg ao; lnguas afri canas; grupo b anto; qui mbundo; quicongo. REFE RNCIAS BIBLIOG RFICA S GREENBERG , Jos eph. Th e languages of Africa. Bloo mington: Indiana University and
Th e H ague: Mouton ., 1963. GUTHRIE, Malco m. Th e classification of Bantu Languages. O xford: Oxford
University Press, 1948. _____ Comparative Bantu . 4 vols. Farnborough: Gregg, 1967-71 HEINE,Bernd & NU RSE, Derek. African Languages: an introduction. Cambridg e:
Cambridge University Press, 2000. MEINHO FF, Carl. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen. L eipzig, 1899. _____ Grundzge einer verleichenden Grammatik d er Bantusprachen . Berlim, 1906-
1948. MEU SSE N, A . E. Bantu grammatical reconstru ctions. Africana Linguistica 3:79-121.
Muse Royal de lA friqu e Centrale, Tervuren, 1967. NDONGA , Mfwene. Etude Grammatical e du Kskng. Tese de doutorado de
tercei ro ci clo. Universit Ren Descart es, Paris, 1992. MU ZENGA, Kamba. Les formes verbales ngatives dans les langues bantoues. Tese
de doutorado, Universit Libre de Bru xelles, 1978 . PEDRO, Jos Do mingos. Etude gram maticale du kimbundu . Tese de doutorado de
tercei ro ci clo. Universit Ren Descart es, Paris,1993. WERNER, A . The Bantu Languag es. London: Kegan Paul, 1919.
Estudos Lingsticos XXXIII, p. 268-273, 2004. [ 273 / 273 ]