Latin America. Latin America includes.... Mexico Central America Caribbean Islands South America.
america latina.pdf
-
Upload
gabriel-bozzano -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
Transcript of america latina.pdf
-
5/26/2018 america latina.pdf
1/17
Disponvel em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28281502
Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal
Sistema de Informacin Cientfica
Regina CrespoVises de brasileiros sobre Amrica Latina: do isolamento integrao
Araucaria, vol. 8, nm. 15, primer semestre, 2006, pp. 20-35,
Universidad de Sevilla
Espaa
Como citar este artigo Fascculo completo Mais informaes do artigo Site da revista
Araucaria,
ISSN (Verso impressa): 1575-6823
Universidad de Sevilla
Espaa
www.redalyc.orgProjeto acadmico no lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28281502http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28281502http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=282&numero=3263http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28281502http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282http://www.redalyc.org/http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28281502http://www.redalyc.org/revista.oa?id=282http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28281502http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=282&numero=3263http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28281502http://www.redalyc.org/ -
5/26/2018 america latina.pdf
2/17
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofa, Poltica y Humanidades N 15. Abril de 2006 .Pgs. 20-35.
VVVVVises de brasilises de brasilises de brasilises de brasilises de brasileireireireireiros sobre a Amrios sobre a Amrios sobre a Amrios sobre a Amrios sobre a AmricacacacacaLatina: do isolamento integraoLatina: do isolamento integraoLatina: do isolamento integraoLatina: do isolamento integraoLatina: do isolamento integrao
Regina Crespo(Centro Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos - UNAM)
ResumoResumoResumoResumoResumo
A distncia poltico-cultural que ainda prevalece entre o Brasil e os pa-ses hispano-americanos vem sendo paulatinamente diminuda no plano pol-tico, principalmente com a formao de blocos regionais e acordos de co-operao. No plano especfico do pensamento social, esta distncia tambmse mantm, mas possvel observar que os intelectuais latino-americanostm compartilhado historicamente a preocupao em refletir sobre temascontinentais e em definir um lugar para a Amrica Latina no contexto mun-dial. No incio, havia pouca vinculao entre os brasileiros e seus pares hispa-no-americanos. Nos anos cinqenta, porm, com o movimento cepalino, enos setenta, com a teoria da dependncia, iniciou-se um intercambio maior. Apartir de fianis dos anos oitenta, a insero da Amrica Latina no mundoglobalizado e a relao entre cultura e modernidade no subcontiente foram
temas que estimularam o dilogo entre intelectuais brasileiros e hispano-ame-ricanos, como Renato Ortiz, Octavio Ianni e Martn-Barbero, analisados nes-te ensaio.
Palavras-chave:histria intelectual; pensamento latino-americano; iden-tidade nacional e latino-americana; teoria da dependncia; globalizao; mo-dernidade
AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract
The political and cultural distance that still prevails between Brazil andthe Hispanic American countries is being gradually diminished in the politicalplane, mainly with the conformation of regional blocks and cooperation agree-ments. In the specific plane of social thought, this distance also prevails, butit is possible to observe that the Latin American intellectuals have shared
-
5/26/2018 america latina.pdf
3/17
21Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
historically a preoccupation about reflecting on continental themes and defi-ning a place for Latin America in a worldwide context. In the beginning thereexisted a weak bond between Brazilians and their Hispanic American equals.Nevertheless, in the fifties, with the CEPAL movement, and in the seventies,with the Dependency theory, began a greater exchange. Since the late eig-hties, the insertion of Latin America in the globalized world and the relationbetween culture and modernity in the subcontinent were themes that stimu-lated the dialogue between Brazilian and Hispanic American intellectuals, suchas Renato Ortiz, Octavio Ianni and Martin Barbero, who are analyzed in thisarticle.
Key words: intelectual history; Latin American thought; nacional andLatin American identity; dependency theory; globalization, modernity
Definir um lugar para o Brasil na Amrica Latina nunca foi um tema deconsenso no debate intelectual e poltico brasileiro. Elementos prprios daevoluo histrica do pas como a colonizao portuguesa e a escravidoafricana sempre distinguiram o Brasil do resto do continente. No entanto, oseu singular processo de independncia poltica e sua particular conformaocomo Estado nacional foram provavelmente os fatores mais importantes paraproduzir e difundir, entre os brasileiros, uma poderosa imagem de estabilida-de, materializada justamente na idia de que pertenciam a um pas que haviaflorescido como um grande e slido imprio rodeado por pequenas e confli-tivas repblicas. Tal imagem alimentou por muito tempo interpretaes quetinham como principal caracterstica justificar o isolamento do pas no sub-continente.
Se essa tendncia ao isolamento foi dominante no Brasil por dcadas, omesmo se pode dizer acerca da resistncia entre os hispano-americanos emaceitar o Brasil como parte integrante da Amrica Latina. A tradicional barrei-ra do idioma (que no representa muita dificuldade para os lusoparlantes),acrescida de uma conduta tradicionalmente altiva (e, para muitos, imperialis-ta) dos brasileiros, contribuiu durante muito tempo para manter o Brasil comouma espcie de outra Amrica entre os vizinhos.
No se pode negar, porm, que essa situao tem-se modificado. Ora, aatual correlao de foras mundial, em que o velho conflito Leste-Oeste trans-formou-se no conflito Norte-Sul, fez com que os governos dos pases latino-americanos se vissem na necessidade de reorientar suas polticas e ligaesestratgicas. E assim, nos anos noventa, praticamente de maneira simultnea conformao do Tratado de Livre Comrcio da Amrica do Norte, firmado
em 1992 e posto em vigor em 1994 (significativamente conhecido no Brasilpor sua sigla em ingls: NAFTA), tivemos na parte sul do continente a criao
-
5/26/2018 america latina.pdf
4/17
22 Regina Crespo
e fortalecimento de blocos regionais como a Comunidad Andina 1e o MER-COSUL2. O duro e conflitivo processo de formao da rea de Livre Comr-cio das Amricas - ALCA, que at hoje no se concluiu, indica o tipo dedivergncias que se pode encontrar no continente acerca da factibilidade deaplicao de polticas econmicas e sociais de integrao. Indica, tambm, aexistncia de uma complicada agenda de negociaes entre projetos ideolgi-cos e culturais nacionais e regionais distintos e muitas vezes divergentes,cuja manuteno e desenvolvimento implicaria, necessariamente, re-arranjoscontinentais muito difceis de conquistar.
Como sabemos, no que se refere Amrica Latina, a dicotomia norte-sulno um tema de discusso recente. Desde a criao da Comisso Econmi-ca para a Amrica Latina e o Caribe CEPAL, em 1948, existe uma preocu-pao em entender as especificidades econmicas, sociais e polticas da re-
gio que, nos anos setenta, este organismo da ONU definiu como heteroge-neidade estructural. Das tentativas de industrializao por substituio deimportaes, que analisou nos anos cinqenta, transformao com eqida-de que props nos noventa, a CEPAL foi-se constituindo numa escola depensamento preocupada com as especificidades regionais e indicadora depolticas de colaborao continental.
Atualmente, a discusso acerca de como entender o lugar que a AmricaLatina ocupa no mundo globalizado, em termos polticos e econmicos, e decomo cultura e modernidade se relacionam no subcontinente intensa e vemresultando na produo de uma ampla reflexo crtica, que se incrementou demaneira significativa a partir de finais dos anos 80. De fato, podemos encon-trar autores de vrios pases latino-americanos, cujas preocupaes ultrapas-sam o mbito especificamente continental e abrangem questes fundamen-
tais como a relao entre a cultura, a economia e a poltica, o papel do Estadonacional, das indstrias culturais e dos movimentos sociais em um mundoeconomicamente globalizado, e a importncia das construes identitriasnum ambiente movedio, em que a diversidade se traduz via de regra emdesigualdades. Os brasileiros vm cumprindo um papel importante nesse pa-norama e o objetivo deste breve ensaio refletir sobre algumas de suas con-
1Em 1969, com o Acordo de Cartagena, Bolvia, Colombia, Chile, Equador e Peru buscaramcriar um mercado comum regional, com a elaborao de um programa de poltica comum (oPacto Andino) e a integrao dos quatro pases firmantes no chamado Grupo Andino (a partirde abril de 1996 denominado Comunidade Andina). A Venezuela se incorporou ao grupo em1973 e o Chile se retirou em 1976.
2Os governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai criaram o Mercado Comum do Sul,em maro de 1991 com o Tratado de Assuno, buscando a ampliao das dimenses dos
respectivos mercados nacionais, atravs da integrao. Alm desses quatro Estados fundado-res, incorporaram-se ao MERCOSUL como Estados associados Chile (1996), Bolvia (1997),Peru (2003), Colombia (2004), Equador (2004) e Venezuela (2004).
-
5/26/2018 america latina.pdf
5/17
23Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
tribuies, considerando-as em relao e dilogo com a produo hispano-americana. Para isso, necessrio, porm, uma pequena retrospectiva acer-ca de como a questo nacional e continental se desenvolveu entre os latino-americanos.
Retratos e projetos nacionais e continentaisRetratos e projetos nacionais e continentaisRetratos e projetos nacionais e continentaisRetratos e projetos nacionais e continentaisRetratos e projetos nacionais e continentais
O duplo estranhamento que ainda resiste e se mantm dentro do imagi-nrio continental, entre brasileiros e hispano-americanos, influenciou grandeparte dos intelectuais da regio em suas concepes acerca da questo nacio-nal e continental ao longo de todo o perodo compreendido entre a consoli-dao dos Estados nacionais no subcontinente e a primeira metade do sculoXX. Mas, para entender como se construram tais concepes, preciso
analisar tambm o papel desempenhado pela Europa e pelos Estados Unidosnesse processo. Por um lado, as relaes ideolgicas, culturais e polticasentre as elites polticas e intelectuais do subcontinente e as metrpoles euro-pias foram determinantes durante muito tempo e levaram muitas vezes construo de projetos sociais e culturais que no correspondiam realidadelocal nem respondiam s suas especificidades econmicas e polticas 3. Poroutro lado, o slido e paulatino avano econmico e poltico dos EstadosUnidos sobre os pases latino-americanos, alm de colocar em xeque a as-cendncia ideolgica europia, praticamente hegemnica at os primeiros anosdo sculo XX, impediu sistematicamente a construo de alianas regionais.Recordemos, por exemplo, que as relaes polticas e econmicas entre bra-sileiros e hispano-americanos estiveram muitas vezes explcita ou implicita-mente trianguladas pelos Estados Unidos e, nesse contexto, a posio adota-
da pelo Brasil, normalmente partidrio dos princpios panamericanistas e dapoltica exterior dos norte-americanos, colaborou em vrios momentos paraisol-lo4.
De qualquer maneira, hesitando em meio influncia europia e esta-dunidense, sem se preocupar de maneira sistemtica com os vizinhos e lutan-
3A remodelao do Rio de Janeiro e de Bueno Aires ilustra, com seus atropelos populaolocal, essa tentativa das elites dirigentes de se colocar no mesmo patamar alcanado peloseuropeus.
4No entanto, essa poltica de alinhamento sistemtico do governo brasileiro com os Esta-dos Unidos recebeu crticas incisivas de vrios intelectuais brasileiros. Vale a pena mencionaro aguerrido monarquista Eduardo Prado que, emA iluso americana (cuja primeira edio de1895 foi confiscada pelo governo brasileiro), traou um cido retrato da poltica norte-americana e da doutrina Monroe, ironizando a fraternidade estadunidense e descrevendo emdetalhe as injerncias do governo dos Estados Unidos nos pases do continente. Alm do Brasil,
Prado dedicou ateno especial ao Mxico, com uma anlise muito crtica da guerra de ocu-pao do Texas e do governo de Porfrio Daz, cuja poltica frente ao governo e ao capitalnorte-americano considerava servil (1895: 47-67).
-
5/26/2018 america latina.pdf
6/17
24 Regina Crespo
to para alcanar para seus respectivos pases um melhor lugar no concertodas naes, intelectuais brasileiros e hispano-americanos recorreram ao apoiode ferramentas conceituais como nao, Estado e identidade nacionais (mar-cados, durante esse longo perodo, por uma carga de significados que, pos-teriormente, foi-se transformando), para entender e operacionalizar a especi-ficidade das mudanas vividas em sua regio. De fato, j a partir de meadosdo sculo XIX era possvel detectar em grande parte da Amrica Latina apresena de um processo de modernizao (social, econmica, poltica einstitucional) ainda que distinto e menos intenso do que o europeu. A neces-sidade de compreender como os pases do continente deveriam inserir-senum mundo em acelerada transformao fez com que, para muitos, a tnicaexplicativa geral se concentrasse basicamente em projetos identitrios orga-nizados em torno do Estado nacional. Tais projetos geraram modelos explica-
tivos baseados em parmetros passveis de generalizao, com um espaomnimo para as reivindicaes locais ou regionais. Curiosa e significativa-mente, essa generalizao que orientou os projetos nacionais acabou sendoaplicada tambm construo de vises unitrias da Amrica Latina, apesardas suas notrias diferenas locais, regionais e internacionais.
Recordemos o papel das formaes culturais nacionais latino-america-nas de finais do sculo XIX s primeiras trs dcadas do sculo XX. Duranteesta etapa que poderamos definir como formativa do campo intelectual dospases latino-americanos (resultado, principalmente, do crescimento de suasclasses mdias e da urbanizao) a preocupao pela definio de um lugarmais favorvel tanto para eles quanto para o continente em termos mundiaislevou no s construo de imagens demasiado gerais como a alguns pro-jetos, em certo sentido coletivos, de interpretao, afirmao e, inclusive,
de resgate social, poltico e ideolgico. Como sabemos, a dicotomia entrecivilizao e barbrie e entre progresso e atraso orquestrou grande parte dodebate intelectual de finais do sculo XIX a princpios do sculo XX. A espe-rana que o argentino Domingo Sarmiento colocara na educao como nicaforma de transformar as sociedades latino-americanas levou muitos intelec-tuais do continente a associar civilizao a europeizao. Se fatores comoclima e raa no podiam ser transformados, idias e sentimentos sim, aoeuropeizar-se. Sarmiento tambm sonhava em incorporar o pragmatismoestadunidense em seu projeto nacional, transformando a Argentina nos Esta-dos Unidos do sul. O escritor e empresrio Monteiro Lobato acalentou omesmo sonho para o Brasil nos anos trinta. No entanto, autores como ofilsofo uruguaio Jos Enrique Rod, que defendiam uma viso da AmricaLatina como unidade integrada, sem dar muita importncia s diferenas,procuraram justificar o que j ento se definia como atraso dos latinosfrente ao pragmatismo e ao dinamismo dos saxes, responsveis pelo seu
-
5/26/2018 america latina.pdf
7/17
25Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
progresso. Para faz-lo, basearam-se na suposta e at certo ponto tran-qilizadora- superioridade espiritual latina, marcada por evidentes matizeseuropeus.
Nos anos 20, o poltico e pensador mexicano Jos Vasconcelos formu-lou sua famosa e falida utopia da raa csmica, segundo a qual o continenteseria o protagonista da futura e definitiva transformao mundial, apoiando-se numa espcie de mestiagem eugnica, que construiria, atravs do amor, aetapa final -e perfeita- da histria humana5. Mas, enquanto essa etapa no seiniciava, Vasconcelos defendia um nacionalismo defensivo de seu pas -e detodo o subcontinente- contra o avano do pragmatismo norte-americano.Durante toda a primeira metade do sculo XX, o tema da unidade latino-americana permaneceu na agenda do governo de vrios pases, inclusive doBrasil, e se manejou de acordo com os ventos da poltica e suas alianas e
distanciamentos circunstanciais. Assim, a atitude propugnada pelo derrotadocandidato s eleies presidenciais de 1929 encontraria eco na tentativa deGetlio Vargas em buscar uma maior aproximao com os pases da AmricaLatina, reagindo poltica norte-americana do big sticke tratando de cons-truir um discurso de solidariedade continental, com especial ateno Argen-tina (Capelato, 2000:300)6.
Enquanto isso, no mbito do pensamento social, podemos observar como,nos anos trinta, o otimismo de Vasconcelos em certo sentido floresceu. Como apoio da psicanlise e da antropologia social, surgiram outras formas desuplantar a velha e incmoda dicotomia entre civilizao e barbrie e compre-ender a evoluo social e cultural do subcontinente. A importncia do brasilei-ro Gilberto Freyre nesse contexto foi inquestionvel, devido sua propostade um inusitado modelo de auto-valorizao para o Brasil adaptvel e exten-
svel a todos os vizinhos- baseado precisamente no enaltecimento de umelemento tradicionalmente desprezado como o racial. A fuso das raas, de-tectada por Freyre como caracterstica positiva do Brasil, abriria o caminhopara a construo de um novo e avanado modelo de sociedade: nossa demo-cracia racial levaria paulatinamente democracia social.
Houve, porm, algumas vozes alternativas nesse panorama. Uma delasfoi a do marxista peruano Jos Carlos Maritegui. Maritegui, quem chegou
5Segundo Vasconcelos (1992:34), o bero da raa csmica ocuparia la zona que hoycomprende el Brasil entero, ms Colombia, Venezuela, Ecuador, parte de Per, parte deBolivia y la regin superior de Argentina. Infelizmente, o autor no explicou que critriosutilizou para a construo de uma imagem integradora das partes portuguesa e espanhola dosubcontinente que no abrangia todos os seus pases, e nem mesmo o seu prprio Mxico natal.
6Sobre as relaes polticas do Brasil com os pases latino-americanos, especialmente a
Argentina, consulte-se Capelato (2000). A autora oferece uma interessante anlise das cir-cunstncias e interesses envolvidos nos movimentos de aproximao entre o Brasil e os seusvizinhos, de Getlio Vargas aos dias de hoje.
-
5/26/2018 america latina.pdf
8/17
26 Regina Crespo
a definir Vasconcelos como um otimista do ideal e pessimista da realidade,detectou, em seus Siete ensayos de interpretacin de la realidad peruana, de1928, que o problema dos indgenas de seu pas no era educativo ou cultu-ral, mas sim econmico. O passo para uma viso mais sociolgica e materia-lista da realidade do subcontinente j estava dado, embora fossem necess-rios ainda alguns anos para que se sistematizasse. Antes, no incio do sculoXX, encontraremos a outro brasileiro, Manuel Bomfim, navegando na con-tracorrente, tanto dos otimistas construtores de uma viso idealizada e har-moniosa do continente, quanto do pessimismo de grande parte dos intelec-tuais marcados pelo evolucionismo e pelos determinismos de raa, meio eclima. EmAmrica Latina: males de origem, Bomfim observou a presenade um inusitado elemento de identidade entre o Brasil e os pases hispano-americanos, que afastava, simultaneamente, qualquer explicao simplista do
atraso continental e qualquer possibilidade de apologia essencialista da unida-de latino-americana. Para Bonfim, toda a Amrica Ibrica padecia do mesmomal: o peso de seu passado colonial e de sua nefasta herana, materializadaem elites parasitrias, incapazes e destitudas de qualquer interesse por cons-truir um projeto nacional e, conseqentemente, continental autnomo7.
Esse breve panorama de idias e autores nos mostra que, apesar daaproximao entre algumas concepes e projetos, o contato e o intercmbioentre brasileiros e hispano-americanos foram praticamente inexistentes. Aintegrao de brasileiros s incipientes redes intelectuais de abrangncia con-tinental foi, quando muito, episdica. Nas dcadas de 1950 e 1960, o panora-ma comearia a mudar (recordemos o papel de Celso Furtado na CEPAL, porexemplo), ainda que a poltica desenvolvimentista do governo brasileiro tenhacontribudo para ampliar o abismo entre o pas e a grande maioria de seus
vizinhos e reforasse, entre os brasileiros, uma vez mais, a idia de que per-tenciam a uma grande potncia cercada de repblicas instveis. Foi justa-mente o pensamento cepalino, segundo Theotnio dos Santos (2002:73) que,com sua concepo de desenvolvimento, abandonou o debate entre civili-zao e barbrie, moderno e arcaico, progresso e atraso, para produzir umadiscusso mais consistente em termos de desenvolvimento e subdesenvolvi-mento. A partir de ento, abriu espao para o surgimento de intelectuais que,preocupados com a insero econmica e poltica dos pases latino-america-nos e do continente em seu conjunto no contexto internacional, passaram aanalisar o tema da dependncia. Com a teoria da dependncia e suas deri-
7No incio do sculo, Bonfim foi capaz de ultrapassar as vises restritas de seus contem-porneos, coroando sua anlise de uma inusitada historicidade (apesar de utilizar o jargobiologista dominante, com a idia do parasitismo social). Nos anos quarenta, porm, em seusltimos livros, rendeu-se imagem recorrente da impossibilidade de uma verdadeira integraoentre o Brasil e seus vizinhos.
-
5/26/2018 america latina.pdf
9/17
27Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
vaes temos, talvez, o primeiro momento em que se pode pensar na pro-duo de conhecimento integrada entre brasileiros e hispano-americanos. Umfator no exatamente terico, mas poltico, o do exlio de intelectuais foradopelas ditaduras militares no subcontinente, estimulou tal colaborao.
Elementos como a internacionalizao do capital e a transformao pol-tica do continente sob o domnio das ditaduras fizeram da teoria da depen-dncia o principal objeto do pensamento social latino-americano durante osanos setenta, em suas duas vertentes, ambas protagonizadas por brasileiros.Ruy Mauro Marini, com uma perspectiva marxista, utilizou a expresso dia-ltica da dependncia para entender a insero das economias perifricascomo as latino-americanas no mercado internacional a partir de seus meca-nismos de acumulao do capital e de explorao do trabalho. Para Marini, adefasagem tecnolgica das economias perifricas levou suas burguesias a
exercer uma super-explorao da fora de trabalho, cujos resultados foram,entre outros, a diminuio do mercado de consumo popular e uma maiordefasagem entre este e o alto consumo, do qual a economia passou a depen-der mais, juntamente com as exportaes. Sua mxima de que a histria dosubdesenvolvimento latino-americano a histria do desenvolvimento do sis-tema capitalista mundial o levou a demonstrar que esse subdesenvolvimentoera, para ele, simplesmente a forma particular que assumiu a regio ao seintegrar ao capitalismo mundial8. Fernando Henrique Cardoso, representanteda outra vertente, aceitou a irreversibilidade do desenvolvimento dependentee a possibilidade de compatibiliz-lo com a democracia representativa (San-tos, 2002:34). Para Cardoso, a internacionalizao das economias nacionaislatino-americanas seria a nica alternativa para a regio alcanar o desenvol-vimento, no que se poderia definir como integrao subordinada 9.
Criticada por muitos como uma viso datada e insuficiente para analisara insero da Amrica Latina na atual fase do capitalismo mundial, defendidapor outros como uma corrente que ainda pode oferecer elementos importan-tes para entend-la, o certo que foi uma contribuio inegvel ao estudo daAmrica Latina feita pelos latino-americanos. E, novamente nas palavras deRuy Mauro Marini, conseguiu, invertendo pela primeira vez o sentido dasrelaes entre a regio e os grandes centros capitalistas, fazer com que, aoinvs de receptor, o pensamento latino-americano passasse a influir sobre as
8Esta citao consta da Memria de Ruy Mauro Marini (1932-1987), texto em que oautor faz uma longa restrospectiva de sua formao e produo intelectuais. O texto faz partedo excelente site documental com a obra do autor, mantido pela UNAM e organizado por umaequipe de intelectuais mexicanos, brasileiros e chilenos que foram prximos a ele.
9Coerente com seu pensamento foi a poltica de abertura da economia ao mercado interna-
cional, desregulao, privatizao e conseqente dependncia do capital externo que FernandoHenrique Cardoso adotou durante os dois perodos em que ocupou a presidncia do Brasil(1995-2002).
-
5/26/2018 america latina.pdf
10/17
28 Regina Crespo
correntes progressistas da Europa e dos Estados Unidos, em autores comoAmin, Sweezy, Wallenstein, Poulantzas, Arrighi, Magdoff e Touraine. ParaMarini, a pobreza terica da Amrica Latina, nos anos 80, foi em grande parteresultado da ofensiva desfechada contra a teoria da dependncia, fato quepreparou o terreno para a reintegrao da regio ao novo sistema mundial quecomeava a se gestar, caracterizado pela afirmao hegemnica, em todos osplanos, dos grandes centros capitalistas 10.
No mbito do pensamento social do continente esta tem sido -e perma-necer- uma questo fulcral. Como refletir sobre a Amrica Latina, comoelaborar projetos para ela, como dialogar com as grandes tradies tericasocidentais sem simplesmente tratar de aplicar os seus conceitos e parmetrosao estudo e compreenso de uma realidade cujas especificidades transcen-dem a relao centro-periferia que tradicionalmente tm dirigido a produo
intelectual?
Globalizao, mundializao, modernidadeGlobalizao, mundializao, modernidadeGlobalizao, mundializao, modernidadeGlobalizao, mundializao, modernidadeGlobalizao, mundializao, modernidade
Na esfera cultural, tal reflexo importante e ganha matizes especficos,principalmente quando consideramos que o processo de globalizao/mun-dializao que vivemos atualmente relativizou o papel e o alcance da ao doEstado-nacional bem como a eficcia dos conceitos de nao e identidadenacional para explicar de uma maneira cabal a realidade de cada pas. Coma radicalizao, durante as ltimas duas dcadas do sculo XX, das transfor-maes globais experimentadas a partir dos anos 1950, outros elementospassaram inevitavelmente a atrair a ateno dos estudiosos da rea. Entreuma perspectiva exageradamente fatalista sobre os efeitos da globalizao
econmica na poltica e na cultura nacionais e a reivindicao fundamentalis-ta das formaes identitrias locais para combat-la, surgiu na Amrica Lati-na uma gama muito grande de vises sobre o tema. Nesse sentido, se nopodemos falar em uma escola de pensamento latino-americana, nos mes-mos moldes que os defensores da teoria da dependncia reivindicam, possvel observar um intercmbio e uma colaborao importantes entre dife-rentes autores, portadores de diversas concepes terias e provenientes devrios pases do continente, o que faz com que possamos afirmar que, nombito dos estudos da cultura, pensa-se de uma maneira mais sistemticasobre a Amrica Latina na Amrica Latina11.
10As duas citaes se encontram na Memria de Ruy Mauro Marini.11Enumerar os principais autores preocupados com a questo cultural resultaria numa lista
extensa. De qualquer maneira, entre os nomes que no podem faltar esto, entre outros, os deNstor Garca Canclini, Beatriz Sarlo, Renato Ortiz, Octavio Ianni, Silviano Santiago, HelosaBuarque de Hollanda, Hugo Achgar, Jess Martn-Barbero, Martn Hopenhayn, Carlos Mon-sivais e Nelly Richards.
-
5/26/2018 america latina.pdf
11/17
29Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
Uma contribuio interessante para se examinar a do brasileiro RenatoOrtiz que, a exemplo de outros estudiosos latino-americanos, dedicou-se anlise da globalizao especificamente no plano da cultura. O percurso inte-lectual do autor perfaz uma linha de continuidade que de certa maneira expli-ca e justifica suas obras mais recentes. Depois de haver trabalhado temas decultura afro-brasileira e popular nos anos setenta, Ortiz se dedicou ao temada identidade nacional e, para isso, teve que trilhar o caminho da histriaintelectual e da sociologia da cultura, ao examinar alguns dos construtoresda cultura nacional brasileira. Em Cultura brasileira & identidade nacional(1985), podemos ver como a definio do nacional por representantes dossetores sociais vinculados ao Estado passa por uma contnua reinterpretaodo popular12.
Em A moderna tradio brasileira (1988) Ortiz observa que, a partir
dos anos setenta, com a consolidao do capitalismo em uma fase mais avanadano Brasil, os temas da identidade nacional e da cultura popular aparecemfatalmente em um novo contexto, o do desenvolvimento galopante da inds-tria cultural, que gerou mudanas estruturais na forma de organizao e dis-tribuio da cultura no pas. Os novos padres de consumo, a massificao,a ingerncia ideolgica da televiso fizeram com que a questo da identidadepassasse pela questo mercadolgica. A cultura nacional passou a ser mais emais influenciada pelo mercado e o consumo. No podemos esquecer que aimplantao da indstria cultural no Brasil se deu nos anos setenta, sob osmilitares, para os quais era estratgico o controle nacional (por isso, o esta-belecimento de redes de comunicao nacionais capazes de abranger todo opas, mantidas sob o estrito controle do Estado). O curioso foi que, se aindstria cultural obedeceu aos propsitos dos militares de conquistar uma
unidade nacional, o fez financiada com capital internacional (e todos os seusprodutos culturais passaram a ser massivamente consumidos). Com o estu-do de Ortiz, pode-se dizer que a moderna tradio brasileira se construiu apartir do contraponto entre o que o autor define, respectivamente, comonacional-popular e internacional-popular, permeados, ambos, pelo poderdo mercado. Nesse contexto, Mundializao e cultura (1994) um livrointeressante, justamente por trabalhar a temtica da indstria cultural no m-bito do que autor entende por mundializao, discutindo, entre outras questes,as implicaes da relao entre cultura e mercado e entre cultura e poder.
Segundo Ortiz, o processo de globalizao no equivalente ao de ho-mogeneizao do planeta. Por isso til distinguir entre globalizao da eco-
12So particularmente interessantes as anlises que Ortiz realiza sobre trs autores precur-sores das cincias sociais no Brasil (Slvio Romero, Euclides da Cunha e Nina Rodrigues) e sobreo ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), o grande brao ideolgico do nacional-desenvolvimentismo brasileiro.
-
5/26/2018 america latina.pdf
12/17
30 Regina Crespo
nomia e da tecnologia e mundializao da cultura (2002:106). Se a economiae a tecnologia podem ser consideradas globais (j que so regidas por indica-dores e procedimentos comuns, o que lhes d uma certa unicidade), no sepode dizer o mesmo da cultura. O seu processo de mundializao no impli-ca necessariamente o aniquilamento de outras manifestaes culturais, aocontrrio convive e se alimenta delas (1994:27). Para Ortiz, a mundializaodeve ser entendida como um processo que se reproduz e se desfaz incessan-temente no contexto das disputas e aspiraes divididas pelos atores sociais,mas que tem uma dimenso abrangente, englobando outras formas de orga-nizao social: comunidades, etnias e naes. O processo de mundializao um fenmeno social total que permeia o conjunto das manifestaes cultu-rais. Para existir, ele deve se localizar, enraizar-se nas prticas cotidianas doshomens, sem o que seria uma expresso abstrata das relaes sociais
(1994:30).Ortiz nos recorda que, historicamente, uma civilizao incorporava v-
rios povos, mas se confinava a uma rea geogrfica determinada. J umacultura mundializada corresponde a uma civilizao cuja territorialidade seglobalizou. Mas isso no significa dizer, vale repetir, que o trao comum sejasinnimo de homogeneidade (1994:31). De fato, um mundo globalizado im-plica uma multiplicidade de vises de mundo. Para o pesquisador brasileiro, oque se observa na realidade a consolidao de uma matriz civilizadora, amodernidade-mundo, que em cada pas se atualiza e se diversifica em funode sua histria particular.
Em Ortiz, a modernidade-mundo, traduzida em globalizao/mundia-lizao -conjuno necessria entre globalizao econmica e tecnolgica emundializao da cultura- simultaneamente una e distinta. Como matriz
civilizadora tem um alcance planetrio, no entanto, chega e se atualiza demaneira diversa em cada pas ou formao social especfica. Nesse contex-to, se devido ao carter planetrio do fennemo no tem sentido falar em umamodernidade japonesa, europia ou latino-americana, tampouco se deve per-der de vista as especificidades da modernidade no Japo, na Europa e naAmrica Latina. O modelo explicativo de Ortiz interessante por separar aesfera cultural das esferas econmica e poltica, sem esquecer, porm, queno se pode pensar no processo de mundializao da cultura, sem considerarexatamente o papel que a globalizao econmica e tecnolgica desempenhapara que tal processo se d. interessante, tambm, por abrir o debate acer-ca dos parmetros que interferem na consolidao da modernidade-mundocomo matriz civilizadora.
aqui que a contribuio de outros autores latino-americanos ao temadeve ser analisada. Que parmetros operam para a consolidao de tal matrizcivilizadora, quando esta analisada a partir de um lugar especfico, a Am-
-
5/26/2018 america latina.pdf
13/17
31Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
rica Latina? Em primeiro lugar, no podemos esquecer a importncia do mar-co poltico, econmico e cultural que influencia -quando no condiciona- ascorrentes de pensamento em seus exerccios de reflexo. E, em segundolugar, necessrio relembrar que a produo intelectual latino-americana temsido marcada, historicamente, por seu dilogo com a produo europia enorte-americana e, mais que isso, vale repetir, pela necessidade de seus re-presentantes de encontrar um lugar para si, seus pases e seu prprio con-tinente no mbito do que sempre se costumou definir como civilizao oci-dental e que, hoje em dia, muitos denominam simplesmente sociedade glo-balizada.
Alm de Renato Ortiz, analisemos a contribuio de outro brasileiro discusso. Octavio Ianni dedicou a ltima parte de sua prolfica obra ao estu-do de temas relacionados globalizao. Para isso, seu primeiro passo foi
entender o lugar especfico do Brasil e da Amrica Latina na dinmica socialcontempornea e no ciclo atual do capitalismo. Ao analisar as transformaeseconmicas, polticas, sociais e culturais de um pas caracterizado por unprofundo desequilbrio social y poltico como o Brasil, Ianni (1992) observouque, ao tentar transform-lo em um pas moderno, os grupos de poder quesempre o dominaram conquistaram um sucesso econmico significativo que,no entanto, no representou nenhuma conquista poltica, social ou culturalpara a maioria da populao. Para compreender seu pas, Ianni criou umaimagem poderosa. Segundo ele, o Brasil continua sendo um vasto continentedisperso num grande arquiplago, construdo sobre un caleidoscpio de di-versidades e desigualdades regionais, tnicas, culturais, sociais e econmi-cas. Essa imagem veio a associar-se sua idia da Amrica Latina como umlabirinto (1997).
Qual o lugar da Amrica Latina, sua cultura, sua evoluo poltica, econ-mica e social, no mundo moderno? Para Ianni, o continente continua vivendoum processo de ocidentalizao (que poderamos tomar como sinnimo damundializao de Ortiz), orientado pelas dicotomias entre nacionalismo ecosmopolitismo, tirania y democracia, capitalismo e socialismo. Segundoele (1997:102), o jogo das foras econmicas, polticas e militares emescala mundial ameaa as condies de independncia e soberania do Es-tado nacional nos pases latino-americanos, devido em grande medida scontradies existentes entre a ao do Estado nacional nesses pases eas alianas econmicas e polticas entre as grandes corporaes multina-cionais e os principais grupos econmicos regionais. Em outras palavras,poderamos pensar que, para Ianni, o Brasil e a Amrica Latina se inte-gram, sim, globalizao econmica mas o fazem a partir de uma posiosubordinada, reforada precisamente pela intensidade das suas prprias con-tradies internas.
-
5/26/2018 america latina.pdf
14/17
32 Regina Crespo
A viso de Ianni sobre o Brasil e a Amrica Latina se insere de maneiraclara em seus estudos sobre o mundo moderno e a globalizao13. Neles, oautor analiza criticamente as transformaes que a globalizao est impondoao mundo e revela as tenses que gera no s nas sociedades nacionais comotambm nos modos de vida e pensamento de indivduos e coletividades. As-sumindo o ponto de vista da totalidade, Ianni no se limita a refletir sobre osefeitos econmicos e polticos da globalizao, mas busca compreend-losde uma maneira integrada com o mbito fundamental da cultura. Para ele, ofenmeno da globalizao configura uma ruptura histrica de amplo alcance,que destri e simultaneamente recria o mapa do mundo, inaugurando outrosprocessos, estruturas e formas de sociabilidade. Segundo Ianni, pelas trans-formaes que implica, a globalizao um processo simultaneamente econ-mico, financeiro, tecnolgico e cultural. As instituies, a mdia, a produo
cultural de alguma maneira se internacionalizam. Os territrios e fronteiras,os regimes polticos e os estilos de vida parecem mesclar-se, tensionar-se eencaminhar-se a outras direes e possibilidades.
No entanto, Ianni nunca perde de vista que, nesse novo ciclo do capita-lismo, ainda que as corporaes transnacionais, assessoradas direta ou indi-retamente por organizaes como o FMI, o Banco Mundial e a OMC, tenhamum papel fundamental, os atores principais continuam sendo as grandes po-tncias, que organizam o sistema global e interferem de uma forma ou outraem todo o mundo14.
Ianni detecta un movimento de mobilizao contra esse processo, noseio das classes trabalhadoras e entre os setores sociais politicamente alter-nativos. Os protestos multitudinrios contra a ao das grandes potncias edos rgos controladores da economia global e a criao do Frum Social de
Porto Alegre, por exemplo, demonstram que vem surgindo, em termos mun-diais, uma conscincia acerca do que representa a globalizao como ummovimento imposto de cima para baixo, de acordo com os princpios doneoliberalismo e os interesses dos setores dominantes em escala mundial. Seo autor no se ilude, j que v a globalizao como uma realidade geopoltica,histrica, social, econmica e cultural que necessitamos enfrentar, no deixao otimismo de lado, ao observar que ainda que seja uma realidade problem-tica, tambm inquietante e fascinante, com muitas implicaes prticas etericas.
13Teorias de la globalizacin (1996); La sociedad global (1998); La era del globalismo.(1999) e Enigmas de la modernidad-mundo(2002).
14Nesse sentido, no podemos deixar de observar que, se como o autor afirmou, um dosefeitos da globalizao vem a ser precisamente o debilitamento do Estado nacional nos pasesda Amrica Latina, o mesmo no acontece com os pases do chamado Primeiro mundo.
Neles, apesar das avaliaes contrrias feitas pelo prprio Ianni posteriormente, o Estadonacional continua poderoso.
-
5/26/2018 america latina.pdf
15/17
33Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
O carter indubitavelmente fascinante da modernidade-mundo paraaqueles que refletem sobre ela tem que ser tomado em conta, porm, comum certo cuidado, para evitar a elaborao de vises exageradamente otimis-tas dessa, nas palavras do prprio Ianni, nova etapa do capitalismo, que noscoube viver. Vejamos, em Al sur de la modernidad-ttulo significativo queJess Martn-Barbero escolheu para a sua coletnea de ensaios sobre as re-laes entre globalizao, comunicao e multiculturalidade na Amrica Lati-na-, observamos como o lugar a partir do qual se examinam tais fenme-nos fundamental para a sua compreenso. O irnico ttulo de seu trabalhonos leva a concluir que a Amrica Latina se distingue e se distancia da moder-nidade tradicional (com perdo do paradoxo). De fato, Martn-Barberoobserva como o advento e desenvolvimento da modernidade na Amrica La-tina no se associa, como na Europa, com as doutrinas ilustradas e as estti-
cas letradas. Aqui, resulta muito mais da massificao da escola e da ex-panso da indstria cultural e, por tanto, vincula-se conformao de ummercado cultural em que as fontes de produo da cultura passam dadinmica das comunidades ou da autoridade da igreja lgica da indstriae dos aparatos especializados, que substituem as formas tradicionais deviver pelos estilos de vida conformados a partir da publicidade e do con-sumo, secularizam e internacionalizam os mundos simblicos e segmen-tam o povo em pblicos construdos pelo mercado (Martn-Barbero,2001:187).
Como sabemos, a indstria cultural, devido sua volatilidade e rupturaque estabelece entre opostos tradicionais (nacional versusestrangeiro, popu-lar versuserudito), adquire autonomia e coloca em xeque o poder dos Esta-dos nacionais em sua orientao, conduo e capacidade de abrangncia e,
principalmente, coloca em xeque a dicotomia entre centro e periferia, quefuncionou como principal baliza explicativa das relaes internacionais, antesdo avassalador predomnio da globalizao/mundializao.
Pelo que nos indicam textos como o de Martn-Barbero, parece que, aosul da modernidade, a indstria cultural se consolida como a condutoraprincipal do processo modernidade-mundo, alm de firmar-se ali como agrande executora da mundializao da cultura. No entanto, a indstria cul-tural, ao substituir as formas tradicionais de viver por hbitos de consumo eao secularizar e internacionalizar os mundos simblicos segmentando o povoem camadas de pblico consumidor, no parece, a princpio, oferecer gran-des argumentos de defesa aos que no pretendem v-la de maneira apocalp-tica (para usar a tradicional classificao de Umberto Eco). E menos, seconsideramos que, segundo Ianni, este setor produtivo altamente rentvel,alm de produtos, oferece mensagens, frmulas, ideais e valores que re-foram a ao civilizadora do capital, ao defender a liberdade econmica
-
5/26/2018 america latina.pdf
16/17
34 Regina Crespo
como fundamento da liberdade poltica e o padro de consumo das econo-mas capitalistas como smbolo de progreso (Ianni, 1997:116).
Se, como afirma Ortiz, um mundo globalizado implica uma multiplicida-de de vises de mundo, importante entender se, e de que maneira, a inds-tria cultural, o seu principal agente na Amrica Latina, ilustra essa afirmao.Mais que isso, porm, importante observar como a preocupao de Martn-Barbero em estudar o fenmeno a partir da Amrica Latina, um lugar geogr-fica, poltica, econmica e simbolicamente delimitado -e perifrico- reco-loca em discusso o alcance analtico e explicativo dos velhos conceitos queorganizaram as discusses e vises de mundo dos intelectuais latino-ameri-canos desde o sculo XIX.
Em seu ensaio Amrica Latina. De la modernidad incompleta a la mo-dernidad-mundo (2000), Ortiz busca justamente entender a problemtica
latino-americana. Por isso, realiza uma detalhada retrospectiva histrica, naqual analisa como os intelectuais latino-americanos (brasileiros e hispanos)construram suas vises e projetos continentais e estuda a insero descom-passada da Amrica Latina no processo de globalizao/ mundializao. Aglobalizao econmica, ao gerar outros processos de identidade que coloca-ram em segundo plano a identidade nacional, fez da desterritorializao umelemento poderoso e diminuiu a importncia do Estado nacional na AmricaLatina, como o grande condutor de projetos coletivos. Essa defasagem nooferece aos pases latino-americanos uma posio consistente em um con-texto mundial como o da modernidade-mundo, fundamentado, precisa-mente, em diferenas e desigualdades.
Como podemos ver, conceitos como nao, identidade nacional e Esta-do-nacional, com todos os senes que automaticamente suscitam, podem
funcionar e de fato funcionam, ainda hoje, como balizas de reflexo impor-tantes, quando se pensa em globalizao/mundializao, particularmenteem termos do nosso subcontinente. Para pensar sobre a mundializao dacultura acoplada globalizao econmico-tecnolgica, no se pode descon-siderar o lugar de onde se pensa. Numa cultura mundializada, em que asdiferenas plasmam novas maneiras de produzir e consumir cultura e em queo lugar reservado ao extico j no o mesmo que lhe foi destinado duran-te a chamada fase imperialista do capitalismo, o espao ocupado pelo localainda muito importante. A reivindicao das identidades locais leva ao re-foramento, ainda que recontextualizado, dos conceitos mencionados.
Bibliografa citadaBibliografa citadaBibliografa citadaBibliografa citadaBibliografa citada
Bonfim, Manoel. Amrica Latina. Males de origem (1 ed. 1905). Rio deJaneiro Topbooks, 1993.
-
5/26/2018 america latina.pdf
17/17
35Vises de brasileiros sobre a Amrica Latina
Capelato, Maria Helena. O gigante brasileirona Amrica Latina: ser ou noser latino-americano. Em: Mota, Carlos Guilerme (org.) Viagem incom-pleta. A experincia brasileira (1500-2000). A grande transao. SoPaulo, SESC/SENAC, 2000, pp. 285-316.
Ianni, Octavio.A idia de Brasil moderno. So Paulo, Brasiliense, 1992.Ianni, Octavio.El laberinto latinoamericano. Mxico, UNAM, Facultad de
Ciencias Polticas y Sociales, 1997.Ianni, Octavio.La sociedad global. Mxico, Siglo XXI, 1998.Ianni, Octavio. Teorias de la globalizacion.Mxico, Siglo XXI, 1996.Ianni, Octavio.La era del globalismo.Mxico, Siglo XXI, 1999.Ianni, Octavio.Enigmas de la modernidad-mundo. Mxico, Siglo XXI, 2002.Maritegui, Jos Carlos. Siete ensayos de interpretacin de la realidad perua-
na. (1. ed. 1928). Mxico, Era, 1979.Martn;Barbero, Jess. Al sur de la modernidad. Comunicacin, globaliza-
cin y multiculturalidad. Instituto Internacional de Literatura Iberoameri-cana, University of Pittsburgh, 2001.Ortiz, Renato.A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Rio de Janeiro, Vozes,
1978.Ortiz, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. So Paulo, Brasi-
liense, 1985.Ortiz, Renato.A Moderna Tradio Brasileira: Cultura Brasileira e Inds-
tria Cultural. So Paulo, Brasiliense, 1988.Ortiz, Renato.Mundializao e cultura. So Paulo, Brasiliense, 1994.Ortiz, Renato. Amrica Latina. De la modernidad incompleta a la moderni-
dad-mundo. Em:Nueva Sociedad 166, 2000, pp. 44-61.Ortiz, Renato. Em: Altamirano, Carlos (org.) Trminos crticos para uma
sociologa de la cultura. Barcelona, Paids, 2002.Prado, Eduardo.A iluso americana, 2. ed., Pars, Armand Colin, 1895.
Santos, Theotnio dos. La teora de la dependencia. Balances y perspecti-vas. Mxico, Plaza y Jans, 2002.Vasconcelos, Jos.La raza csmica. Misin de la raza iberoamericana (1.
ed. 1925), 16. ed. Mxico, Espasa-Calpe, 1992.
Pgina web:Pgina web:Pgina web:Pgina web:Pgina web:
www.marini-escritos.unam.mx/ Pgina dedicada a difundir a obra do escri-tor latino-americanista Ruy Mauro Marini.





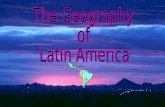

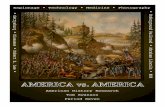








![America - America [PVG Book]](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/577d354a1a28ab3a6b9006fc/america-america-pvg-book.jpg)



