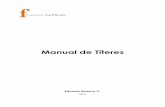3116-7269-1-PB
-
Upload
manoelnascimento -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of 3116-7269-1-PB
-
CIDADE IDEAL,IMAGINAO E REALIDADE
o inferno dos vivos no algo queser: se existe, aquele quej est aqui, ()infrno no qual vivemos lOdos os dias, queformamos estando juntos. Existem duasmaneiras de no sofrer. A primeira fcilpara a maioria das pessoas: aceitar oi'?ferno e lOrnar-se parte deste at o pontode deixar de perceb-Ia. A segunda arrts~ada e exige ateno e aprendizagemcontmuas: saber reconhecer q.ueme o que,no metO do Injerno, no e inferno, epreserv-Ia, e abrir espao.
De Marco Polo para Kublai Khan. In AsCidades Invisveis de Haia Calvina.
Arquiteto doutorando, professor daFaculdade e do Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo da UFBa
Como a forma urbana envolvemltiplas leituras e entendimen-tos, seu aprofundamento requer nexose vnculos com as noes de espao-tempo, espao-forma. estruturasuperficial e profunda da forma, nveis eescalas de tratamento, elementos eatributos bsicos, etc. Tais conceitos-chave fundamentam a idiade realidadebem como o sentido do termo cidade.inexistindo como conceitos descoladosda histria das coisas construdas peloshomens e sua viso do mundo ideal ereal.
claro que, independente de epoca.tempo de durao como de existncia emesmo de uma dimenso (escala),qualquer cidade desempenha funes;dito de outro modo, possui um papel.Na viso de Rolnik, cidade "centro eexpresso de domnio sobre umterritrio, sede do poder e daadministrao, lugar da produo demitos e smbolos" (1988:8), quando,ento, questiona: .....no estariamestascaractersticas ainda presentes nasmetrpoles contemporneas? Cidadesda era eletrnica, no seriam suas
o artigo trata da questo da cidadeideal versus a cidade real, mapeandosinteticamente as razes histricas daimaginao utpica no urbanismo, comouma tentativa de superao do presentedefeituoso. Critica a noo do futuroperfeito imbricada nas vertentes tericas dourbanismo moderno,seus paradoxos edilemas na contemporaneidade, em especialpela perda do sentido social na produomaterial da cidade e nas posturasassentadas na iluso e na alienaoprojetual como discursos legitimadores doefmero na cidade do consumo. Postulatornar o invisvel em visvel, de modo adesvelar as articulaes entre a imaginaoe a realidade concreta.
-
rorres brilhantes de vidro e metal os centros de decisodos destinos do Estado, pas ou planeta? No seriam seusoutdoors, vitrinas e telas de TV os templos dos novosdeuses? Certo, no h mais muralhas; ao contrrio dacidade antiga, a metrpole contempornea se estende aoinfinito, [...]" (Rolnik, ibidem.)
A idia de centro de domnio sobre um territrioparece se ajustar a qualquer tipo de cidade - religiosa, militar,comercial. industrial. etc. - e perpassa as mais diversasmanifestaes de poca - culturais, econmicas, polticas -,sempre delimitando uma certa relao entre homem enatureza, na sua dimenso espacial, de modo a realizar o"domnio sobre um territrio". De Babei a Braslia, ou seja,da utopia realidade, a cidade sempre est expressando umpapel de domnio que, em ltima instncia, reflete umcontexto que perpassa tanto o campo real como o imaginrio.
O que distingue, ento, uma cidade ideal de uma cidadereal? Como surge a necessidade de se pensar uma cidadeideal? Para qu? Com que propsito?
plausvel admitir que a cidade ideal, como umamanifestao utpica, tem razes num trao que caracteriza ahumanidade: a decepo com o presente defeituoso, do qualemergem os impulsos de repensar o existente, o real vivido,ancorados no desejo de que algo ainda inexistente possa vir ase realizar. O presente defeituoso a ser substitudo por umfuturo perfeito tem sido o mote inspirador da imaginaoutpica, at mesmo quando re~ressiva no sentido de umretorno a um mundo perdido (o Eden?).
Utopia vem do grego e, literalmente, significa a negaodo topos (lugar), ou seja, u-topia = lugar nenhum. Nestesentido a cidade ideal pode ser aqui tomada como uma utopia,no sentido empregado por Thomas Morus (1516), que criouo termo - a rigor um neologismo - para nomear a sua cidadeimaginria.
Como Morus tinha em mente uma crtica social suapoca, inspirado no humanismo renascentista, o que postulavamesmo era uma nova ordem baseada num projeto desociedade ideal, perfeita. Por outro lado, credita-se a Platoa formulao mais antiga de uma plis ideal, quando descrevea Cidade dos Homens na sua obraA Repblica. Esta obra, aolado de outras duas, As Leis e Critias, fundamenta um idealutpico instaurador dos gennes daquilo que a modernidadevai incorporar sob a forma do Estado e da Constituio.
A viso platnica, no fundo, materializa "um dos sonhosmais antigos do homem. situado na base da imaginaoutpica: o de habitar uma cidade peifeita. Uma cidade. eno uma casa e, muito menos, um pas ou uma nao"(Coelho, 1980:21).
Tanto Plato (sculo IV, a.e.) como depois Morus (sculoXVI, d.e.) imaginam uma cidade ideal, perfeita, fazendocontraponto com a realidade imperfeita que contestavam.
Como no eram revolucionrios, na verdade ancoraram seuspensamentos em sentimentos morais, cuja interiorizaoadviriade convices ntimas impulsionando a todos a no praticaremo mal, transformando a cidade num espao de bons, justos efraternos cidados.
Da excessiva ateno ordem, leia-se ordenamento dasociedade, derivam os germes da cidade ideal dosinstauradores do pensamento utpico - Plato e Morus - que.por certo, vo justificar depois, na modernidade. aracionalizao da vida urbana, cujo ordenamento opressuposto basilar e fonte de inspirao do que seja umacidade igualitria, justa, perfeita. Exceo, claro, para osescravos, ainda admitidos por Morus.
A justia na cidade ideal, utpica, sempre algo queinteressa ao Estado e pouco diz respeito ao indivduo, e, sejacomo discusso filosfica (Plato), obra literria (Morus) oumodelo espacial moderno (Le Corbusier), a preocupaocentral estar na ordem e no controle social, de modo a seevitar a conturbao, a anarquia, a revoluo ("Arquiteturaou revoluo", j dizia Le Corbusier).
Assim, a cidade ideal aparece historicamente comosuperao da cidade real, cheia de equvocos e erros de toda
-
ordem, incorporando uma espcie de viso maniquesta demundo, reduzindo a realidade a uma condio aualista entrealgo ideal (o bem) e algo real (o mal).
Sobre a utopia como forma de repensar a realidade,Coelho (op. cit.) observa, com base em Karl Manheim, vriostipos de mentalidade utopista, cujos programas especficostendem a se organizar em torno de algum eixo estrutural,identificando quatro tipos bsicos:
a) aquele que produz os movimentos messinicos,marcados pelo fanatismo religioso, no se propondo apromover qualquer revoluo social, mas a busca deexperincias msticas e espirituais, baseadas na crena e naf dos indivduos;
b) aquele baseado na presena dos ideais Iiberal-humanitrios. Em geral postulam um futuro indefinido elimitam-se a redefinir meros dispositivos de regulao econtrole das relaes mundanas. Tal como o primeiro tipo,possui um trao conservador (a exemplo da Utopia de Morus);
c) o terceiro, caracterizado pela harmonia com a situaoexistente, em que prevalece a mentalidade do aqui e agoravoltada para aperfeioar o sistema social vigente. Aponta-seo Leviat de Thomas Hobbes (sculo XVIII) como exemploparadigmtico de apologia sociedade de mercado emergentena Europa;
d) o ltimo, aquele representado pelo programa socialista-comunista, radicalizando a utopia liberal-humanitria, nosentido de um futuro historicamente determinado pelasuperao do capitalismo.
O quadro sinttico acima vai indicar que as utopias dosculo XIX de algum modo resultam de um longo processo,cuja gnese se d a partir dos sculos XVI e XVII, quando amentalidade utopista liberal vai ser ultrapassada pela visoutopista revolucionria instaurada no sculo XVIII,aprofundada depois, na prtica, por revolues propriamenteditas.
Assim como o pensamento utpico evoluiu para umaconcepo de socialismo cientfico, tambm o urbanismo,seguindo a trilha, vai pretender instaurar um urbanismocientfico, no qual o ordenamento espacial baseado numsistema de valores apoiado na razo, voltada para um homem-tipo universal, vai constituir-se um dos mitos da sociedadeindustrial emergente no sculo XIX.
Um novo modo de existir emerge da transformao dascidades europias, impactadas pelos meios de produo epela inovao tecnolgica dos transportes, determinando aapario de novas funes urbanas. Sua teorizao, assentadaem diferentes vises de mundo, baliza aquelas duasconcepes modernas de cidade ideal denominadas porChoay (1965), em sua antologia, de vertentes progressista eculturalista (alm da sem-modelo). Desde o pr-urbanismoso institudas as condies seminais de uma nova disciplina
com pretenses de imaginar cientificamente a cidade moderna:o urbanismo.
O que os autores progressistas tm em comum umacerta concepo de homem e de razo subjacente ssuas propostas de cidade ideal. A noo de um homemperfeito equivale idia de indivduo-tipo - queindepende das contingncias, dos lugares e do tempo aque pertence -, possibilitando a identificao dasnecessidades-tipo, deduzidas cientificamcnte comoverdades absolutas.
Na viso progressista de mundo. a Revoluo Industrial uma fora motriz e. como acontecimento histrico, deve sera propulsora do desenvolvimento humano capaz de promovero bem-estar. Tais premissas ideolgicas vo alavancar opensamento utpico, assim problematizadas por Considrant:"Dado um homem. com suas necessidades. seus gostos esuas inclinaes natas. determinar as condies do sistemade construo mais apropriado sua natureza" (citado porChoay, op. cit.:21).
Na forma do espao progressista predomina o campoaberto, cheio de "vazios" e muito verde, numa espcie deresposta higienista cidade real, catica, amontoada deconstrues. Do fillanstrio de Fourier. da Icria de Cabet Hygia de Richardson, o espao verde como envoltrio dasedificaes marca a relao homem-natureza, em que osmbolo de progresso se expressa pelo domnio do ar, da luz eda gua, depois reapropriados por Le Corbusier, Wright,Gropius e outros como "meios" que devem ser igualmentedistribudos entre todos.
-
A preciso e o detalhe revelam no apenas a importnciaesttica na impresso visual (perspectivada) como tambmcena rigidez construtiva que erradica possibilidades deimprovisos ou variantes na adaptao dos modelos. Ahabitao estandardizada, e a preocupao com tipos ideaisalcana a escola (Owen), o hospital e a lavanderia(Richardson), sendo que "a primeira coisa de que temos decuidar a moradia" (Proudhon), instituindo o germe dapreocupao moderna com os programas sociais voltados paraa reproduo da fora de trabalho na cidade industrial.
Ao contrrio da cidade real antiga, compacta, o espaoprogressista concebido atomizado. " ...na maioria dos casos,os bairros, comuna~ ouialanges so auto-suficientes epodemser justapostos indefinidamente, sem que sua conjunoproduza uma entidade de natureza diferente [00'] Ume,
-
previsto, esgotando-se no campo das fantasias as bem-intencionadas concepes dos socialistas utpicos. A vontadede transformao estrutural, revolucionria, preenche a noode projeto.
A materializao da utopia - embora enfraquecida nacontemporaneidade - tem exercido historicamente umamotivao que estimula a imaginao de propostas visandotransformar a realidade, no como uma falsidade ou algoirrealizvel e em contradio com a realidade, mas comouma hiptese apontando um deslocamento de sua tnica, ouseja, a "passagem da Utopia na direo da Eutopia"(Coelho, op. cit.:94). A no o modelo o que importa, mas,sim, entender que a realidade no homognea, equilibradae harmnica; muito pelo contrrio, plural e multiforme,sendo o prprio projeto originrio da tradio utpica tambmimperfeito, carecendo de outro que o corrija, e outro, e maisoutro, mesmo quando as distopias proliferam por todos oslados. O princpio, j assinalado por Freud " o do prazerque domina o aparelho psquico desde o momento inicialdo indivduo" (Coelho, op. cito:97), e sequer preciso elaborar"um clculo do prazer" (Fourier) para a admisso de queno se trata de um vcio o desejo das coisas.
Neste vis o projeto - enquanto desejo - sempre umacoisa que adquire diferentes estatutos face intencional idadehumana e, tal como a realidade, assume diversas formas,conforme a conscincia do sujeito frente aos objetos. A rigorno se pode falar de uma realidade, mas de realidades, cujapluralidade decorre de ser o homem um ser no passivo, postoque ele o prprio construtor do mundo, edificador da suarealidade. Atravs das cincias, filosofia, arte e religio, quetambm possuem suas verdades e estatutos legitimadores, ohomem comunica-se, relaciona-se com o mundo. Portanto aidia de homem uno, indivisvel, uma representao, no real.
De certo modo, no existe um mundo em si, mas simuma multiplicidade de mundos criados a partir da condiohumana, conforme os pontos de vista dos sujeitos. Logo, averdade algo relativo construo de cada saber especfico,intermediada pelo meio simblico criado pela linguagem,atravs da palavra na construo dos conceitos.
Ento desvelar a cidade real implica uma conscincia salcanvel quando se vai alm da viso primeira, imediatista,circunscrita a um universo de significao mediatizado pelapr-noo, pelo preconceito - ou seja, aquilo que antecede osconceitos propriamente ditos. O real sempre produto deum jogo entre a material idade do mundo e os limites designificao (da linguagem) utilizados para referenci-10, tanto envolve a conscincia (social) como oinconsciente (do indivduo).
Tal condio, inerente a qualquer rea do saber, demarcaa impossibilidade de as cincias humanas serem exatas e
previsveis, sobretudo quando se sabe que os cientistas voconstruindoa realidade cientfica em vises compartimentadaspor reas ou campos de atuao, cuja totalidade no dependeda soma ou justaposio das partes. A tendncia tem sidoacreditar na impossibilidade de construo de uma cincia queabranja todas as realidades, como um todo uno e indivisvel,baseada em leis frreas e teorias que abriguem tudo aquiloque existe. O real , portanto, um conceito humano mais afeito filosofia; no tarefa para cincias especficas ou artesparticularizadas, como acreditavam os primeiros utopistas ealguns adeptos da Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffi. 1970).
A esta altura pode-se inferir como inadequado separar - ano ser para fins didticos, tal como se faz com a forma eseus elementos - as noes de sujeito, mtodo e objeto, noprocesso de apreenso, anlise crtica e projetao da cidade.Ademais os mtodos gerais disponveis - axiomticos,hipottico-dedutivos, indutivos, dialticos, anlise-sntese.experimentais ou hermenuticos - no inviabilizam por si aspossibilidades heursticas de um mtodo aberto s descobertasao longo de um trabalho intelectual qualquer.
Feyerabend (1974) tem sido um dos crticos implacveisno que se refere ao papel tradicional do mtodo na fonnulaodas tcnicas cientficas, na medida em que a cincia descaltaa intuio e a ocorrncia do acaso como fatores importantese qui preponderantes no surgimento de novas teorias. Aseu ver, a descoberta das teorias um processo criativo, emque somente a posteriori se d, de fi:no,uma formalizao/explicitao do mtodo. visando sistematizao efundamentao da teoria. O que dizer do projeto?
Como decorrncia, a metodologia enquanto o estudo dosmtodos apenas mobiliza, a rigor, nos diversos campos dosaber, os fundamentos e a validade do corpo terico que ajudaa descrever e/ou explicar um objeto. bvio que, nas etapasde anlise, substancialmente mais clara a recorrncia amtodos j experimentados; entretanto, no campo daproposio, do ato projetual propriamente dito, como exerccioda imaginao criadora, sempre dbia a passagem entre ateoria que explica o objeto e a construo imaginria de umaforma urbana expressa num vir-a-ser. Esta condio admiteparadoxos entre sujeito, mtodo e objeto, que transcendem ocampo racional e tangenciam outras dimenses do processocriativo, antes restrito aos procedimentos nas artes e,contemporaneamente, tido como afeito a qualquer tipo desaber. Criatividade algo indispensvel reconstruo dasleituras e olhares, ampliando a crtica da viso de mundo deuma poca, seja centrada naquilo que Marx chamouconscincia - no alienada -, seja naquilo que Foucault (1981)vai denominar episteme - que permeia os vrios saberes.
Pelo exposto, cidade ideal, imaginao e realidade de certomodo so conceitos indissociveis no pensamento do arquiteto-urbanista, tal como diz Argan: .'Todavia sempre existe uma
-
cidade ideal dentro ou sob a cidade real, distinta destacomo o mundo do pensamento o do mundo dos fatos.[...]A idia de cidade ideal est profundamente arraigadaem todos os perodos histricos. sendo inerente ao cartersacro anexo instituio e corifirmado pela contraposiorecorrente entre cidade metafsica ou celeste e cidadeterrena ou humana". (Argan, 1969:73.)
Do ponto de vista da forma, e como isto se processa naimaginao, a imagem da cidade modelo aparece semprerelacionada com aquelas culturas nas quais representao!imitao foi ou modo predominante de operao artstica,sempre concebida como imitao de um modelo, que tantopode ter como paradigma a natureza, as formas do passadoou de um futuro imaginrio, mesmo que remoto (nastecnotopias. p. ex.).
Neste vis. a forma urbana da cidade ideal aparecesempre como expresso representativa de valores,conceitos, atributos qualitativos. de uma ordem urbansticaque reflete uma ordemsocial que se contrape cidade real, explcita ouimplicitamente criticada erecodificada. Por outrolado, a forma urbana dacidade real tambm umaexpresso de valores.conceitos, atributos, etc.,s que, dialeticamente, asrelaes entre qualidadee quantidade, muito maisproporcionais e ajustadasno passado, so hoje,contemporaneamente.uma situao antittica.na qual est a base detoda a problemticaurbanstica ocidental(Argan, op. cit.:74).
Deste modo, amudana das quantidades(espaos, pessoas, fluxos)altera qualitativamente osatributos da forma noespao-tempo, coisa queevidentemente os mode-los de cidade ideal noconseguem superar, pois.na prtica,sempre possveldesenhare repetiro mesmo esquemanuma maior ou menor dimenso, transformando o modelonummdulo que se repete, sejaeleuma trama em xadrez, um esquemaradioconcntrico, uma estrutura fisica linear, estrelar, etc.
Certamente por isto, por se desconhecer a lgica entremltiplos e submltiplos formais, em que mudanas nasdimenses (escala) alteram a essncia, que proliferam vriosparadoxos entre qualidades e quantidades, imaginadas sem seatinar para seus graves desdobramentos no mundo real.Ademais a cidade real reflete as circunstncias contraditriasde um mundo no unitrio e fragmentado. comum s grandescidades, enquanto a cidade ideal imaginada em modelos emdulos, cuja compartimentao o que permite controlar assituaes - tipo laboratrio in vitro -, afastando as perturbaesoriundas do imprevisto, da aleatoriedade, da complexidade dosfatos em sua concretude mundana.
Ento pode-se acordar com Argan ao sintetizar: "Dizemos.portanto, que a farma o resultado de um processo. cujoponto de partida no a prpria/arma. A cidade no GESTALT mas GESTALTUNG. No entanto. sendobvio que a cidade uma construo e que o pontode partida de toda construo a construtibilidade.
antes de considerar acidade em relao acategorias estticas, preciso consider-Iaem relao s tcnicasque a tornam noapenas concebvel.mas projetada, e.portanto, logicamente,em relao aos procedi-mentos e s tcnicas doprojeto. " (Argan. op.cit.:75.)
Sem nunca esquecer, claro, que uma cidadeno se reduz a ser apenaso produto das tcnicas deconstruo e que o projetono pode tudo controlar.
Em sntese, a formaurbana se expressatambm pela aointencional do desenho.do desgnio, do projeto.mas apenas campointermdio entre oidealizado (ideal) e orealizvel (real), onde oato criativo, para no ser
alienado, no pode erradicar a razo em nome da imaginaoe vlce-versa.
Ora, mas a noo de forma urbana no processocomunicativo sempre algo indissocivel de um modo de
-
da arquitetura como algo esttico, no vis do espao absolutonewtoniano, em que o ordenamento vem da idiade no tenso,harmonia e equilbrio na ordem das coisas. Esta noo habitada pela esttica tradicional, idealista, ainda centrada nasvrias manifestaes culturais oriundas das artes plsticas oubelas-artes, e de pouca significao na contemporaneidade.
A volumetria isolada e perspectivada do Renascimentode certo modo est presente nos modernos (Ville Radieuse,Braslia) quando e rompida a narrao contnua do barrocoentre espao do edifIcio. da rua ou da praa, que criava umaidentidade entre urbanismo e arquitetura. Sobretudo nasconcepes (modernas) de cidade ideal, desdobradas nacidade real, os espaos externos aos edifcios na verdade soos espaos internos da prpria cidade. Entretanto, ao seremvistos como "coisas" descoladas da realidade do edifcio,mostram uma outra concepo de espao urbano: um "vazio"onde se dispem os edificios como objetos isolados, masordenados numa disposio tal que, em tudo e por tudo,favorecem os ngulos e perspectivas projetuais (renascentistas)que os valorizam, no pelo uso ou apropriao, mas pelacondio de representao esttica supostamente significante.
Neste sentido, a lgica da cidade real enquanto produosubmerge na lgica da cidade ideal imaginria a partir darepresentao perspectivada, que congela a forma de umespao absoluto e no alcana o espao-tempo relacional. Aa cidade ideal moderna. sobretudo naquela vertenteprogressista, tida como hegemnica e que prevaleceu noocidente como linguagem e expresso da modernidade, emverdade no incorporou um carter de material idadeadequado aos avanos do domnio do conhecimento sobre arealidade, posto que se limitou em demasia a um tipo derepresentao da forma geomtrica, sabidamente umarepresentao abstrata, em detrimento de um maior dom niosobre a(s) lgica(s) que preside(m) a construo do espaoconcreto da cidade como produto coletivo.
Limitando-se ao aperfeioamento da representao doespao-forma, mesmo quando dominando e incorporando otempo e os movimentos, as concepes de cidade ideal comoespao virtual so insuficientes para superar a noo platnicade espao como extenso, como vazio, como continuum, emcontraposio noo aristotlica - igualmente antiga - deespao como lugar, cuja significao deriva no apenas darepresentao, mas da interpretao, da teoria crtica,realimentada na prtica da cidade produzida materialmentepelo corpo social, no domnio do territrio-natureza comoespao adaptado relacionado cultura-natureza.
plausvel acordar que a interpretao espacial no uma interpretao especfica - poltica, social, cientfica, tcnica,fisiopsicolgica, musical, geomtrica ou formalista, tal comoclassificadas por Zevi (op. cit.) -, mas um tipo deinterpretao terica que no exclui qualquer uma delas, pois
na verdade necessita de todas elas na condio de crticacomplementar, indispensvel. E, mesmo concordando-se que,em arquitetura e urbanismo, os efeitos psicolgicos e os valoresformais so, de fato, inerentes material idade do espao,no demais repetir: toda interpretao terica do espao-forma que no pretenda ser apenas fenomnica, limitada srelaes de identidade ou de diferenciao provenientes dosefeitos e dos valores, deve incluir criticamente o sentido docontedo social intrnseco forma urbana, em qualquer escalaou nvel de abrangncia, do edifcio rua, do bairro metrpole, da cidade regio.
No se trata de um prolongamento mecnico do tipo:dada uma formao social, reproduz-se linearmente umaforma urbana, mas de se entender que arquitetos e urbanistas,como criadores de formas, objetos, espaos, se constituemeles mesmos "uma pane de seu tempo, de sua sociedade:provenientes de um sistema de formao" (Roncayolo.1988:44), podendo-se mesmo distinguir a forma material daforma contedo.
Da forma material. correspondente a uma organizaosocial, pode-se encontrar uma variedade infinita oumodalidades de existncia concreta de objetos; mas formacontedo se expressa pelas dimenses culturais, quepossibilitam a comunicao (formas-signos, formas-esquemas,formas-obras, formas-smbolos, etc.), mpiricamentearticuladas aos fatores de produo e reproduo da forade trabalho.
Tudo isto remete a uma complexidade na interpretaodo sentido do contedo social, pois deriva, em ltimainstncia, de uma reflexo mais emprica da forma urbanacomo forma materializada e como forma meio, que perpassatanto as noes de forma versus valor de uso, quanto de forma,versus valor de troca, indissociveis, no domnio doconhecimento do espao, do conceito operacional de produo,circulao, gesto e consumo, no meio urbano.
Por isto, afirma Genestier: "aproblemtica de seu estudoem essncia extremamente complexa, caso ela impliqueo pensar. ao mesmo tempo o abstrato e o material. ofsicoe o conceitua!, inexorave!mente intrincados" (Genestier,1988:9). Logo, a amplitude de tais conceitos no se podedistanciar da histria, nem da filosofia, como se a forma fossealgo inerte e imvel, sem rupturas conceituais e empricas como mundo real, fazendo tbula rasa - na imaginao - dasespecificidades culturais na pluridimensionalidade da vidasocial e individual.
Conceitualmente, deve-se falar no de um mundo, masde vises de mundo; no de cultura, mas de culturas; no deuma verdade absoluta, mas de verdades no sentido de relativizaros termos face evoluo do conhecimento, bem comoestimular a imaginao, como faculdade criativa do pensamentoque produz representaes ou imagens, sejam provenientes
-
da imaginao reprodutiva - a partir daquilo que sepercebe -, sejam decorrentes da imaginao criadora - semse limitar a uma funo cognitiva a partir de objetos existentes.A questo, portanto, da racional idade na prxis no eliminara imaginao no processo de anlise e projetao da cidadereal, mas evitar confundir imaginao com iluso (kantiana)ou alienao (marxiana).
No caso da iluso, a rejeio por ser a mesma resultadode um falso entendimento da realidade - tomando comoverdadeiras formas a priori da intuio, sem o domnioconsciente que estrutura o conhecimento (disponvel) darealidade. Assim, a percepo primeira, direta, deve sercomplementada por outras apreenses que alcancem nveisda estrutura profunda da forma urbana, sem se limitar estrutura superficial, reduzindo a cidade a uma paisagemou cenrio de objetos justapostos, que no interagem entre si,nem com o territrio prximo e distante. Isolando-a, comona utopia, de Plato ou T. Morus, provavelmente se chega alugar nenhum.
No caso da alienao. a rejeio advm do imperativode circunscrever a imaginao no rol das possibilidades deestmulo criatividade no uso da intuio; da ser necessrioo crivo da anlise crtica (o ratio) de modo a no se ocultar,banalizar e esterilizar a prpria viso de mundo. No se tratas da alienao observada na tcnica pela tcnica no atoprojetual, mas da alienao do ego em relao ao prpriomundo, em que o sujeito se perde na sua produo (Marx sefixou mais no trabalho) como arte de construir a cidade, que,como j se viu, um produto coletivo e no obra isolada.
Logo, a imaginao no se confunde - ou no deve seconfundir - com iluso e alienao, e suas representaes,para serem justificadas, passam pela crtica, vista como juzoapreciativo em vrios nveis: filosfico, cientfico, artstico,etc. Sua legitimao tica face realidade uma derivaodo campo racional, cujo rigor analtico crtico no devesubmergir na ideologia (Chau, 1991) como representaode certos valores, concepes e prticas sociais quereproduzem uma espcie de mundo invertido, servindo ainteresses localizados como se refletissem os interesses dasociedadecomo umtodo - fatocomum na sociedadede consumo.
Como se v, uma maior aproximao do projeto com arealidade plural e multifacetada da cidade real implicadesomogeneizar o pensamento dominante, atrelado a ideologiasque legitimam os a priori do senso comum, perpassandocrenas, preconceitos e significaes embutidas no cotidianodas pessoas - que afetam a imaginao, propiciando iluses ealienaes - mediatizadas no processo comunicativo geral(mdia, educao, poltica) visando manter a coeso social e oexerccio da dominao (Webber, 1989).
Tais questes, se vistas historicamente desde a tica deum Alberti (1966), certamente reabrem a discusso de quais
Karl Marx (1818-1883)
seriam as reais condies preliminares, na sua gnese, capazesde explicitar os modos como se organiza e realiza a vontadede construir do ser humano.
"Ora, a idia da qual decorre a exigncia de construir.a dimenso em que se enquadra a atividade do arquitero, a cidade: e esta, para um humanista como Alberti. noera apenas uma construo de pedras e tijolos, mas umaentidade histrico-poltica. " (Argan, op. cit.: 106.)
Nisto, Alberti no s se distingue de Vitruvio e seus Dezlivros de Arquitetura, como, com seu De Re Aed(ficatoria(op. cit.), institui o primeiro tratado de urbanismo, no restrito arquitetura isolada, mas abrangendo a cidade real (Choay,1985).
Se o Estado para Vitruvio resumia-se ao imprio deAugusto, para Alberti funda-se o Estado na prpria cidade.E a cidade albertiana resulta de uma reflexo sobre osignificado de Roma e Florena - a primeira como a urbemais antiga, a segunda como a mais moderna das cidadesitalianas. Nisto, sua teorizao parte do existente, do mundoreal, onde a histria um conjunto de relaes espao-temporais, em que espao no um vazio ocupado por objetosou corpos slidos, mas algo construdo, resulta de decisese atos e insere-se como um fator que modifica a natureza deforma intencional, cultural.
evidente que o mtodo albertiano sofreu mutaes etem variantes na condio moderna, na medida em que sedescolou a cidade ideal- via modelos ideais imaginados combase num espao abstrato como um a priori - daquelasregras historicamente fundadas nas relaes sociais, em que
-
a pragmtica do espao construdo se d sob a gide deuma gesto poltica, autoritria ou democrtica.
De resto, a fragmentao contempornea do pen-samento urbanstico em vertentes as mais dspares eparadoxais possvel aponta a necessidade de revisitar agnese dos conceitos, das regras e dos modelos espaciais,como forma de no se repensar o j pensado e imaginar oj imaginado, como utopia alienada, cuja nica novidade revelar, de novo, algo sem sentido ou de sentido social oupoltico duvidoso.
A noo de domnio sobre um territrio, extradade Rolnik (op. cit.) no incio deste percurso nacompreenso de cidade, possui, evidentemente, vriosdesdobramentos tericos. Entretanto, ao revisar osinstauradores do pensamentoutpico sobre a cidade, v-se que a imaginao decidade ideal parte de umcontexto temporal (poca)que, na contemporaneidade,no pode ser problematizadono mesmo sentido: social, po-ltico e mesmo fsico-espacial.
Contudo algumas questespostas por Alberti continuamatuais:
a) no descolar cidade idealdo contexto histrico dacidade real;
b) teorizar a cidade a partirde categorias metodicamenteimbricadas na estruturaurbana;
c) no privilegiar osmodelos em detrimento doprocesso de construo dacidade real, naquilo que sedefiniria hoje por regras ouprincpios;
d) politizar a gesto daurbe apoiada num slidoaparelho executivo;
e) no deslocar a concep-o imaginada da possibilidade material de concretizaro projeto.
Evidentemente, o contexto albertiano em suas determi-naes, condicionantes e representaes materializadas nopode ser transposto Iinearmente para a contemporaneidade.Hoje, a industrializao macia da produo e a globalizaoda economia tematizam o processo de urbanizao e as
relaes cidade/cidade numa escala jamais conhecida,sendo provvel a necessidade de se redefinirem conceitose se ampliar metodologicamente o escopo inicial.
A cidade capitalista contempornea possui traos eregulaes prprias que a distinguem da cidade renascentista.A renda fundiria, a especulao imobiliria, a segregaoespacial, a interveno do Estado, a luta pela ocupao doespao, a influncia dos meios de comunicao na formaode opinio e disseminao de ideologias, os avanostecnolgicos em geral - transportes, infra-estruturas,comunicaes - a massificao da(s) cultura(s), adiversificao das manifestaes localizadas regionais, asnovas regulaes entre capital e trabalho resultam de umprocesso muito mais complexo e heterogneo que o contexto
antes aludido. A quantidadee diversidade de coisas(objetos) produzidas alte-ram significativamente osprprios limites da ima-ginao, na medida em queos avanos tecnolgicossuscitam crescentementepossibilidades antes indis-ponveis para um repensaro meio urbano.
Por outro lado, a grandecidade "passa a ter umacaracterstica que era atento peculiar aos portos- a de se constituir sobre-tudo por uma populaoestrangeira, quando muitode passagem" (Rolnik, op.cito:79) que, complementadapela mobilidade interna dosmoradores. desterritorializa,em parte, o antigo sentidogre-grio do morador vinculadoa um lcus. Isto nodescarta a persistncia debairros tradicionais, commenor rotatividade doshabitantes, situao domi-nada por uma realidade
muito mais dinmica e complexa.Uma cidade ideal, na contemporaneidade, teria de agregar
questes outras, cujo desgnios so diversidade, pluralidade eincertezas, como desdobramentos advindos da cidade real quepossui uma estrutura material esgarada, num domnio territorialmultifacetado, onde a arquitetura do espetculo reflete aquiloque Baudrillard (1968) denomina de simulao e simulacro,
-
e o sentido da conduta social webberiana se dilui na aoreativa do eremero.
Mas a cidade real ainda meio privilegiado de circulaoe consumo, que, ao lado da informatizao das comunicaes,vai superar as antigas noes de espao-tempo, cujacompreenso sugere novas relaes de distncia,enfraquecendo a percepo direta do espao-forma comoparadigma da imaginao criadora, afetando nossa ateno esensibilidade, agora desestabilizadas pela compresso doespao-tempo (Harvey, 1993), sugerindo o ilusrio como oreal, banalizando as formas dos objetos e seus contedos.
A disperso no territrio dominado no mais aconteceapenas pela expanso ilimitada da cidade real, mas pelainformatizao dos processos comunicativos, cujos bancosde dados podem estar em qualquer lugar - na cidade ou nocampo - rompendo a lgica tradicional das teorias locacionaisassentadas na produo e no consumo. A acelerao dos meiosde circulao de bens e pessoas no encontra correspondncianos padres ainda vigentes de gesto, atrasados e arcaicos.
Claro, tudo isto exacerba a heterogeneidade e osparadoxos, particularmente visveis sob a forma de guetos,organizados ou no, em lcus tipo favelas, cortios, invases,conjuntos habitacionais, etc. Esta situao em muito seaproxima daquela que Rouanet (1993) qualifica como de riscode um retorno barbrie, caso as questes no sejamproblematizadas na busca de se dar sentido social substantivos coisas.
bvio, ento, que definir se a essncia do urbanismo arte ou cincia j no faz sentido, nem interessa pelo
esquematismo cultural embutido na questo. Contudo ainda uma disciplina assentada naqueles componentes vistos porArgan (op. cit.) como: a) componente cientfico, na anliserigorosa sobre a realidade; b) componente sociolgico, ligados estruturas sociais e seus desenvolvimentos; c) componentepoltico, porque influi sobre estes desenvolvimentos; d)componente histrico, considerando os processos materiaisnuma dimenso temporal; e) componente esttico, vinculadodeterminao das estruturas formais. Da inter-relao entretais componentes o que se espera uma resultante, cujarepresentao sinttica (filosfica) desvele uma situaosocial de fato, da qual se possa extrair o sentido do projetode mudana, inclusive nos limites a que fatalmente estarsubmetido no mundo real.
Isto posto, retoma-se uma questo fundamental jcolocada por Argan (op. cit.): seria possvel um projeto urbanosem orientao ideolgica? Ou seja, um projeto sem finalidadeou sentido outro que no se reduza realizao do efmero?
Outra questo derivada da anterior seria: com a crise dasideologias hegemnicas oriundas do sculo XIX - desdobra-das daquelas vises de mundo centradas no capitalismo eno socialismo -, qual seria o vis da contemporaneidade najustificao do sentido social do espao-forma da cidadeatual?
E, finalmente, da descrena nas vanguardas como mitosde vertentes culturais de validade universal, pergunta-se: queteorias sobre cidade e urbanismo seriam capazes dedesestabilizar as prticas, ainda assentadas num referencialde desenvolvimento humano que no se concretizou, bem como
-
enfraquecer as manifestaes formalistas cooptadas pelaeconomia de consumo?
Tais questes no esto aqui resolvidas e carecem dedesdobramentos, servindo apenas de mote ou pretexto para- guisa de concluso - se polemizar: o mercado no tem sidocanal adequado de intermediao entre a imaginao criadora,comprometida com o sentido social da cidade (ideal ou real),e a transformao dos indivduos e seu habitat. E o Estado, oque fazer dele? Eisoutdquesto, toantigacomoacdade ideal.
Talvez, aqui, o mais indicado seja voltar ao dilogo deMarco Polo com Kublai Khan, citado no incio do texto,quando, referindo-se a uma segunda opo - como recusa aaceitar o inferno tornando-se parte dele -, diz: saberreconhecer quem e o que, no meio do inferno, no inferno,e preserv-Io, e abrir espao, Dito de outro modo, tornar oinvisvel em algo visvel, material, palpvel, desvelando-o etransformando-o.
ALBERTI. L. B. L '/lrchitectura (De Re Aedificatoria). Milo: 1\Pafililo,1966.
ARGAN. G. C. A Histria da Arte como Histria da Cidade. So Paulo:Martins Fontes, 1993.
BAUDRILLARD, Jean. Le Systme Des Objets. Paris: Gallimard.1968.
BERTALANFFI, L. von. Teoria Geral dos Sistemas. Rio de Janeiro: Vozes,1970.
CAL VINO.\. As Cidades Invisveis. So Paulo: Ed. Schwarcz Ltda., 1993.CHAUL M. O que Ideologia. So Paulo: Brasilicnse. 1991.CI-\OAY, F. Elurbanismo: utopias y realidad. Barcelona: Ed. Lumen, 1965.
___ o A regra e o modelo. So Paulo: Perspectiva. 1985.COELHO, T. Oque utopia. So Paulo: Brasiliense, 1980.FEYERABEND. P. K. Contra el mtodo. Barcelona: Ed. Ariel, 1974.FOUCAUL T. M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das cincias
humanas. So Paulo: Ed. Martins Fontes. 1981.GENESTIER. P. Forme urbaine' ... Formes urbaines'} In Revue de
Geographie Urbaine Comparative: Vil/es en Paral/ele. Univ. ParisX, n. 12-13. 1988.
HARVEY, D. A Condio Ps-Moderna. So Paulo: Ed. Loyola, 1993.JAPIASSIJ. H. e MARCONDES, D. Dicionrio bsico defilosofia. Rio
de Janeiro: Zahar Ed .. 1991.MARX & ENGELS. Obras escolhidas. Rio de Janeiro: Editorial Vitoria
Ltda., 1961. 3 v.ROLNIK, R.O que cidade. So Paulo: Brasiliense. 1988.RONCA YOLO, M. La morphologie. entre Ia matire et le social. In Revuc
de Geographie Urbaine Comparative: Vil/es en Parol/ele. Univ. ParisX, n. 12-13. 1988.
ROUANET. P. S. Mal-Estar na Modernidade. So Paulo: Cia. das Letras,1993.
WEBBER. M. Conceitos bsicos de sociologia. So Paulo: Ed. Moraes.1989.
VITRUVIO. M. L. Los Diez Libros de /lrquitecttiro. Barcelona: Ed. Iberia.1955.
ZEVI. B. Saber Ver La /lrquitectura. Buenos Aires: Eu. Poseiuon. 1963.