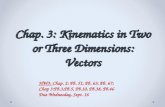3096-7244-1-PB
-
Upload
manoelnascimento -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of 3096-7244-1-PB
-
A PlU\NCBETA, O CANTEIRO E A
DURABILIDADE 00 CONSTRut001
"Ac.lLedi:tei~elL nec.e~~.lLio :tlta:taltde ~ua valtiedade (do~ ma:teltiaMJ,de ~ua~ dinelLen:te~ plLopltiedade~e do~ divelt~o~ u~o~ que dele~ ~epodem nazelL na c.on~:tlLuo do~edinXc.io~, palta que quando e~~a~pltoplLiedade~ ~ejam c.onhec.ida~pelo~ que queltem ediic.alL noc.ome:tamelLlLo~ e po~~am plLovelt-~edo~ ma:teltiai~ ap:to~ e aplLopltia-do~ palta ~ua~ c.on6:tlLu~e~."
M. VitruvioLivro 11 Cap.II
RESUMOOenvelheciJoento precoce da arquitetu-ra roodema cEve-se, basicanente, aocEScx:nhec:imentoda cincia ete01olo-gia dos materiais cE CXJI'lStruo, acmnao superficial dos aIqUitetos eengenheiros na mti.versiIacE de massa,ciso projeto-obra e insignificnciados investimentos empesquisa no nossopais. Esttrlos mais :reoontes sd::>:reCCIl-servao/:restaurao tm oonduzido auna maior preocupao sobre os proble-mas da durabilidade dos materiais decx:nstruo, cE maneira geral, rep:re-sentanb una im:msa ccntribuio paraaurentar a longeviIacEdo nr::x:Emocx:nstruIdo. Ap:resentam-se alguns fen-menos cE d9gradao muito estudados nacx:nservao/:restaurao, qtE podemle-var-nos a una :reflexao mais aprofunda-da do uso cE materiais no roc:m:mto dacEciso cE utiliz-los judicios.:mmte,quer no projeto, qtEr na obra.
* Arquiteto, Professor da Faculdade de Arquiteturada UFBa eCoordenador do Ncleo de Tecnologia daPreservao e da Restaurao - Nl'PR(FAUBa/SPHAN)
RUA,Salvador,v.2,n.3,p.II~-131,1989
-
Se nos permitido fosse delinear um quadro do exer-cicio profissional da arquitetura no Brasil, porcerto destacaramos que, embora nos caibam muitoslouvores e o reconhecimento da comunidade interna-cional, frutos da criatividade dos que tiveram oprivilgio de nascer nesta terra mestia, a nossaformao ainda continua padecendo do que podera-mos designar como "sndrome do Padre Eterno". Umdos sintomas a falsa sensao de podermos exer-cer a criao de maneira onipotente, sem barreirasou limites, no importando os materiais dos quaislanamos mo, a tecnologia do seu emprego e asleis fsicas que regem as estruturas. Esta atitu-de, a rigor, uma superao da prpria onipotn-cia do "Arquiteto do Universo", que soube pela in-finita sabedoria respeitar, na sua criao, asleis fsicas e csmicas, que regem todas as coi-sas, do tomo s galxias.
No necessrio ser arguto observador para poderverificar o envelhecimento anmalo da nossa arqui-teturamoderna,em um arco de tempo relativamentecurto, condies de efemeridade que so um desser-vio sociedade, fadada a pagar o nus do despre-paro dos criadores do fabricado, que em certos ca-sos tangenciam os limites da leviandade. Dentro damesma linha de discurso, nem seria necessrio des-tacar os prejuzos de ordem esttica ao acervoconstruido e os arranhes que sofre a tica pro-fissional: No est na nossa cogitao aprofundar-mos reflexes sobre o momento histrico da nossacultura no qual aconteceu o que podertamos denomi-nar de "grande cisma" entre o projeto e o cantei-ro, entre a arte da arquitetura e a tecnologia dasRUA,Salvador,v.2,n.3,p.117-l3l,1989
-
Tal argumento j toi objeto das nossas ponderaesem outras oportunidades2 As nossas meditaesbuscam entender o fato de nao termos assumido naprojetao da arquitetura, embora j tenhamos pal-milhado dois seculos de Revoluo Industrial, aconscincia da necessidade da preparao tecnol6-gica dos seus operadores - os arquitetos ~ aas-tando o estigma que marca estes conhecimentos nasua formao.
Para infcio da argumentao, e necessrio subli~nhar que o ato da criao da arquitetura nao e umprocesso puramente poetico e intuitivo, com pince-ladas da experincia visiva das coisas que noscercam e dos nossos condicionamentos sociais. Acriao responsvel, especialmente no caso da ar-quitetura, que entre todas as expresses da artee a mais submissa s condies materiais, deve~sefundamentar em pressupostos tecnolgicos a seremusados consciente e subconscientemente, produtode boa formao mental dos profissionais. Cabelembrar aqui uma afirmativa de Perret nas suascontribuies teoria da arquitetura: "Tlc.n-i.c.a.,pe~ma.nente homena.gem 6e-i.ta. a na.tu~eza., a.t-i.mentoe.6.6enc.-i.a.t da. -i.ma.g-i.na..iio,tonte autnt-i.c.a. de -i.l1.6p-i.-~a..o, p~ec.e, de toda..6 a. ma.-i..6et-i.c.a.z, tZngua. 'ma.-te~' de todo c.~-i.a.do~. Tc.n-i.c.a.ta.ta.da.po~ poeta. no.6c.onduz a a.~qu-i.tetu~a.,,3.
o ato de projetar, pois, implica uma conjugao devetores criativos e tecnicos, inseparveis, cujadicotomia trar certamente resultados indesej~s.RUA,Salvador,v.2,n.3,p.ll7~l3l;l989
-
Dentro da mesma linha de associao no se poderjamais prescindir, no processo da atividade cien-tlfica e tecnolgica, da criatividade e da intui~o.
Seria bom tamb~m que ficasse bem-lara a fronteiraentre a sems'ntica dos termos tecnolo
-
rais, que tm a ver com a qualidade e a durabili-dade dos edit!cios entre ns:
a) Formao superficial dos arquitetos (e tambmde engenheiros) sobre as reais qualidades e defei-tos dos materiais e seu judicioso emprego na cons-truo.
b) Divrcio do exerccio profissional da arquite-tura da intimidade com os canteiros de obras.
c) Aplicao pouco criteriosa de novos materiaissem os testes adequados e sem o conhecimento decomo estes se comportam diante do Uso e qual a suaprovvel longevidade.
d) Pouco incentivo e pouca disposio para a pes-quisa aplicada, para melhor conhecimento das ca-ractersticas dos diversos materiais.
e) Falta de boas normas de qualidade para corretaespecificao nos projetos e a no-observao dasexistentes.
Temos vislwnbrado o encaminhamento parcial do pro-blema na formao projetual dos arquitetos no cam-po especIfico da conservao/restaurao. O conta-to prolongado e dirio com os problemas do compor-tamento, ao longo do tempo, dos materiais e dasestruturas, suas mazelas e agentes agressivos aserem considerados so, de certa forma, fatoresativadores intelectuais da necessidade de conhecerbem melhor a cincia e a tecnologia desenvolvidasna construo. Esta atividade, cujo exerccio togratificante, pelo dilogo que nos possvel es-tabelecer com a criao dos nossos antigos, exer-RUA,Salvador,v.2,n.3,p.117-l3l,1989
-
cita a difcil arte de recriar sobre estruturasexistentes, permitindo patentear a incapacidade deprojetarmos sem apoio de uma metodologia cientfi-ca e de conhecimentos tecnol6gicos,que nos propi-ciem a ori"entao correta dos nossos projetos deinterveno, tanto a n!vel de edifcio isolado,quanto a nvel de centro histrico. Neste caso, aspropostas representadas nas duas dimenses de umdesenho ou mesmo nas trs dimensoes reduzidas deuma maquete no ultrapassam muito mais do que ametade das decises finais executadas. Em resumo,a projeo tem inIcio na prancheta e continua natecnologia do canteiro com sucessivas adequaoesdas hipteses iniciais.
o projeto de um edif!cio novo, sem as restrioesimpostas por um antigo organismo arquitetnicoconstrudo, que merece ser respeitado total ouparcialmente, permite um maior nmero de decisesde prancheta, mas s mesmo quem nunca tentou exe-cutar o que projetou ou o que outros projetarampode ter a veleidade de pensar que os seus "tra-os" sao integralmente aproveitados na obra: Nestafalta de dilogo entre prancheta e canteiro, oproblema que se nos afigura de maior gravidade odesconhecimento dos materiais, suas reais possibi-lidades, defeitos, virtudes, como tirar deles amelhor pe~a~man~e dentro das condioes ecolgi-cas incidentes ou como detend-los da agressivida-de do meio ambiente. Achamos que no existem duvi-das de que a responsabilidade inalienvel de defi-nir com clareza os materiais no projeto e na obra, decididamente, do arquiteto, de maneira espe-cial os materiais que fazem parte do acabamento doRUA,Salvador,v.2,n.3,p,ll7-l31,l989
-
Lamentavelmente, entre n6s pouco ou quase nada temsido feito para remediar o inconveniente. Mesmo naEuropa, onde a legislao e o cumprimento de nor-mas so muito mais severos, a intensificao dosestudos aprofundados dos materiais no ~ de grandeantiguidade. Ultimamente a RILEM (R~union Interna-tionale des Laboratoires d'Essais et de Eecherchesur les Mat~riaux et les Construction),incentivadapelos seus associados, especialmente pelos que sededicam defesa dos bens culturais, tem promovidointensamente as pesquisas de longevidade dos mate-riais de construo e a eficgcia dos tratamentosque possam aumentar a sua durabilidade,
Destacamos, mais uma vez, a contribuio dos espe-cialistas da conservao/restaurao, cuja inquie-tude e, no poucas vezes, perplexidade diante dosfenmenos da degradao dos edifcios os tem lan-ado indagao cientfica ou busca, nas cin-cias das diversas reas do conhecimento, dasrespostas aos problemas imensos que esto em suasmos. Falar de longevidade dos materiais falarda longevidade da arquitetura. Para no ficarmosem um discurso de constatao de problemas e la-mentaes, vamos tentar abrir uma pequena janelapara sistematizar o conhecimento dos estudos queconsideramos serem fundamentais para o exerccioda projetao responsvel,
Auguramos que as nossas preocupaes, que sabemosserem comparticipadas por grande nmero de cole-RUA,Salvador,v.2,n.3,p.117-131,1989
-
gas, consigam produzir a devida motivao para abusca do preenchimento desta lacuna de formao nodomnio didtico das escolas e da formao pessoalque nos cabe aprimorar dia a dia.
Os materiais porosos da construo dos edifciosso, ~ mister que se conhea, os mais sujeitos aosfenmenos da degradao. Temos encontrado, amiGde,problemas de uso equivocado dos mesmos, nas moder-nas construes, coisa que pouco aconteceria se oarquiteto detivesse um conhecimento razovel dassuas reais qualidades e possibilidades, da maneirae do local corretos de proteg-Ios ao aplic-Ios.Isto se refere, dentre outras coisas, ao uso doconcreto aparente, argamassa de acabamento, mate~riais cermicos de revestimento de muros e pisos,pedras de revestimento, etc., etc. guisa deilustrao, exemplificaramos que, entre os mate-riais lticos, poucos sabem que os granitides base de sodalita - pedras belssimas, raras e dealto custo - so muito duros e, conseqentemente,resistentes ao desgaste, mas muito sujeitos aoataque qumico, o que tem provocado enormes dissa-bores para arquitetos e clientes, quando usadosinadequadamente.
Entre os fenmenos de degradao a serem conside-rados no julgamento das caractersticas de um ma-terial, antes da deciso projetual de utiliz-Ios,particularmente para os materiais porosos, seriabom apontar:
a) Tenses superficiais de cristalizao provoca-das pelo aumento de volume dos sais, que se cris-RUA,Salvador,v.2,n.3,p.117~131,1989
-
talizam nos poros superficiais, criando o fenmenoda eflorescncia ou, nos nfveis imediatamente ~-xo da superfcie, provocando subeflorescncia. Es-tes sais, que migram atrav~s da porosidade da pe-dra sob forma de soluo salina, tm fontes dealimentao as mais variadas. Tal fenmeno res-ponsvel pela "lepra" ou escamaao at mesmo demateriais de grande resistncia como os granitos.
b) Outros materiais existem que, por defeitos con-'gp.itosde fabricao ou por constituiao qumicae/ou mineralgica, apresentam componentes solveisou passveis de lixiviao, produtores de degrada-o, direta ou indiretamente. Variantes deste pro-blema podem ser encontradas nos materiais com com-ponentes argilosos, no transformados, que podemno somente ser corrodos pela gua, como tambmapresentar fenmenos de expanso e retrao na es-trutura, com danos sua integridade.
c) O gelo/degelo um fenmeno semelhante ao fen-meno da cristalizao salina, no que tange aosseus efeitos. As causas, porm, so diversas e es-to nas fortes quedas de temperatura fazendo agua congelar nos poros do material provocando o~t~e~~ interno. Nas condies brasileiras de climatal fenmeno de importncia secundarssima, es-pecialmente para ns que habitamos na Bahia: Mere-cem, por~m, alguma considerao para os profissio-nais que atuam nos estados do Sul, nos locais ondea temperatura costuma alcanar nveis abaixode oOe.
d) O ataque 'biolgico pode ser dividido emRUA, Salvador ,v.2 ,n.3,p.117-,131,1989
-
grandes ramos, a depender dos agentes causadores.Um destes ramos ocupado pelos seres vivos (plan-tas ou microorganismos), cuja boa observao nose pode fazer vista desarmada, mas sim com a mi-croscopia.' outro rene as plantas superiores,cu-ja proliferao tem ao destrutiva atravs docrescimento de ra!zes e caules, a provocar tensoesapreciveis nos materiais, quando se infiltram nosmacroporos, fissuras e juntas. As gameleiras, en-tre ns, malgrado seus atributos mrsti~co-religio-sos, esto entre as espcies mais destrutivas.
Os fenmenos mais complexos de entendimento resi-dem na primeira das categorias referidas, cujosagentes so os fungos, algas, lquens (simbiose defungos e algas) e bactrias. dano principal,almdos danos de ordem esttica da mudana de cor eescurecimento das superfcies, vem dos agentesagressivos originrios do seu metabolismo. Exem-plificamos: os tiobacilos so capazes de produ-zir H2S04 (cido sulfrico), que decompe os car-bonatos. As bactrias do ciclo do nitrognio saocapazes de produzir HN03 (cido ntrico), que podedecompor, tambm, diversos elementos dos materiaisde construo. Fungos, lquens e algas podem criaro cido oxlico, igualmente agressivo.
Deve-se juntar aos inconvenientes de ordem de des-gaste do material o aspecto desolador dos edif-cios, espec'ialmente nos concretos aparentes, cujalimpeza e tratamentos no so tarefas das mais f-ceis.
e) A variao de temperatura, com conseqente di-RUA,Salvador,v.2,n.3,p.117-131,1989
-
127latao e retrao dos materiais, deve ser consi-derada sob dois aspectos: Os fatores acidentaisprovocados por sinistros de fogo, cuja e.xtino agua provoca violentas retraes diferenciadas (sefossem uniformes o problema seria muito menor) ,comfortes roturas cujo controle nos foge, a no serno cuidado necessrio segurana do edifcio du-rante o projeto. O outro fator a dilatao natu-ral, que podem sofrer os materiais sob a ao docalor solar, capaz de produzir efeitos evidente-mente mais limitados do que um incndio. Neste ca-~o pode haver, inclusive, o arrancamento de revesti-mentos e rotura das peas por falta de juntas deexpansao no assentamento ou fixao inadequada.
O conhecimento destas tenses fundamental paraque se recomendem cuidados especiais no assen~a~mento e dimensionamento das unidades de revesti-mento.
f) O ~t~e~~ mecnico oriundo das condies de tra-balho de um material pode ser agente de seu enve-lhecimento prematuro e da sua falncia. Sem quererapelar para os temas hermticos do ~t~e6~ c.oJrJto~-i.ondas armaduras de concreto, de responsabilidade daengenharia estrutural, nem mesmo para a velha leide Hook, que explicaria cientificamente o fenmeno,queremos nos ater ao simples fato de que os mate-riais, sob ao excessiva de cargas, apresentaminicialmente microfissuras, que se transformam de-pois em macrofissuras, degradando-os e facilitandooutras formas de degradao. A ao violenta detrabalho ou manuseio deles ao serem extrados,cor-tados, fabricados, aplicados ou mesmo transporta-RUA,Salvador,v.2,n.3,p.117-131,1989
-
dos causadora de problemas de durabilidade. esobejamente conhecida a fragilidade dos mrmoresextrados das jazidas com explosivos ou trabalha-dos com instrumentos inadequados.
g) momentoso problema da ecologia faz do estudoda degradao qumica por agentes poluentes um dostemas fundamentais e complexos nos estudos sobre avida das construes. Ao ataque natural propiciadopela dissoluo das guas de chuva e o H2C03 (ci-do carbnico), que sempre existiu na natureza, masde efeito muit!ssimo lento, a nossa sociedade in-dustrial adicionou a ao de uma s~rie de poluen-tes, entre os quais destacamos o anidrido sulfuro-so (52), que se origina principalmente da combus-to de hidrocarbonetos. Dela se forma o H2S04(ci-do sulf6rico), capaz de provocar severos danos emtudo que possa sofrer ataque cido.
Dentro dos problemas ecolgicos esto as vibra-es, que so fatores a serem considerados na du-rabilidade e conservao dos edifcios de maneirageral.
h) vandalismo, filho direto da incivilidade,que,diga-se de passagem, 'no privilgiO do TerceiroMundo, merece figurar no elenco das nossas consi-deraes. Materiais resistentes onde houver pos-sibilidade de uso abusivo, polido onde incide asUJe1ra ou haja possibilidade de pichao, acaba-mento agressivo que possa permitir limpeza violen-ta atravs de jateamento, tratamento com vernizesreversveis, etc. so alguns cuidados que pesam nadefinio da projetao.RUA,Salvador,v.2,n.3,p.l17-l3l,l989
-
Eis que relacionamos, superficialmente, alguns ~blemas cujo aprofundarnento deve ser afrontado porquem pretende projetar a arquitetura. A relao,porm, no p!ra por a, entrando pela oxidao ecorroso dos metais, alteraes de cor pela aodas radiaes I.V. e U.V., oxidao com mudana decor e tom, decomposio de pol!rneros, inrcia tr-mica dos materiais e tantos outros temas.
Mesmo sem nos aprofundarmos nos estudos das equa-es de foras da capilaridade, nem cogitarmos das"pontes de hidrognio", que propiciam a atraodos lquidos sobre as superfcies, muito fAcilreconhecer que poucos fenmenos de degradao naodependem direta ou indiretamente da gua. Saber,assim, administrar ou evitar os seus efeitos atra-vs da correta proposta de impermeabilizao, detratamentos hidrorrepelentes e principalmente ~ris dos elementos de arquitetura a serem criadosno projeto, fazendo parte da concepo geral daforma, responsabilidade inalienvel do arquiteto.Os antigos sabiam muito bem disto, e eloqentesexemplos so encontrados ao longo de toda a hist-ria da arquitetura. Egpcios, mesopotmicos, japo-neses, romanos, todos eles, e tarnb~m os nossos an-tigos colonizadores brindaram-nos com um repert-rio vasto de solues inteligentes e de grande va-lor esttico. ~ tambm do passado que nos vem oinequvoco apelo ~ necessidade de adquirirmos maisintimidade com os materiais da arquitetura. O maisvelho tratado de arquitetura que nos chegou cer-tamente o de Vitruvio Polio, cujo conteOdo umtestemunho preciso da formao profissional dosRUA,Salvador,v.2,n.3,p.117-131,1989
-
antigos. Se dedica o livro primeiro aos prembulose ao conceito de arquitetura e de formao do ar-quiteto, que, diga-se de passagem, era coisa muitoserl.a, no livro segundo discorre com grande compe-tncia sobre os materiais clssicos da epoca: pe-dras, adobes, tijolos, cal, puzzQlana, madeira eassim por diante. No sem motivo que, somente nolivro terceiro, trata dos problemas de deh~gn comocomposl.ao e medida dos templos e problemas corre-latos, que so referidos nos livros subseqentes.
Se hoje os conhecimentos cientficos e tecnolgi-cos so bem maiores, como tambm maiores so asagresses sobre o construdo, no h como aceitaro nosso afastamento das responsabilidades de assu-mirmos com competncia, atravs do projeto conse-qente, os problemas da longevidade da construo.
NOTAS1. Palestra proferida como convidado do 111 Encon-
tro Nacional de Ensino de Projeto, promovidopela FAUFRGS em setembro de 1987.
2. Cf. Olive~ra, Alguns momentos da atividade 3. Perret,p.47.
AMOROSO, G.G., FASSINA, Vasco. Stone decay andconservation. Amsterdam: Elsevier, 1983.
LAZZARINI; Lorenzo. La pulitura dei materiali la-pidei da costruzione escultura, Padova: CEDAM,1981.
-
Padova: CEDAM, 1986.OLIVEIRA, MArio Mendona de. Alguns momentos da
atividade projetual do arquiteto na cultura domundo ocidental. In: II Encontro Nacional sobreEnsino do Projeto Arquitet8nico, 1986, PortoAlegre. Anais. Porto Alegre: FAUFRGS, 1986. v.l.
____ .Roteiros de aulas. Salvador, 1984. Mes.-trado em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBa.
PERRET, Auguste. Contributo a una teoria dell'ar-chitettura. In: ROGERS, Ernesto N. ArchitettideI movimento moderno - Auguste Perret. Milano:Il Balcone, 1955.
TORRACA, Giorgio. Porous buildin2 mate~ials. Roma:ICCROM, 1982.